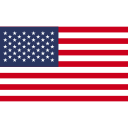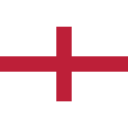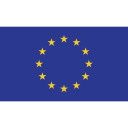A melhor experiência em leilões
Jandyra Waters
Jandyra Ramos Waters (Sertãozinho, SP, 1921), conhecida como Jandyra Waters, é uma pintora, escultora, gravadora e poeta brasileira.
Biografia
1945 - Europa - Viaja como membro da equipe brasileira destinada a colaborar junto a uma organização internacional de auxílio às vítimas da Segunda Guerra Mundial e reside na Inglaterra até 1950.
1947 - Estuda pintura no County Council Art School, Sussex, Inglaterra.
1950 - Estuda pintura com Yoshiya Takaoka (1909 - 1978), escultura e cerâmica com André Osze em São Paulo, SP.
1952 - Estuda gravura, com Darel (1924-2017) e Marcelo Grassmann (1925-2013), e pintura mural, com Clóvis Graciano (1907 - 1988), na Faap, São Paulo, SP.
1952 - Estuda história da arte com Walter Zanini na Universidade de São Paulo - USP, São Paulo, SP.
Acervos públicos e privados de destaque:
Museu de Arte Contemporânea da USP, São Paulo, SP;
Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado, SP;
Museu de Arte Moderna de São Paulo, SP;
Museu de Arte do Parlamento de São Paulo, SP;
Museu de Arte Moderna de Campinas, SP;
Museu de Arte Contemporânea de Skopje, Macedônia.
---
Jandyra Waters: processos e caminhos – Por Marcos Moraes
Uma tentativa de aproximação ao universo de cores e formas que atravessa a produção de Jandyra Waters é, antes de tudo, um desafio e uma provocação ao olhar, tanto quanto ao raciocínio que pode, inutilmente, procurar encontrar uma possível fórmula que facilite a compreensão, imediata, e rápida, de uma complexidade de relações que vão, pouco a pouco, se desvelando, enquanto revelam camadas distintas de sensibilidade, que as pinturas propõem.
Ainda que não tenha sido pensada com a simples e mera intenção, ou o propósito de comemoração, estabelecemos, de imediato, uma relação entre o ano de 1948 em que Jandyra Waters inicia seu percurso de pintora, e consequentemente de artista, e a exposição organizada hoje, passados setenta anos de sua primeira natureza morta pintada em Lewes, Sussex, na Inglaterra. Ela havia se transferido para lá, com o marido, após suas atividades no corpo de voluntários que atuou na ajuda humanitária, a partir do final da segunda guerra mundial.
Dessa perspectiva também é quase impossível se furtar a mencionar, ainda que como rápidos flagrantes, fatos que atravessam esse caminho percorrido por ela, ao longo desses anos. Dentre eles, o retorno ao Brasil e fixar-se em São Paulo, a primeira exposição em 1957, assim como a participação na Bienal de São Paulo, exatamente dez anos depois, marcam um percurso que, rapidamente, se articula com as experiências em torno da abstração, desenvolvidas na moderna São Paulo – que não pode parar – daquela década.
Encontrar a artista e ouvi-la retomar suas memórias do contato com o meio artístico, as dificuldades de articular-se aos grupos e propostas vigentes, nos apontam outra circunstância relevante para sua produção, assim como para sua inserção histórica. Visível, em distintos momentos e circunstâncias, nos trabalhos, um sentimento de solidão, por vezes inerente, por vezes necessário e por vezes decorrente, se faz presente.
Partindo de uma já tradicional imagem como a da natureza morta o percurso ao longo dos anos 1950 a leva, já no início da década seguinte, a expressar-se com uma gestualidade mais livre, a aparente criação de uma caligrafia expressa por signos incompreensíveis, e de uma espécie de musicalidade e movimentos corporal presentes em cada um dos segmentos que compõem a pintura sem título com a qual se inicia a exposição e os possíveis caminhos nos quais podemos nos lançar ao tentar trilhar os passos da artista, em suas explorações místicas.
A partir do contato direto com a presença das, naquele momento, recentes investigações artísticas de orientação abstrata Jandyra Waters envereda por experimentações nas quais amplia e aprofunda alguns dos interesses que a levarão cada vez mais a abandonar a realidade visível como ponto de partida. Cores, formas, matéria tornam-se a substância dessa visão de mundo que, livremente, desvencilhando-se das noções de representatividade possibilitam à artista expressar suas percepções e sensações, ainda inicialmente de forma menos rigorosa para, pouco a pouco, encontrar, na organização dos planos e do espaço, na superfície da tela um sentido para sua produção que jamais será abandonado, mesmo que essa opção lhe permita explorar outros caminhos ao longo dos anos.
Nesse sentido a experiência com a abstração gestual, lírica, informal tão presente naquele momento e visível na produção de artistas daquela geração – Maria Polo, Sheila Brannigan, Yolanda Mohalyi, Wega Nery entre outras – constituem-se na partida para um processo de organização e construção que se tornou um caminho para tantos artistas do período, mas a definição de uma trajetória para Jandyra Waters.
Para a artista essa passa a ser a possibilidade de busca de harmonia e equilíbrio pela articulação da sensibilidade e de uma ordem que ela experimenta, previamente, e que lhe permite propor um entendimento para a pintura que abarca a liberdade de expressão. Nas pinturas do período – década de 1960 – partindo do informalismo e procurando meios de organizar os planos de cor, inserindo linhas, construindo formas que se articulam nesse espaço, ela mantém a autonomia e energia, transformada em vitalidade lúdica que nos permite adentrar nesse desafio criado por uma dúvida que ela deixa visível e está latente, nesse embate entre a emoção e o controle pela razão.
A cor e sua potencialidade, o fascínio que despertam, seus possíveis mistérios a que o observador é levado, permanentemente, a tentar decifrar se apresentam como mais um novo e possível caminho a ser vivido em sua potencialidade. Ainda não se trata de uma síntese, ao contrário, de um provocador caos em que, por vezes, formas que aludem à organicidade de um mundo, parecem querer emergir e aflorar. Essa possível “abstração orgânica” se transforma em condição de confirmar, ainda mais, a busca por liberdade que pretende afirmar-se pela organização, mas que teve, ainda pela frente, alguns entraves e necessidades antes de afirmar-se como uma verdadeira religião para a artista.
Em seu processo de enfrentamento do mundo – e a pintura se torna ao mesmo tempo o meio, instrumento, forma e condição para isso – Jandyra Waters atravessa a experiência de viver a participação na Bienal de São Paulo, em 1967, ao que se segue, em paralelo, e de imediato, sua produção de pintura em preto e branco. As formas orgânicas, aparentemente livres e expressivas, porém aprisionadas e buscando libertar-se do emaranhado na qual parecem se enredar, revelam o abandono momentâneo do, então lúdico, contraste de cores e formas livres que ela explorava até então.
Em uma possibilidade de compreensão da transição da fase de interesses da insinuada abstração orgânica para uma racionalização dos planos de cor, as superfícies geometrizam-se parecendo querer resistir ao encapsulamento a que ela pretende encaminhá-las. Nas pinturas em que se pode identificar uma retomada de sua inicial e familiar referência da natureza, ainda que por vezes, ao longo de sua produção, elas parecem, por vezes, querer irromper, o que vemos é a afirmação desse conjunto de linhas e planos cromáticos que se insurgem, mesmo, com esse possível aprisionamento na superfície da pintura.
Estruturam-se, então, composições que emergem na tela e se insinuam, ainda que suavemente, como resquício de uma possível paisagem interior. Mais uma vez, o jogo a que a artista se entrega e do qual nos propõe participar envolve uma busca do essencial por intermédio da simplificação das formas e da sobreposição de manchas de cor, organizadas e dispostas a nos fazer tentar penetrar em suas sobreposições para, assim, buscar vencer uma espécie de ambiguidade figura-fundo que cria um enredamento ao olhar do observador.
Há, ainda, uma insolúvel contraposição entre formas racionais e orgânicas, orquestradas por meio das cores e que criam ritmos, por vezes parecendo ser dóceis, mas na maior parte delas propondo uma dinâmica e quase explosiva dança. Uma quase convulsiva disputa por sobrepor-se e sobressaltar-se que leva todo esse conjunto de elementos a querer expandir-se para além dos limites da tela.
A aparente controlada convulsão vem à tona imprimindo um ritmo frenético e, por que não, infantil em sua pureza, ingenuidade, vitalidade e energia. Tudo aqui nos leva a ver como que a convergência para uma explosiva expansão que se apresenta como capaz de superar qualquer possível controle da racionalidade.
A exploração das massas e volumes de cor, como um fio condutor em sua produção a partir de finais da década de 1960, no entanto, não se constitui em um empecilho intransponível para outras experiências, retomadas, abandonos momentâneos, desvios e retornos. E, em seus caminhos, Jandyra Waters revisitará seus temas, seus tons e cores, assim como seus desejos de busca por essencialidade e harmonia.
Inicia-se nesse momento um processo que pode ser entendido como de busca e afirmação da simplificação e geometrização. Ele se estende e domina a produção, mesmo que sem absoluto rigor formal, e a se mostrar como mais um indício e afirmação do processo experimental e de transição pelo qual a artista envereda, em sua caminhada que se mostra interminável e inesgotável. Suas construções geométricas, nas quais ela brinca de modo incomum com as cores evocam outras relações que não as da delicadeza e musicalidade que comumente se atribui, por exemplo, às de Alfredo Volpi.
Sua simplicidade aparente revela uma articulação do vocabulário de formas regulares geométrico e cromático, um permanente interesse por um universo em expansão e o desejo constante de explorar as relações compositivas e aspectos cromáticos na superfície da tela. Os experimentos com a cor a que ela se lança traduzem a busca, o que implica, ainda, na tentativa de estabelecer relações e jogos cromáticos não familiares, ou mesmo esperados, pelo olhar desatento, ou desavisado.
A obviedade de contrastes, ou decomposições, ou ainda suavizados matizes não lhe interessam. Por outro lado não se trata de atrair pelo puro efeito, ou choque, ou mesmo impacto. Nada disso parece fazer parte dessa experiência da cor como liberdade e o inusitado daquilo que é inesperado se apresenta como possibilidade, nos surpreendendo e nos cativando, por vezes silenciosamente, por vezes estranhamente, por vezes, ainda, pelo caráter esotérico, místico e até mesmo religioso que as composições trazem, insinuam, afirmam e revelam.
Esse momento da produção da artista decorre, ainda, de uma aproximação vital para a artista: o encontro com Theon Spanudis. O encontro e o relacionamento que se estabelece a partir dele, teve papel significativo em sua vida e reflexos fundamentais em sua produção. É dele que ela recebe o incentivo e provocação para “tentar fazer o geométrico”, como um impulso à suas experiências. Ele se tornou o interlocutor, o crítico e o provocador, além de o mediador entre Jandyra Waters e aqueles que, por suas mãos conheceram essa produção e, a partir do contato inicial tornaram-se os compradores e colecionadores de suas obras.
Seguindo essa direção também é relevante inserir o dado processual do trabalho, mencionando a condição de produção das pinturas a partir dos pequenos estudos – pinturas sobre papel – a que ela denomina de croquis, e que compulsivamente guarda, até hoje, como referência de boa parte do que produziu ao longo do tempo. Essas pequenas superfícies, vivamente coloridas, se tornavam o objeto de desejo e, a partir delas, muitas das pinturas foram realizadas a pedido de cada um dos integrantes desse grupo de fieis admiradores que passou a se interessar pela exploração das relações de contrastes, harmonia, unidade, segregação, unificação, continuidade, proximidade e semelhança, presentes na produção da artista.
Esses estudos corroboram a condição experimental dos trabalhos, ao mesmo tempo em que o desejo pela organização do processo. Ao sentar-se para produzir ela diz que “não tinha ideia do que poderia fazer”, mas, por outro lado ela sabia “que não poderia se repetir” e, assim, sempre precisaria criar um novo plano de cromático, um caminho a ser explorado com a cor e construir essa articulação com o desejo de afirmar a liberdade que essa condição lhe permitia.
A alusão mais direta ao processo construtivo se afirma e, em meio, aos arranjos cromáticos as composições “sem título” aspiram ao universal e, dessa forma, pretendem ser objetivas, ao se proporem como livres da relação direta com a natureza, buscando sua essência pela cor e suas relações.
Há ainda uma dimensão que – ultrapassando uma articulação de linhas pretensamente se impondo como planos de cor – abandona a rigidez presumível da construção para mergulhar em evidentes campos de cor que se apresentam, de maneira categórica, porém não como mera estrutura, já que não de todo visível nessa condição, mas afirmando-se como enigmas, como uma espécie de estrutura totêmica a que o observador é instado a decifrar.
Formas, combinações, arranjos, planos, superfícies, linhas tudo pode ser retomado, revitalizado e explorado com uma incrível vitalidade, com um desejo e uma preocupação quase que religiosa, um tratamento de sacralidade da obra para, mais uma, e aparentemente sempre, afirmar a liberdade com a qual a artista enfrenta o embate com a superfície branca da tela sobre a qual lança sua vontade para estimular intensamente nossa percepção, cromaticamente, ou por jogos de formas e planos, sempre dominados pela cor.
Retomando, não o procedimento, mas a intenção das pinturas do final da década de 1960 ela nos abre a perspectiva de movimento e musicalidade, porém agora de tal forma organizada, a nos levar a percebê-la como uma coreografia de formas e cores, movimentos e tensões tudo junto a explorar e lançar-se no espaço visual.
Os caminhos foram muitos, mesmo podendo parecer o mesmo, os processos diversos, revistos e retomados, permanentemente explorados como é possível identificar nessa vitalidade que cativa o olhar, afirmando sua potencialidade em cada um dos elementos constitutivos da visualidade que Jandyra Waters propõe que experimentemos com ela.
Fonte: Reliquiano, publicado por Jorge, em 18 de setembro de 2018.
----
Jandyra waters, aos 92 anos, ganha calendário com suas obras
Artista comemora 50 anos da sua primeira exposição
Todos os volpistas, ou seja, os colecionadores das pinturas de Volpi, têm em suas coleções pelo menos uma tela da pintora paulista Jandyra Waters, que comemora meio século de sua primeira exposição individual com um calendário de 2014 patrocinado por um deles, Ladi Biezus, proprietário de um respeitado acervo de construtivistas brasileiros, entre eles Volpi e Jandyra, claro. Ela é um caso de inteligência visual intuitiva muito parecido com o de Volpi – aliás, reconhecida por críticos como Theon Spanudis, Mario Schenberg, José Geraldo Vieira e Geraldo Ferraz. Aos 92 anos, Jandyra continua pintando sem parar. Já comparada ao italiano Alberto Magnelli (1881-1971), mestre da arte concreta que ganhou o segundo prêmio na primeira edição da Bienal de São Paulo, Jandyra é um mito para os iniciados, uma pintora, digamos, “cult”, que merece uma retrospectiva urgente num grande museu.
Discreta e avessa à publicidade, o oposto do que se vê hoje no mercado de arte, Jandyra Waters está presente nas coleções dos principais museus (MAM e MAC, entre eles), mas é pouco lembrada pela nova geração de curadores, a despeito de sua importância para a evolução do construtivismo no Brasil – ela foi uma das pioneiras abstracionistas ao voltar ao País, casada com um oficial do Exército inglês, exatamente no ano da realização da 1ª Bienal de São Paulo, 1951. A história da pintora paulista Jandyra Waters, nascida há 92 anos em Sertãozinho, interior de São Paulo, está ligada a uma notícia que leu no no fim da 2ª Guerra. Em 1945, a United Nations Relief Rehabillitation Administration (Unrra), organização internacional que dava assistência e repatriava cidadãos deslocados pelo conflito, precisava de voluntários. Ela abriu mão de um posto na embaixada americana do Rio de Janeiro para seguir seu destino. Viajou para Londres, depois para a Holanda e, finalmente, em direção à Áustria, onde conheceu o futuro marido, o major britânico Eri Dale Waters, de quem herdou o sobrenome. E foi na Inglaterra, terra de Constable e Turner, que começou a pintar depois da guerra.
Jandyra retira da prateleira uma natureza-morta de 1948, sua primeira pintura, feita em Lewes, Sussex, onde estudou pintura na escola local. Persistente, ela passou a se dedicar em tempo integral à arte, mas ficou grávida de Martin, seu único filho, e a tinta a óleo começou a afetar sua saúde. Obrigada a parar, ela só retomaria a pintura ao voltar ao Brasil, em 1951, data que marca historicamente a entrada do abstracionismo no país. Na época, não sentia particular atração pela arte abstrata. Frequentando o ateliê de Yoshiya Takaoka (1909-1978), que foi também professor de Amélia Toledo, Jandyra pintava paisagens e estudava história da arte com Walter Zanini, além de aprender pintura mural com Clóvis Graciano e gravura com Marcelo Grassmann.
A passagem da figuração para o abstracionismo informal não foi traumática. No entanto, exigiu esforço da pintora, que nunca andou em turma nem se filiou a escolas – nem mesmo aos concretos, como fez Volpi. O construtivismo geométrico surgiu em sua vida nos anos 1960, década que marcou sua passagem pela Bienal de São Paulo – na nona edição, de 1967, também lembrada pela presença maciça dos artistas pop americanos, entre eles Andy Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg e Jasper Johns. Foi exatamente nesse ano que o crítico José Geraldo Vieira celebrou sua escolha para a Bienal, classificando a pintora como a antípoda desses artistas pop, uma pura “representante do neomondrianismo”.
Jandyra não se importa com rótulos, mas estar ligada a Mondrian, maior nome do neoplasticismo, não deixa de ser uma responsabilidade. Curiosamente, também o sentimento metafísico e religioso do pintor holandês pode ser detectado em sua pintura – a síntese de um abstracionismo eventualmente ligado à geometria sagrada. O fato é que a artista batizou uma série, na década de 1970, de Templos (há dois trabalhos dessa época no acervo do MAM e MAC, reproduzidos no calendário). Também por essa filiação, sua pintura é comparada à obra de Rubem Valentim, embora a artista rejeite ser a sua uma proposta “religiosa”. Isso não impediu que a geometrização de suas estruturas fosse vista assim. Afinal, ela recorre ao uso de diagonais, à simetria e a números como o 3, 4 e 7, representados por figuras como o quadrado e o triângulo.
Dois críticos, no mínimo, reforçam a ideia de que a contribuição de Jandyra Waters ao construtivismo não foi apenas estética, mas religiosa: o físico Mário Schenberg (1914- 1990) e o psicanalista Theon Spanudis (1915- 1986). Schenberg escreveu, em 1971, que o conteúdo de suas formas “é de tendência esotérica e iniciática”. Spanudis, dez anos depois, voltaria a falar de seu “vocabulário esotérico”, classificando sua pintura de “simples e clara como só um gênio poderia fazer”. Foi o poeta e crítico turco que também comparou Jandyra ao cubofuturista (e depois concreto) Magnelli.
“Pode ser, mas nunca senti sua influência, nem de outros, apesar de gostar muito de Matisse”, observa a pintora, que esperou amadurecer para fazer sua primeira exposição individual, em 1963, aos 42 anos, na Galeria Aremar, em Campinas. O calendário que a homenageia traz uma pintura do período, que marca a transição do informalismo para uma construção rígida (de 1965 em diante), marcada pela aplicação da tinta quase diluída, que reforça o caráter incorpóreo da cor. Naquela época, 1964, pintores como britânico John Hoyland começavam a usar tinta acrílica, que Jandyra só adotaria nos anos 1970.
“Não foi por moda, mas porque, nos anos 1970, eu passei para a pintura geométrica e tive um problema de saúde por causa da tinta a óleo.” A textura da superfície mudou com a tinta acrílica e com ela veio à tona uma necessidade de experimentar que a artista levou também para a poesia (ela tem livros publicados pela José Olympio). “Certa vez, estava em Ilha Bela, chovia muito e, sem dispor de material para pintura, resolvi recortar e pintar chapas de isopor, fazendo meus primeiros trabalhos tridimensionais, talvez pensando na arquitetura de Brasília.” A primeira dessas obras, da série Templos, foi comprada por Theon Spanudis e doada por ele ao MAC, antes de morrer.
“Por causa das cores vivas, minha pintura já foi até chamada de psicodélica, mas o fato é que sempre trabalhei com croquis, dentro de um rigoroso construtivismo que, posso assegurar, é totalmente intuitivo.”
Fonte: Estadão, publicado em 25 de dezembro de 2013.
Crédito fotográfico: Estadão
Jandyra Ramos Waters (Sertãozinho, SP, 1921), conhecida como Jandyra Waters, é uma pintora, escultora, gravadora e poeta brasileira.
Biografia
1945 - Europa - Viaja como membro da equipe brasileira destinada a colaborar junto a uma organização internacional de auxílio às vítimas da Segunda Guerra Mundial e reside na Inglaterra até 1950.
1947 - Estuda pintura no County Council Art School, Sussex, Inglaterra.
1950 - Estuda pintura com Yoshiya Takaoka (1909 - 1978), escultura e cerâmica com André Osze em São Paulo, SP.
1952 - Estuda gravura, com Darel (1924-2017) e Marcelo Grassmann (1925-2013), e pintura mural, com Clóvis Graciano (1907 - 1988), na Faap, São Paulo, SP.
1952 - Estuda história da arte com Walter Zanini na Universidade de São Paulo - USP, São Paulo, SP.
Acervos públicos e privados de destaque:
Museu de Arte Contemporânea da USP, São Paulo, SP;
Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado, SP;
Museu de Arte Moderna de São Paulo, SP;
Museu de Arte do Parlamento de São Paulo, SP;
Museu de Arte Moderna de Campinas, SP;
Museu de Arte Contemporânea de Skopje, Macedônia.
---
Jandyra Waters: processos e caminhos – Por Marcos Moraes
Uma tentativa de aproximação ao universo de cores e formas que atravessa a produção de Jandyra Waters é, antes de tudo, um desafio e uma provocação ao olhar, tanto quanto ao raciocínio que pode, inutilmente, procurar encontrar uma possível fórmula que facilite a compreensão, imediata, e rápida, de uma complexidade de relações que vão, pouco a pouco, se desvelando, enquanto revelam camadas distintas de sensibilidade, que as pinturas propõem.
Ainda que não tenha sido pensada com a simples e mera intenção, ou o propósito de comemoração, estabelecemos, de imediato, uma relação entre o ano de 1948 em que Jandyra Waters inicia seu percurso de pintora, e consequentemente de artista, e a exposição organizada hoje, passados setenta anos de sua primeira natureza morta pintada em Lewes, Sussex, na Inglaterra. Ela havia se transferido para lá, com o marido, após suas atividades no corpo de voluntários que atuou na ajuda humanitária, a partir do final da segunda guerra mundial.
Dessa perspectiva também é quase impossível se furtar a mencionar, ainda que como rápidos flagrantes, fatos que atravessam esse caminho percorrido por ela, ao longo desses anos. Dentre eles, o retorno ao Brasil e fixar-se em São Paulo, a primeira exposição em 1957, assim como a participação na Bienal de São Paulo, exatamente dez anos depois, marcam um percurso que, rapidamente, se articula com as experiências em torno da abstração, desenvolvidas na moderna São Paulo – que não pode parar – daquela década.
Encontrar a artista e ouvi-la retomar suas memórias do contato com o meio artístico, as dificuldades de articular-se aos grupos e propostas vigentes, nos apontam outra circunstância relevante para sua produção, assim como para sua inserção histórica. Visível, em distintos momentos e circunstâncias, nos trabalhos, um sentimento de solidão, por vezes inerente, por vezes necessário e por vezes decorrente, se faz presente.
Partindo de uma já tradicional imagem como a da natureza morta o percurso ao longo dos anos 1950 a leva, já no início da década seguinte, a expressar-se com uma gestualidade mais livre, a aparente criação de uma caligrafia expressa por signos incompreensíveis, e de uma espécie de musicalidade e movimentos corporal presentes em cada um dos segmentos que compõem a pintura sem título com a qual se inicia a exposição e os possíveis caminhos nos quais podemos nos lançar ao tentar trilhar os passos da artista, em suas explorações místicas.
A partir do contato direto com a presença das, naquele momento, recentes investigações artísticas de orientação abstrata Jandyra Waters envereda por experimentações nas quais amplia e aprofunda alguns dos interesses que a levarão cada vez mais a abandonar a realidade visível como ponto de partida. Cores, formas, matéria tornam-se a substância dessa visão de mundo que, livremente, desvencilhando-se das noções de representatividade possibilitam à artista expressar suas percepções e sensações, ainda inicialmente de forma menos rigorosa para, pouco a pouco, encontrar, na organização dos planos e do espaço, na superfície da tela um sentido para sua produção que jamais será abandonado, mesmo que essa opção lhe permita explorar outros caminhos ao longo dos anos.
Nesse sentido a experiência com a abstração gestual, lírica, informal tão presente naquele momento e visível na produção de artistas daquela geração – Maria Polo, Sheila Brannigan, Yolanda Mohalyi, Wega Nery entre outras – constituem-se na partida para um processo de organização e construção que se tornou um caminho para tantos artistas do período, mas a definição de uma trajetória para Jandyra Waters.
Para a artista essa passa a ser a possibilidade de busca de harmonia e equilíbrio pela articulação da sensibilidade e de uma ordem que ela experimenta, previamente, e que lhe permite propor um entendimento para a pintura que abarca a liberdade de expressão. Nas pinturas do período – década de 1960 – partindo do informalismo e procurando meios de organizar os planos de cor, inserindo linhas, construindo formas que se articulam nesse espaço, ela mantém a autonomia e energia, transformada em vitalidade lúdica que nos permite adentrar nesse desafio criado por uma dúvida que ela deixa visível e está latente, nesse embate entre a emoção e o controle pela razão.
A cor e sua potencialidade, o fascínio que despertam, seus possíveis mistérios a que o observador é levado, permanentemente, a tentar decifrar se apresentam como mais um novo e possível caminho a ser vivido em sua potencialidade. Ainda não se trata de uma síntese, ao contrário, de um provocador caos em que, por vezes, formas que aludem à organicidade de um mundo, parecem querer emergir e aflorar. Essa possível “abstração orgânica” se transforma em condição de confirmar, ainda mais, a busca por liberdade que pretende afirmar-se pela organização, mas que teve, ainda pela frente, alguns entraves e necessidades antes de afirmar-se como uma verdadeira religião para a artista.
Em seu processo de enfrentamento do mundo – e a pintura se torna ao mesmo tempo o meio, instrumento, forma e condição para isso – Jandyra Waters atravessa a experiência de viver a participação na Bienal de São Paulo, em 1967, ao que se segue, em paralelo, e de imediato, sua produção de pintura em preto e branco. As formas orgânicas, aparentemente livres e expressivas, porém aprisionadas e buscando libertar-se do emaranhado na qual parecem se enredar, revelam o abandono momentâneo do, então lúdico, contraste de cores e formas livres que ela explorava até então.
Em uma possibilidade de compreensão da transição da fase de interesses da insinuada abstração orgânica para uma racionalização dos planos de cor, as superfícies geometrizam-se parecendo querer resistir ao encapsulamento a que ela pretende encaminhá-las. Nas pinturas em que se pode identificar uma retomada de sua inicial e familiar referência da natureza, ainda que por vezes, ao longo de sua produção, elas parecem, por vezes, querer irromper, o que vemos é a afirmação desse conjunto de linhas e planos cromáticos que se insurgem, mesmo, com esse possível aprisionamento na superfície da pintura.
Estruturam-se, então, composições que emergem na tela e se insinuam, ainda que suavemente, como resquício de uma possível paisagem interior. Mais uma vez, o jogo a que a artista se entrega e do qual nos propõe participar envolve uma busca do essencial por intermédio da simplificação das formas e da sobreposição de manchas de cor, organizadas e dispostas a nos fazer tentar penetrar em suas sobreposições para, assim, buscar vencer uma espécie de ambiguidade figura-fundo que cria um enredamento ao olhar do observador.
Há, ainda, uma insolúvel contraposição entre formas racionais e orgânicas, orquestradas por meio das cores e que criam ritmos, por vezes parecendo ser dóceis, mas na maior parte delas propondo uma dinâmica e quase explosiva dança. Uma quase convulsiva disputa por sobrepor-se e sobressaltar-se que leva todo esse conjunto de elementos a querer expandir-se para além dos limites da tela.
A aparente controlada convulsão vem à tona imprimindo um ritmo frenético e, por que não, infantil em sua pureza, ingenuidade, vitalidade e energia. Tudo aqui nos leva a ver como que a convergência para uma explosiva expansão que se apresenta como capaz de superar qualquer possível controle da racionalidade.
A exploração das massas e volumes de cor, como um fio condutor em sua produção a partir de finais da década de 1960, no entanto, não se constitui em um empecilho intransponível para outras experiências, retomadas, abandonos momentâneos, desvios e retornos. E, em seus caminhos, Jandyra Waters revisitará seus temas, seus tons e cores, assim como seus desejos de busca por essencialidade e harmonia.
Inicia-se nesse momento um processo que pode ser entendido como de busca e afirmação da simplificação e geometrização. Ele se estende e domina a produção, mesmo que sem absoluto rigor formal, e a se mostrar como mais um indício e afirmação do processo experimental e de transição pelo qual a artista envereda, em sua caminhada que se mostra interminável e inesgotável. Suas construções geométricas, nas quais ela brinca de modo incomum com as cores evocam outras relações que não as da delicadeza e musicalidade que comumente se atribui, por exemplo, às de Alfredo Volpi.
Sua simplicidade aparente revela uma articulação do vocabulário de formas regulares geométrico e cromático, um permanente interesse por um universo em expansão e o desejo constante de explorar as relações compositivas e aspectos cromáticos na superfície da tela. Os experimentos com a cor a que ela se lança traduzem a busca, o que implica, ainda, na tentativa de estabelecer relações e jogos cromáticos não familiares, ou mesmo esperados, pelo olhar desatento, ou desavisado.
A obviedade de contrastes, ou decomposições, ou ainda suavizados matizes não lhe interessam. Por outro lado não se trata de atrair pelo puro efeito, ou choque, ou mesmo impacto. Nada disso parece fazer parte dessa experiência da cor como liberdade e o inusitado daquilo que é inesperado se apresenta como possibilidade, nos surpreendendo e nos cativando, por vezes silenciosamente, por vezes estranhamente, por vezes, ainda, pelo caráter esotérico, místico e até mesmo religioso que as composições trazem, insinuam, afirmam e revelam.
Esse momento da produção da artista decorre, ainda, de uma aproximação vital para a artista: o encontro com Theon Spanudis. O encontro e o relacionamento que se estabelece a partir dele, teve papel significativo em sua vida e reflexos fundamentais em sua produção. É dele que ela recebe o incentivo e provocação para “tentar fazer o geométrico”, como um impulso à suas experiências. Ele se tornou o interlocutor, o crítico e o provocador, além de o mediador entre Jandyra Waters e aqueles que, por suas mãos conheceram essa produção e, a partir do contato inicial tornaram-se os compradores e colecionadores de suas obras.
Seguindo essa direção também é relevante inserir o dado processual do trabalho, mencionando a condição de produção das pinturas a partir dos pequenos estudos – pinturas sobre papel – a que ela denomina de croquis, e que compulsivamente guarda, até hoje, como referência de boa parte do que produziu ao longo do tempo. Essas pequenas superfícies, vivamente coloridas, se tornavam o objeto de desejo e, a partir delas, muitas das pinturas foram realizadas a pedido de cada um dos integrantes desse grupo de fieis admiradores que passou a se interessar pela exploração das relações de contrastes, harmonia, unidade, segregação, unificação, continuidade, proximidade e semelhança, presentes na produção da artista.
Esses estudos corroboram a condição experimental dos trabalhos, ao mesmo tempo em que o desejo pela organização do processo. Ao sentar-se para produzir ela diz que “não tinha ideia do que poderia fazer”, mas, por outro lado ela sabia “que não poderia se repetir” e, assim, sempre precisaria criar um novo plano de cromático, um caminho a ser explorado com a cor e construir essa articulação com o desejo de afirmar a liberdade que essa condição lhe permitia.
A alusão mais direta ao processo construtivo se afirma e, em meio, aos arranjos cromáticos as composições “sem título” aspiram ao universal e, dessa forma, pretendem ser objetivas, ao se proporem como livres da relação direta com a natureza, buscando sua essência pela cor e suas relações.
Há ainda uma dimensão que – ultrapassando uma articulação de linhas pretensamente se impondo como planos de cor – abandona a rigidez presumível da construção para mergulhar em evidentes campos de cor que se apresentam, de maneira categórica, porém não como mera estrutura, já que não de todo visível nessa condição, mas afirmando-se como enigmas, como uma espécie de estrutura totêmica a que o observador é instado a decifrar.
Formas, combinações, arranjos, planos, superfícies, linhas tudo pode ser retomado, revitalizado e explorado com uma incrível vitalidade, com um desejo e uma preocupação quase que religiosa, um tratamento de sacralidade da obra para, mais uma, e aparentemente sempre, afirmar a liberdade com a qual a artista enfrenta o embate com a superfície branca da tela sobre a qual lança sua vontade para estimular intensamente nossa percepção, cromaticamente, ou por jogos de formas e planos, sempre dominados pela cor.
Retomando, não o procedimento, mas a intenção das pinturas do final da década de 1960 ela nos abre a perspectiva de movimento e musicalidade, porém agora de tal forma organizada, a nos levar a percebê-la como uma coreografia de formas e cores, movimentos e tensões tudo junto a explorar e lançar-se no espaço visual.
Os caminhos foram muitos, mesmo podendo parecer o mesmo, os processos diversos, revistos e retomados, permanentemente explorados como é possível identificar nessa vitalidade que cativa o olhar, afirmando sua potencialidade em cada um dos elementos constitutivos da visualidade que Jandyra Waters propõe que experimentemos com ela.
Fonte: Reliquiano, publicado por Jorge, em 18 de setembro de 2018.
----
Jandyra waters, aos 92 anos, ganha calendário com suas obras
Artista comemora 50 anos da sua primeira exposição
Todos os volpistas, ou seja, os colecionadores das pinturas de Volpi, têm em suas coleções pelo menos uma tela da pintora paulista Jandyra Waters, que comemora meio século de sua primeira exposição individual com um calendário de 2014 patrocinado por um deles, Ladi Biezus, proprietário de um respeitado acervo de construtivistas brasileiros, entre eles Volpi e Jandyra, claro. Ela é um caso de inteligência visual intuitiva muito parecido com o de Volpi – aliás, reconhecida por críticos como Theon Spanudis, Mario Schenberg, José Geraldo Vieira e Geraldo Ferraz. Aos 92 anos, Jandyra continua pintando sem parar. Já comparada ao italiano Alberto Magnelli (1881-1971), mestre da arte concreta que ganhou o segundo prêmio na primeira edição da Bienal de São Paulo, Jandyra é um mito para os iniciados, uma pintora, digamos, “cult”, que merece uma retrospectiva urgente num grande museu.
Discreta e avessa à publicidade, o oposto do que se vê hoje no mercado de arte, Jandyra Waters está presente nas coleções dos principais museus (MAM e MAC, entre eles), mas é pouco lembrada pela nova geração de curadores, a despeito de sua importância para a evolução do construtivismo no Brasil – ela foi uma das pioneiras abstracionistas ao voltar ao País, casada com um oficial do Exército inglês, exatamente no ano da realização da 1ª Bienal de São Paulo, 1951. A história da pintora paulista Jandyra Waters, nascida há 92 anos em Sertãozinho, interior de São Paulo, está ligada a uma notícia que leu no no fim da 2ª Guerra. Em 1945, a United Nations Relief Rehabillitation Administration (Unrra), organização internacional que dava assistência e repatriava cidadãos deslocados pelo conflito, precisava de voluntários. Ela abriu mão de um posto na embaixada americana do Rio de Janeiro para seguir seu destino. Viajou para Londres, depois para a Holanda e, finalmente, em direção à Áustria, onde conheceu o futuro marido, o major britânico Eri Dale Waters, de quem herdou o sobrenome. E foi na Inglaterra, terra de Constable e Turner, que começou a pintar depois da guerra.
Jandyra retira da prateleira uma natureza-morta de 1948, sua primeira pintura, feita em Lewes, Sussex, onde estudou pintura na escola local. Persistente, ela passou a se dedicar em tempo integral à arte, mas ficou grávida de Martin, seu único filho, e a tinta a óleo começou a afetar sua saúde. Obrigada a parar, ela só retomaria a pintura ao voltar ao Brasil, em 1951, data que marca historicamente a entrada do abstracionismo no país. Na época, não sentia particular atração pela arte abstrata. Frequentando o ateliê de Yoshiya Takaoka (1909-1978), que foi também professor de Amélia Toledo, Jandyra pintava paisagens e estudava história da arte com Walter Zanini, além de aprender pintura mural com Clóvis Graciano e gravura com Marcelo Grassmann.
A passagem da figuração para o abstracionismo informal não foi traumática. No entanto, exigiu esforço da pintora, que nunca andou em turma nem se filiou a escolas – nem mesmo aos concretos, como fez Volpi. O construtivismo geométrico surgiu em sua vida nos anos 1960, década que marcou sua passagem pela Bienal de São Paulo – na nona edição, de 1967, também lembrada pela presença maciça dos artistas pop americanos, entre eles Andy Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg e Jasper Johns. Foi exatamente nesse ano que o crítico José Geraldo Vieira celebrou sua escolha para a Bienal, classificando a pintora como a antípoda desses artistas pop, uma pura “representante do neomondrianismo”.
Jandyra não se importa com rótulos, mas estar ligada a Mondrian, maior nome do neoplasticismo, não deixa de ser uma responsabilidade. Curiosamente, também o sentimento metafísico e religioso do pintor holandês pode ser detectado em sua pintura – a síntese de um abstracionismo eventualmente ligado à geometria sagrada. O fato é que a artista batizou uma série, na década de 1970, de Templos (há dois trabalhos dessa época no acervo do MAM e MAC, reproduzidos no calendário). Também por essa filiação, sua pintura é comparada à obra de Rubem Valentim, embora a artista rejeite ser a sua uma proposta “religiosa”. Isso não impediu que a geometrização de suas estruturas fosse vista assim. Afinal, ela recorre ao uso de diagonais, à simetria e a números como o 3, 4 e 7, representados por figuras como o quadrado e o triângulo.
Dois críticos, no mínimo, reforçam a ideia de que a contribuição de Jandyra Waters ao construtivismo não foi apenas estética, mas religiosa: o físico Mário Schenberg (1914- 1990) e o psicanalista Theon Spanudis (1915- 1986). Schenberg escreveu, em 1971, que o conteúdo de suas formas “é de tendência esotérica e iniciática”. Spanudis, dez anos depois, voltaria a falar de seu “vocabulário esotérico”, classificando sua pintura de “simples e clara como só um gênio poderia fazer”. Foi o poeta e crítico turco que também comparou Jandyra ao cubofuturista (e depois concreto) Magnelli.
“Pode ser, mas nunca senti sua influência, nem de outros, apesar de gostar muito de Matisse”, observa a pintora, que esperou amadurecer para fazer sua primeira exposição individual, em 1963, aos 42 anos, na Galeria Aremar, em Campinas. O calendário que a homenageia traz uma pintura do período, que marca a transição do informalismo para uma construção rígida (de 1965 em diante), marcada pela aplicação da tinta quase diluída, que reforça o caráter incorpóreo da cor. Naquela época, 1964, pintores como britânico John Hoyland começavam a usar tinta acrílica, que Jandyra só adotaria nos anos 1970.
“Não foi por moda, mas porque, nos anos 1970, eu passei para a pintura geométrica e tive um problema de saúde por causa da tinta a óleo.” A textura da superfície mudou com a tinta acrílica e com ela veio à tona uma necessidade de experimentar que a artista levou também para a poesia (ela tem livros publicados pela José Olympio). “Certa vez, estava em Ilha Bela, chovia muito e, sem dispor de material para pintura, resolvi recortar e pintar chapas de isopor, fazendo meus primeiros trabalhos tridimensionais, talvez pensando na arquitetura de Brasília.” A primeira dessas obras, da série Templos, foi comprada por Theon Spanudis e doada por ele ao MAC, antes de morrer.
“Por causa das cores vivas, minha pintura já foi até chamada de psicodélica, mas o fato é que sempre trabalhei com croquis, dentro de um rigoroso construtivismo que, posso assegurar, é totalmente intuitivo.”
Fonte: Estadão, publicado em 25 de dezembro de 2013.
Crédito fotográfico: Estadão
2 artistas relacionados
Jandyra Waters
Jandyra Ramos Waters (Sertãozinho, SP, 1921), conhecida como Jandyra Waters, é uma pintora, escultora, gravadora e poeta brasileira.
A geometria sagrada de Jandyra Waters
Biografia
1945 - Europa - Viaja como membro da equipe brasileira destinada a colaborar junto a uma organização internacional de auxílio às vítimas da Segunda Guerra Mundial e reside na Inglaterra até 1950.
1947 - Estuda pintura no County Council Art School, Sussex, Inglaterra.
1950 - Estuda pintura com Yoshiya Takaoka (1909 - 1978), escultura e cerâmica com André Osze em São Paulo, SP.
1952 - Estuda gravura, com Darel (1924-2017) e Marcelo Grassmann (1925-2013), e pintura mural, com Clóvis Graciano (1907 - 1988), na Faap, São Paulo, SP.
1952 - Estuda história da arte com Walter Zanini na Universidade de São Paulo - USP, São Paulo, SP.
Acervos públicos e privados de destaque:
Museu de Arte Contemporânea da USP, São Paulo, SP;
Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado, SP;
Museu de Arte Moderna de São Paulo, SP;
Museu de Arte do Parlamento de São Paulo, SP;
Museu de Arte Moderna de Campinas, SP;
Museu de Arte Contemporânea de Skopje, Macedônia.
---
Jandyra Waters: processos e caminhos – Por Marcos Moraes
Uma tentativa de aproximação ao universo de cores e formas que atravessa a produção de Jandyra Waters é, antes de tudo, um desafio e uma provocação ao olhar, tanto quanto ao raciocínio que pode, inutilmente, procurar encontrar uma possível fórmula que facilite a compreensão, imediata, e rápida, de uma complexidade de relações que vão, pouco a pouco, se desvelando, enquanto revelam camadas distintas de sensibilidade, que as pinturas propõem.
Ainda que não tenha sido pensada com a simples e mera intenção, ou o propósito de comemoração, estabelecemos, de imediato, uma relação entre o ano de 1948 em que Jandyra Waters inicia seu percurso de pintora, e consequentemente de artista, e a exposição organizada hoje, passados setenta anos de sua primeira natureza morta pintada em Lewes, Sussex, na Inglaterra. Ela havia se transferido para lá, com o marido, após suas atividades no corpo de voluntários que atuou na ajuda humanitária, a partir do final da segunda guerra mundial.
Dessa perspectiva também é quase impossível se furtar a mencionar, ainda que como rápidos flagrantes, fatos que atravessam esse caminho percorrido por ela, ao longo desses anos. Dentre eles, o retorno ao Brasil e fixar-se em São Paulo, a primeira exposição em 1957, assim como a participação na Bienal de São Paulo, exatamente dez anos depois, marcam um percurso que, rapidamente, se articula com as experiências em torno da abstração, desenvolvidas na moderna São Paulo – que não pode parar – daquela década.
Encontrar a artista e ouvi-la retomar suas memórias do contato com o meio artístico, as dificuldades de articular-se aos grupos e propostas vigentes, nos apontam outra circunstância relevante para sua produção, assim como para sua inserção histórica. Visível, em distintos momentos e circunstâncias, nos trabalhos, um sentimento de solidão, por vezes inerente, por vezes necessário e por vezes decorrente, se faz presente.
Partindo de uma já tradicional imagem como a da natureza morta o percurso ao longo dos anos 1950 a leva, já no início da década seguinte, a expressar-se com uma gestualidade mais livre, a aparente criação de uma caligrafia expressa por signos incompreensíveis, e de uma espécie de musicalidade e movimentos corporal presentes em cada um dos segmentos que compõem a pintura sem título com a qual se inicia a exposição e os possíveis caminhos nos quais podemos nos lançar ao tentar trilhar os passos da artista, em suas explorações místicas.
A partir do contato direto com a presença das, naquele momento, recentes investigações artísticas de orientação abstrata Jandyra Waters envereda por experimentações nas quais amplia e aprofunda alguns dos interesses que a levarão cada vez mais a abandonar a realidade visível como ponto de partida. Cores, formas, matéria tornam-se a substância dessa visão de mundo que, livremente, desvencilhando-se das noções de representatividade possibilitam à artista expressar suas percepções e sensações, ainda inicialmente de forma menos rigorosa para, pouco a pouco, encontrar, na organização dos planos e do espaço, na superfície da tela um sentido para sua produção que jamais será abandonado, mesmo que essa opção lhe permita explorar outros caminhos ao longo dos anos.
Nesse sentido a experiência com a abstração gestual, lírica, informal tão presente naquele momento e visível na produção de artistas daquela geração – Maria Polo, Sheila Brannigan, Yolanda Mohalyi, Wega Nery entre outras – constituem-se na partida para um processo de organização e construção que se tornou um caminho para tantos artistas do período, mas a definição de uma trajetória para Jandyra Waters.
Para a artista essa passa a ser a possibilidade de busca de harmonia e equilíbrio pela articulação da sensibilidade e de uma ordem que ela experimenta, previamente, e que lhe permite propor um entendimento para a pintura que abarca a liberdade de expressão. Nas pinturas do período – década de 1960 – partindo do informalismo e procurando meios de organizar os planos de cor, inserindo linhas, construindo formas que se articulam nesse espaço, ela mantém a autonomia e energia, transformada em vitalidade lúdica que nos permite adentrar nesse desafio criado por uma dúvida que ela deixa visível e está latente, nesse embate entre a emoção e o controle pela razão.
A cor e sua potencialidade, o fascínio que despertam, seus possíveis mistérios a que o observador é levado, permanentemente, a tentar decifrar se apresentam como mais um novo e possível caminho a ser vivido em sua potencialidade. Ainda não se trata de uma síntese, ao contrário, de um provocador caos em que, por vezes, formas que aludem à organicidade de um mundo, parecem querer emergir e aflorar. Essa possível “abstração orgânica” se transforma em condição de confirmar, ainda mais, a busca por liberdade que pretende afirmar-se pela organização, mas que teve, ainda pela frente, alguns entraves e necessidades antes de afirmar-se como uma verdadeira religião para a artista.
Em seu processo de enfrentamento do mundo – e a pintura se torna ao mesmo tempo o meio, instrumento, forma e condição para isso – Jandyra Waters atravessa a experiência de viver a participação na Bienal de São Paulo, em 1967, ao que se segue, em paralelo, e de imediato, sua produção de pintura em preto e branco. As formas orgânicas, aparentemente livres e expressivas, porém aprisionadas e buscando libertar-se do emaranhado na qual parecem se enredar, revelam o abandono momentâneo do, então lúdico, contraste de cores e formas livres que ela explorava até então.
Em uma possibilidade de compreensão da transição da fase de interesses da insinuada abstração orgânica para uma racionalização dos planos de cor, as superfícies geometrizam-se parecendo querer resistir ao encapsulamento a que ela pretende encaminhá-las. Nas pinturas em que se pode identificar uma retomada de sua inicial e familiar referência da natureza, ainda que por vezes, ao longo de sua produção, elas parecem, por vezes, querer irromper, o que vemos é a afirmação desse conjunto de linhas e planos cromáticos que se insurgem, mesmo, com esse possível aprisionamento na superfície da pintura.
Estruturam-se, então, composições que emergem na tela e se insinuam, ainda que suavemente, como resquício de uma possível paisagem interior. Mais uma vez, o jogo a que a artista se entrega e do qual nos propõe participar envolve uma busca do essencial por intermédio da simplificação das formas e da sobreposição de manchas de cor, organizadas e dispostas a nos fazer tentar penetrar em suas sobreposições para, assim, buscar vencer uma espécie de ambiguidade figura-fundo que cria um enredamento ao olhar do observador.
Há, ainda, uma insolúvel contraposição entre formas racionais e orgânicas, orquestradas por meio das cores e que criam ritmos, por vezes parecendo ser dóceis, mas na maior parte delas propondo uma dinâmica e quase explosiva dança. Uma quase convulsiva disputa por sobrepor-se e sobressaltar-se que leva todo esse conjunto de elementos a querer expandir-se para além dos limites da tela.
A aparente controlada convulsão vem à tona imprimindo um ritmo frenético e, por que não, infantil em sua pureza, ingenuidade, vitalidade e energia. Tudo aqui nos leva a ver como que a convergência para uma explosiva expansão que se apresenta como capaz de superar qualquer possível controle da racionalidade.
A exploração das massas e volumes de cor, como um fio condutor em sua produção a partir de finais da década de 1960, no entanto, não se constitui em um empecilho intransponível para outras experiências, retomadas, abandonos momentâneos, desvios e retornos. E, em seus caminhos, Jandyra Waters revisitará seus temas, seus tons e cores, assim como seus desejos de busca por essencialidade e harmonia.
Inicia-se nesse momento um processo que pode ser entendido como de busca e afirmação da simplificação e geometrização. Ele se estende e domina a produção, mesmo que sem absoluto rigor formal, e a se mostrar como mais um indício e afirmação do processo experimental e de transição pelo qual a artista envereda, em sua caminhada que se mostra interminável e inesgotável. Suas construções geométricas, nas quais ela brinca de modo incomum com as cores evocam outras relações que não as da delicadeza e musicalidade que comumente se atribui, por exemplo, às de Alfredo Volpi.
Sua simplicidade aparente revela uma articulação do vocabulário de formas regulares geométrico e cromático, um permanente interesse por um universo em expansão e o desejo constante de explorar as relações compositivas e aspectos cromáticos na superfície da tela. Os experimentos com a cor a que ela se lança traduzem a busca, o que implica, ainda, na tentativa de estabelecer relações e jogos cromáticos não familiares, ou mesmo esperados, pelo olhar desatento, ou desavisado.
A obviedade de contrastes, ou decomposições, ou ainda suavizados matizes não lhe interessam. Por outro lado não se trata de atrair pelo puro efeito, ou choque, ou mesmo impacto. Nada disso parece fazer parte dessa experiência da cor como liberdade e o inusitado daquilo que é inesperado se apresenta como possibilidade, nos surpreendendo e nos cativando, por vezes silenciosamente, por vezes estranhamente, por vezes, ainda, pelo caráter esotérico, místico e até mesmo religioso que as composições trazem, insinuam, afirmam e revelam.
Esse momento da produção da artista decorre, ainda, de uma aproximação vital para a artista: o encontro com Theon Spanudis. O encontro e o relacionamento que se estabelece a partir dele, teve papel significativo em sua vida e reflexos fundamentais em sua produção. É dele que ela recebe o incentivo e provocação para “tentar fazer o geométrico”, como um impulso à suas experiências. Ele se tornou o interlocutor, o crítico e o provocador, além de o mediador entre Jandyra Waters e aqueles que, por suas mãos conheceram essa produção e, a partir do contato inicial tornaram-se os compradores e colecionadores de suas obras.
Seguindo essa direção também é relevante inserir o dado processual do trabalho, mencionando a condição de produção das pinturas a partir dos pequenos estudos – pinturas sobre papel – a que ela denomina de croquis, e que compulsivamente guarda, até hoje, como referência de boa parte do que produziu ao longo do tempo. Essas pequenas superfícies, vivamente coloridas, se tornavam o objeto de desejo e, a partir delas, muitas das pinturas foram realizadas a pedido de cada um dos integrantes desse grupo de fieis admiradores que passou a se interessar pela exploração das relações de contrastes, harmonia, unidade, segregação, unificação, continuidade, proximidade e semelhança, presentes na produção da artista.
Esses estudos corroboram a condição experimental dos trabalhos, ao mesmo tempo em que o desejo pela organização do processo. Ao sentar-se para produzir ela diz que “não tinha ideia do que poderia fazer”, mas, por outro lado ela sabia “que não poderia se repetir” e, assim, sempre precisaria criar um novo plano de cromático, um caminho a ser explorado com a cor e construir essa articulação com o desejo de afirmar a liberdade que essa condição lhe permitia.
A alusão mais direta ao processo construtivo se afirma e, em meio, aos arranjos cromáticos as composições “sem título” aspiram ao universal e, dessa forma, pretendem ser objetivas, ao se proporem como livres da relação direta com a natureza, buscando sua essência pela cor e suas relações.
Há ainda uma dimensão que – ultrapassando uma articulação de linhas pretensamente se impondo como planos de cor – abandona a rigidez presumível da construção para mergulhar em evidentes campos de cor que se apresentam, de maneira categórica, porém não como mera estrutura, já que não de todo visível nessa condição, mas afirmando-se como enigmas, como uma espécie de estrutura totêmica a que o observador é instado a decifrar.
Formas, combinações, arranjos, planos, superfícies, linhas tudo pode ser retomado, revitalizado e explorado com uma incrível vitalidade, com um desejo e uma preocupação quase que religiosa, um tratamento de sacralidade da obra para, mais uma, e aparentemente sempre, afirmar a liberdade com a qual a artista enfrenta o embate com a superfície branca da tela sobre a qual lança sua vontade para estimular intensamente nossa percepção, cromaticamente, ou por jogos de formas e planos, sempre dominados pela cor.
Retomando, não o procedimento, mas a intenção das pinturas do final da década de 1960 ela nos abre a perspectiva de movimento e musicalidade, porém agora de tal forma organizada, a nos levar a percebê-la como uma coreografia de formas e cores, movimentos e tensões tudo junto a explorar e lançar-se no espaço visual.
Os caminhos foram muitos, mesmo podendo parecer o mesmo, os processos diversos, revistos e retomados, permanentemente explorados como é possível identificar nessa vitalidade que cativa o olhar, afirmando sua potencialidade em cada um dos elementos constitutivos da visualidade que Jandyra Waters propõe que experimentemos com ela.
Fonte: Reliquiano, publicado por Jorge, em 18 de setembro de 2018.
----
Jandyra waters, aos 92 anos, ganha calendário com suas obras
Artista comemora 50 anos da sua primeira exposição
Todos os volpistas, ou seja, os colecionadores das pinturas de Volpi, têm em suas coleções pelo menos uma tela da pintora paulista Jandyra Waters, que comemora meio século de sua primeira exposição individual com um calendário de 2014 patrocinado por um deles, Ladi Biezus, proprietário de um respeitado acervo de construtivistas brasileiros, entre eles Volpi e Jandyra, claro. Ela é um caso de inteligência visual intuitiva muito parecido com o de Volpi – aliás, reconhecida por críticos como Theon Spanudis, Mario Schenberg, José Geraldo Vieira e Geraldo Ferraz. Aos 92 anos, Jandyra continua pintando sem parar. Já comparada ao italiano Alberto Magnelli (1881-1971), mestre da arte concreta que ganhou o segundo prêmio na primeira edição da Bienal de São Paulo, Jandyra é um mito para os iniciados, uma pintora, digamos, “cult”, que merece uma retrospectiva urgente num grande museu.
Discreta e avessa à publicidade, o oposto do que se vê hoje no mercado de arte, Jandyra Waters está presente nas coleções dos principais museus (MAM e MAC, entre eles), mas é pouco lembrada pela nova geração de curadores, a despeito de sua importância para a evolução do construtivismo no Brasil – ela foi uma das pioneiras abstracionistas ao voltar ao País, casada com um oficial do Exército inglês, exatamente no ano da realização da 1ª Bienal de São Paulo, 1951. A história da pintora paulista Jandyra Waters, nascida há 92 anos em Sertãozinho, interior de São Paulo, está ligada a uma notícia que leu no no fim da 2ª Guerra. Em 1945, a United Nations Relief Rehabillitation Administration (Unrra), organização internacional que dava assistência e repatriava cidadãos deslocados pelo conflito, precisava de voluntários. Ela abriu mão de um posto na embaixada americana do Rio de Janeiro para seguir seu destino. Viajou para Londres, depois para a Holanda e, finalmente, em direção à Áustria, onde conheceu o futuro marido, o major britânico Eri Dale Waters, de quem herdou o sobrenome. E foi na Inglaterra, terra de Constable e Turner, que começou a pintar depois da guerra.
Jandyra retira da prateleira uma natureza-morta de 1948, sua primeira pintura, feita em Lewes, Sussex, onde estudou pintura na escola local. Persistente, ela passou a se dedicar em tempo integral à arte, mas ficou grávida de Martin, seu único filho, e a tinta a óleo começou a afetar sua saúde. Obrigada a parar, ela só retomaria a pintura ao voltar ao Brasil, em 1951, data que marca historicamente a entrada do abstracionismo no país. Na época, não sentia particular atração pela arte abstrata. Frequentando o ateliê de Yoshiya Takaoka (1909-1978), que foi também professor de Amélia Toledo, Jandyra pintava paisagens e estudava história da arte com Walter Zanini, além de aprender pintura mural com Clóvis Graciano e gravura com Marcelo Grassmann.
A passagem da figuração para o abstracionismo informal não foi traumática. No entanto, exigiu esforço da pintora, que nunca andou em turma nem se filiou a escolas – nem mesmo aos concretos, como fez Volpi. O construtivismo geométrico surgiu em sua vida nos anos 1960, década que marcou sua passagem pela Bienal de São Paulo – na nona edição, de 1967, também lembrada pela presença maciça dos artistas pop americanos, entre eles Andy Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg e Jasper Johns. Foi exatamente nesse ano que o crítico José Geraldo Vieira celebrou sua escolha para a Bienal, classificando a pintora como a antípoda desses artistas pop, uma pura “representante do neomondrianismo”.
Jandyra não se importa com rótulos, mas estar ligada a Mondrian, maior nome do neoplasticismo, não deixa de ser uma responsabilidade. Curiosamente, também o sentimento metafísico e religioso do pintor holandês pode ser detectado em sua pintura – a síntese de um abstracionismo eventualmente ligado à geometria sagrada. O fato é que a artista batizou uma série, na década de 1970, de Templos (há dois trabalhos dessa época no acervo do MAM e MAC, reproduzidos no calendário). Também por essa filiação, sua pintura é comparada à obra de Rubem Valentim, embora a artista rejeite ser a sua uma proposta “religiosa”. Isso não impediu que a geometrização de suas estruturas fosse vista assim. Afinal, ela recorre ao uso de diagonais, à simetria e a números como o 3, 4 e 7, representados por figuras como o quadrado e o triângulo.
Dois críticos, no mínimo, reforçam a ideia de que a contribuição de Jandyra Waters ao construtivismo não foi apenas estética, mas religiosa: o físico Mário Schenberg (1914- 1990) e o psicanalista Theon Spanudis (1915- 1986). Schenberg escreveu, em 1971, que o conteúdo de suas formas “é de tendência esotérica e iniciática”. Spanudis, dez anos depois, voltaria a falar de seu “vocabulário esotérico”, classificando sua pintura de “simples e clara como só um gênio poderia fazer”. Foi o poeta e crítico turco que também comparou Jandyra ao cubofuturista (e depois concreto) Magnelli.
“Pode ser, mas nunca senti sua influência, nem de outros, apesar de gostar muito de Matisse”, observa a pintora, que esperou amadurecer para fazer sua primeira exposição individual, em 1963, aos 42 anos, na Galeria Aremar, em Campinas. O calendário que a homenageia traz uma pintura do período, que marca a transição do informalismo para uma construção rígida (de 1965 em diante), marcada pela aplicação da tinta quase diluída, que reforça o caráter incorpóreo da cor. Naquela época, 1964, pintores como britânico John Hoyland começavam a usar tinta acrílica, que Jandyra só adotaria nos anos 1970.
“Não foi por moda, mas porque, nos anos 1970, eu passei para a pintura geométrica e tive um problema de saúde por causa da tinta a óleo.” A textura da superfície mudou com a tinta acrílica e com ela veio à tona uma necessidade de experimentar que a artista levou também para a poesia (ela tem livros publicados pela José Olympio). “Certa vez, estava em Ilha Bela, chovia muito e, sem dispor de material para pintura, resolvi recortar e pintar chapas de isopor, fazendo meus primeiros trabalhos tridimensionais, talvez pensando na arquitetura de Brasília.” A primeira dessas obras, da série Templos, foi comprada por Theon Spanudis e doada por ele ao MAC, antes de morrer.
“Por causa das cores vivas, minha pintura já foi até chamada de psicodélica, mas o fato é que sempre trabalhei com croquis, dentro de um rigoroso construtivismo que, posso assegurar, é totalmente intuitivo.”
Fonte: Estadão, publicado em 25 de dezembro de 2013.
Crédito fotográfico: Estadão
Jandyra Ramos Waters (Sertãozinho, SP, 1921), conhecida como Jandyra Waters, é uma pintora, escultora, gravadora e poeta brasileira.
Biografia
1945 - Europa - Viaja como membro da equipe brasileira destinada a colaborar junto a uma organização internacional de auxílio às vítimas da Segunda Guerra Mundial e reside na Inglaterra até 1950.
1947 - Estuda pintura no County Council Art School, Sussex, Inglaterra.
1950 - Estuda pintura com Yoshiya Takaoka (1909 - 1978), escultura e cerâmica com André Osze em São Paulo, SP.
1952 - Estuda gravura, com Darel (1924-2017) e Marcelo Grassmann (1925-2013), e pintura mural, com Clóvis Graciano (1907 - 1988), na Faap, São Paulo, SP.
1952 - Estuda história da arte com Walter Zanini na Universidade de São Paulo - USP, São Paulo, SP.
Acervos públicos e privados de destaque:
Museu de Arte Contemporânea da USP, São Paulo, SP;
Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado, SP;
Museu de Arte Moderna de São Paulo, SP;
Museu de Arte do Parlamento de São Paulo, SP;
Museu de Arte Moderna de Campinas, SP;
Museu de Arte Contemporânea de Skopje, Macedônia.
---
Jandyra Waters: processos e caminhos – Por Marcos Moraes
Uma tentativa de aproximação ao universo de cores e formas que atravessa a produção de Jandyra Waters é, antes de tudo, um desafio e uma provocação ao olhar, tanto quanto ao raciocínio que pode, inutilmente, procurar encontrar uma possível fórmula que facilite a compreensão, imediata, e rápida, de uma complexidade de relações que vão, pouco a pouco, se desvelando, enquanto revelam camadas distintas de sensibilidade, que as pinturas propõem.
Ainda que não tenha sido pensada com a simples e mera intenção, ou o propósito de comemoração, estabelecemos, de imediato, uma relação entre o ano de 1948 em que Jandyra Waters inicia seu percurso de pintora, e consequentemente de artista, e a exposição organizada hoje, passados setenta anos de sua primeira natureza morta pintada em Lewes, Sussex, na Inglaterra. Ela havia se transferido para lá, com o marido, após suas atividades no corpo de voluntários que atuou na ajuda humanitária, a partir do final da segunda guerra mundial.
Dessa perspectiva também é quase impossível se furtar a mencionar, ainda que como rápidos flagrantes, fatos que atravessam esse caminho percorrido por ela, ao longo desses anos. Dentre eles, o retorno ao Brasil e fixar-se em São Paulo, a primeira exposição em 1957, assim como a participação na Bienal de São Paulo, exatamente dez anos depois, marcam um percurso que, rapidamente, se articula com as experiências em torno da abstração, desenvolvidas na moderna São Paulo – que não pode parar – daquela década.
Encontrar a artista e ouvi-la retomar suas memórias do contato com o meio artístico, as dificuldades de articular-se aos grupos e propostas vigentes, nos apontam outra circunstância relevante para sua produção, assim como para sua inserção histórica. Visível, em distintos momentos e circunstâncias, nos trabalhos, um sentimento de solidão, por vezes inerente, por vezes necessário e por vezes decorrente, se faz presente.
Partindo de uma já tradicional imagem como a da natureza morta o percurso ao longo dos anos 1950 a leva, já no início da década seguinte, a expressar-se com uma gestualidade mais livre, a aparente criação de uma caligrafia expressa por signos incompreensíveis, e de uma espécie de musicalidade e movimentos corporal presentes em cada um dos segmentos que compõem a pintura sem título com a qual se inicia a exposição e os possíveis caminhos nos quais podemos nos lançar ao tentar trilhar os passos da artista, em suas explorações místicas.
A partir do contato direto com a presença das, naquele momento, recentes investigações artísticas de orientação abstrata Jandyra Waters envereda por experimentações nas quais amplia e aprofunda alguns dos interesses que a levarão cada vez mais a abandonar a realidade visível como ponto de partida. Cores, formas, matéria tornam-se a substância dessa visão de mundo que, livremente, desvencilhando-se das noções de representatividade possibilitam à artista expressar suas percepções e sensações, ainda inicialmente de forma menos rigorosa para, pouco a pouco, encontrar, na organização dos planos e do espaço, na superfície da tela um sentido para sua produção que jamais será abandonado, mesmo que essa opção lhe permita explorar outros caminhos ao longo dos anos.
Nesse sentido a experiência com a abstração gestual, lírica, informal tão presente naquele momento e visível na produção de artistas daquela geração – Maria Polo, Sheila Brannigan, Yolanda Mohalyi, Wega Nery entre outras – constituem-se na partida para um processo de organização e construção que se tornou um caminho para tantos artistas do período, mas a definição de uma trajetória para Jandyra Waters.
Para a artista essa passa a ser a possibilidade de busca de harmonia e equilíbrio pela articulação da sensibilidade e de uma ordem que ela experimenta, previamente, e que lhe permite propor um entendimento para a pintura que abarca a liberdade de expressão. Nas pinturas do período – década de 1960 – partindo do informalismo e procurando meios de organizar os planos de cor, inserindo linhas, construindo formas que se articulam nesse espaço, ela mantém a autonomia e energia, transformada em vitalidade lúdica que nos permite adentrar nesse desafio criado por uma dúvida que ela deixa visível e está latente, nesse embate entre a emoção e o controle pela razão.
A cor e sua potencialidade, o fascínio que despertam, seus possíveis mistérios a que o observador é levado, permanentemente, a tentar decifrar se apresentam como mais um novo e possível caminho a ser vivido em sua potencialidade. Ainda não se trata de uma síntese, ao contrário, de um provocador caos em que, por vezes, formas que aludem à organicidade de um mundo, parecem querer emergir e aflorar. Essa possível “abstração orgânica” se transforma em condição de confirmar, ainda mais, a busca por liberdade que pretende afirmar-se pela organização, mas que teve, ainda pela frente, alguns entraves e necessidades antes de afirmar-se como uma verdadeira religião para a artista.
Em seu processo de enfrentamento do mundo – e a pintura se torna ao mesmo tempo o meio, instrumento, forma e condição para isso – Jandyra Waters atravessa a experiência de viver a participação na Bienal de São Paulo, em 1967, ao que se segue, em paralelo, e de imediato, sua produção de pintura em preto e branco. As formas orgânicas, aparentemente livres e expressivas, porém aprisionadas e buscando libertar-se do emaranhado na qual parecem se enredar, revelam o abandono momentâneo do, então lúdico, contraste de cores e formas livres que ela explorava até então.
Em uma possibilidade de compreensão da transição da fase de interesses da insinuada abstração orgânica para uma racionalização dos planos de cor, as superfícies geometrizam-se parecendo querer resistir ao encapsulamento a que ela pretende encaminhá-las. Nas pinturas em que se pode identificar uma retomada de sua inicial e familiar referência da natureza, ainda que por vezes, ao longo de sua produção, elas parecem, por vezes, querer irromper, o que vemos é a afirmação desse conjunto de linhas e planos cromáticos que se insurgem, mesmo, com esse possível aprisionamento na superfície da pintura.
Estruturam-se, então, composições que emergem na tela e se insinuam, ainda que suavemente, como resquício de uma possível paisagem interior. Mais uma vez, o jogo a que a artista se entrega e do qual nos propõe participar envolve uma busca do essencial por intermédio da simplificação das formas e da sobreposição de manchas de cor, organizadas e dispostas a nos fazer tentar penetrar em suas sobreposições para, assim, buscar vencer uma espécie de ambiguidade figura-fundo que cria um enredamento ao olhar do observador.
Há, ainda, uma insolúvel contraposição entre formas racionais e orgânicas, orquestradas por meio das cores e que criam ritmos, por vezes parecendo ser dóceis, mas na maior parte delas propondo uma dinâmica e quase explosiva dança. Uma quase convulsiva disputa por sobrepor-se e sobressaltar-se que leva todo esse conjunto de elementos a querer expandir-se para além dos limites da tela.
A aparente controlada convulsão vem à tona imprimindo um ritmo frenético e, por que não, infantil em sua pureza, ingenuidade, vitalidade e energia. Tudo aqui nos leva a ver como que a convergência para uma explosiva expansão que se apresenta como capaz de superar qualquer possível controle da racionalidade.
A exploração das massas e volumes de cor, como um fio condutor em sua produção a partir de finais da década de 1960, no entanto, não se constitui em um empecilho intransponível para outras experiências, retomadas, abandonos momentâneos, desvios e retornos. E, em seus caminhos, Jandyra Waters revisitará seus temas, seus tons e cores, assim como seus desejos de busca por essencialidade e harmonia.
Inicia-se nesse momento um processo que pode ser entendido como de busca e afirmação da simplificação e geometrização. Ele se estende e domina a produção, mesmo que sem absoluto rigor formal, e a se mostrar como mais um indício e afirmação do processo experimental e de transição pelo qual a artista envereda, em sua caminhada que se mostra interminável e inesgotável. Suas construções geométricas, nas quais ela brinca de modo incomum com as cores evocam outras relações que não as da delicadeza e musicalidade que comumente se atribui, por exemplo, às de Alfredo Volpi.
Sua simplicidade aparente revela uma articulação do vocabulário de formas regulares geométrico e cromático, um permanente interesse por um universo em expansão e o desejo constante de explorar as relações compositivas e aspectos cromáticos na superfície da tela. Os experimentos com a cor a que ela se lança traduzem a busca, o que implica, ainda, na tentativa de estabelecer relações e jogos cromáticos não familiares, ou mesmo esperados, pelo olhar desatento, ou desavisado.
A obviedade de contrastes, ou decomposições, ou ainda suavizados matizes não lhe interessam. Por outro lado não se trata de atrair pelo puro efeito, ou choque, ou mesmo impacto. Nada disso parece fazer parte dessa experiência da cor como liberdade e o inusitado daquilo que é inesperado se apresenta como possibilidade, nos surpreendendo e nos cativando, por vezes silenciosamente, por vezes estranhamente, por vezes, ainda, pelo caráter esotérico, místico e até mesmo religioso que as composições trazem, insinuam, afirmam e revelam.
Esse momento da produção da artista decorre, ainda, de uma aproximação vital para a artista: o encontro com Theon Spanudis. O encontro e o relacionamento que se estabelece a partir dele, teve papel significativo em sua vida e reflexos fundamentais em sua produção. É dele que ela recebe o incentivo e provocação para “tentar fazer o geométrico”, como um impulso à suas experiências. Ele se tornou o interlocutor, o crítico e o provocador, além de o mediador entre Jandyra Waters e aqueles que, por suas mãos conheceram essa produção e, a partir do contato inicial tornaram-se os compradores e colecionadores de suas obras.
Seguindo essa direção também é relevante inserir o dado processual do trabalho, mencionando a condição de produção das pinturas a partir dos pequenos estudos – pinturas sobre papel – a que ela denomina de croquis, e que compulsivamente guarda, até hoje, como referência de boa parte do que produziu ao longo do tempo. Essas pequenas superfícies, vivamente coloridas, se tornavam o objeto de desejo e, a partir delas, muitas das pinturas foram realizadas a pedido de cada um dos integrantes desse grupo de fieis admiradores que passou a se interessar pela exploração das relações de contrastes, harmonia, unidade, segregação, unificação, continuidade, proximidade e semelhança, presentes na produção da artista.
Esses estudos corroboram a condição experimental dos trabalhos, ao mesmo tempo em que o desejo pela organização do processo. Ao sentar-se para produzir ela diz que “não tinha ideia do que poderia fazer”, mas, por outro lado ela sabia “que não poderia se repetir” e, assim, sempre precisaria criar um novo plano de cromático, um caminho a ser explorado com a cor e construir essa articulação com o desejo de afirmar a liberdade que essa condição lhe permitia.
A alusão mais direta ao processo construtivo se afirma e, em meio, aos arranjos cromáticos as composições “sem título” aspiram ao universal e, dessa forma, pretendem ser objetivas, ao se proporem como livres da relação direta com a natureza, buscando sua essência pela cor e suas relações.
Há ainda uma dimensão que – ultrapassando uma articulação de linhas pretensamente se impondo como planos de cor – abandona a rigidez presumível da construção para mergulhar em evidentes campos de cor que se apresentam, de maneira categórica, porém não como mera estrutura, já que não de todo visível nessa condição, mas afirmando-se como enigmas, como uma espécie de estrutura totêmica a que o observador é instado a decifrar.
Formas, combinações, arranjos, planos, superfícies, linhas tudo pode ser retomado, revitalizado e explorado com uma incrível vitalidade, com um desejo e uma preocupação quase que religiosa, um tratamento de sacralidade da obra para, mais uma, e aparentemente sempre, afirmar a liberdade com a qual a artista enfrenta o embate com a superfície branca da tela sobre a qual lança sua vontade para estimular intensamente nossa percepção, cromaticamente, ou por jogos de formas e planos, sempre dominados pela cor.
Retomando, não o procedimento, mas a intenção das pinturas do final da década de 1960 ela nos abre a perspectiva de movimento e musicalidade, porém agora de tal forma organizada, a nos levar a percebê-la como uma coreografia de formas e cores, movimentos e tensões tudo junto a explorar e lançar-se no espaço visual.
Os caminhos foram muitos, mesmo podendo parecer o mesmo, os processos diversos, revistos e retomados, permanentemente explorados como é possível identificar nessa vitalidade que cativa o olhar, afirmando sua potencialidade em cada um dos elementos constitutivos da visualidade que Jandyra Waters propõe que experimentemos com ela.
Fonte: Reliquiano, publicado por Jorge, em 18 de setembro de 2018.
----
Jandyra waters, aos 92 anos, ganha calendário com suas obras
Artista comemora 50 anos da sua primeira exposição
Todos os volpistas, ou seja, os colecionadores das pinturas de Volpi, têm em suas coleções pelo menos uma tela da pintora paulista Jandyra Waters, que comemora meio século de sua primeira exposição individual com um calendário de 2014 patrocinado por um deles, Ladi Biezus, proprietário de um respeitado acervo de construtivistas brasileiros, entre eles Volpi e Jandyra, claro. Ela é um caso de inteligência visual intuitiva muito parecido com o de Volpi – aliás, reconhecida por críticos como Theon Spanudis, Mario Schenberg, José Geraldo Vieira e Geraldo Ferraz. Aos 92 anos, Jandyra continua pintando sem parar. Já comparada ao italiano Alberto Magnelli (1881-1971), mestre da arte concreta que ganhou o segundo prêmio na primeira edição da Bienal de São Paulo, Jandyra é um mito para os iniciados, uma pintora, digamos, “cult”, que merece uma retrospectiva urgente num grande museu.
Discreta e avessa à publicidade, o oposto do que se vê hoje no mercado de arte, Jandyra Waters está presente nas coleções dos principais museus (MAM e MAC, entre eles), mas é pouco lembrada pela nova geração de curadores, a despeito de sua importância para a evolução do construtivismo no Brasil – ela foi uma das pioneiras abstracionistas ao voltar ao País, casada com um oficial do Exército inglês, exatamente no ano da realização da 1ª Bienal de São Paulo, 1951. A história da pintora paulista Jandyra Waters, nascida há 92 anos em Sertãozinho, interior de São Paulo, está ligada a uma notícia que leu no no fim da 2ª Guerra. Em 1945, a United Nations Relief Rehabillitation Administration (Unrra), organização internacional que dava assistência e repatriava cidadãos deslocados pelo conflito, precisava de voluntários. Ela abriu mão de um posto na embaixada americana do Rio de Janeiro para seguir seu destino. Viajou para Londres, depois para a Holanda e, finalmente, em direção à Áustria, onde conheceu o futuro marido, o major britânico Eri Dale Waters, de quem herdou o sobrenome. E foi na Inglaterra, terra de Constable e Turner, que começou a pintar depois da guerra.
Jandyra retira da prateleira uma natureza-morta de 1948, sua primeira pintura, feita em Lewes, Sussex, onde estudou pintura na escola local. Persistente, ela passou a se dedicar em tempo integral à arte, mas ficou grávida de Martin, seu único filho, e a tinta a óleo começou a afetar sua saúde. Obrigada a parar, ela só retomaria a pintura ao voltar ao Brasil, em 1951, data que marca historicamente a entrada do abstracionismo no país. Na época, não sentia particular atração pela arte abstrata. Frequentando o ateliê de Yoshiya Takaoka (1909-1978), que foi também professor de Amélia Toledo, Jandyra pintava paisagens e estudava história da arte com Walter Zanini, além de aprender pintura mural com Clóvis Graciano e gravura com Marcelo Grassmann.
A passagem da figuração para o abstracionismo informal não foi traumática. No entanto, exigiu esforço da pintora, que nunca andou em turma nem se filiou a escolas – nem mesmo aos concretos, como fez Volpi. O construtivismo geométrico surgiu em sua vida nos anos 1960, década que marcou sua passagem pela Bienal de São Paulo – na nona edição, de 1967, também lembrada pela presença maciça dos artistas pop americanos, entre eles Andy Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg e Jasper Johns. Foi exatamente nesse ano que o crítico José Geraldo Vieira celebrou sua escolha para a Bienal, classificando a pintora como a antípoda desses artistas pop, uma pura “representante do neomondrianismo”.
Jandyra não se importa com rótulos, mas estar ligada a Mondrian, maior nome do neoplasticismo, não deixa de ser uma responsabilidade. Curiosamente, também o sentimento metafísico e religioso do pintor holandês pode ser detectado em sua pintura – a síntese de um abstracionismo eventualmente ligado à geometria sagrada. O fato é que a artista batizou uma série, na década de 1970, de Templos (há dois trabalhos dessa época no acervo do MAM e MAC, reproduzidos no calendário). Também por essa filiação, sua pintura é comparada à obra de Rubem Valentim, embora a artista rejeite ser a sua uma proposta “religiosa”. Isso não impediu que a geometrização de suas estruturas fosse vista assim. Afinal, ela recorre ao uso de diagonais, à simetria e a números como o 3, 4 e 7, representados por figuras como o quadrado e o triângulo.
Dois críticos, no mínimo, reforçam a ideia de que a contribuição de Jandyra Waters ao construtivismo não foi apenas estética, mas religiosa: o físico Mário Schenberg (1914- 1990) e o psicanalista Theon Spanudis (1915- 1986). Schenberg escreveu, em 1971, que o conteúdo de suas formas “é de tendência esotérica e iniciática”. Spanudis, dez anos depois, voltaria a falar de seu “vocabulário esotérico”, classificando sua pintura de “simples e clara como só um gênio poderia fazer”. Foi o poeta e crítico turco que também comparou Jandyra ao cubofuturista (e depois concreto) Magnelli.
“Pode ser, mas nunca senti sua influência, nem de outros, apesar de gostar muito de Matisse”, observa a pintora, que esperou amadurecer para fazer sua primeira exposição individual, em 1963, aos 42 anos, na Galeria Aremar, em Campinas. O calendário que a homenageia traz uma pintura do período, que marca a transição do informalismo para uma construção rígida (de 1965 em diante), marcada pela aplicação da tinta quase diluída, que reforça o caráter incorpóreo da cor. Naquela época, 1964, pintores como britânico John Hoyland começavam a usar tinta acrílica, que Jandyra só adotaria nos anos 1970.
“Não foi por moda, mas porque, nos anos 1970, eu passei para a pintura geométrica e tive um problema de saúde por causa da tinta a óleo.” A textura da superfície mudou com a tinta acrílica e com ela veio à tona uma necessidade de experimentar que a artista levou também para a poesia (ela tem livros publicados pela José Olympio). “Certa vez, estava em Ilha Bela, chovia muito e, sem dispor de material para pintura, resolvi recortar e pintar chapas de isopor, fazendo meus primeiros trabalhos tridimensionais, talvez pensando na arquitetura de Brasília.” A primeira dessas obras, da série Templos, foi comprada por Theon Spanudis e doada por ele ao MAC, antes de morrer.
“Por causa das cores vivas, minha pintura já foi até chamada de psicodélica, mas o fato é que sempre trabalhei com croquis, dentro de um rigoroso construtivismo que, posso assegurar, é totalmente intuitivo.”
Fonte: Estadão, publicado em 25 de dezembro de 2013.
Crédito fotográfico: Estadão