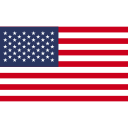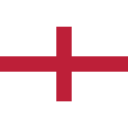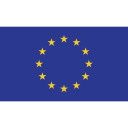A melhor experiência em leilões
Osmar Dillon
Osmar Dillon (1930, Belém, PA — 2013, Rio de Janeiro, RJ), é um artista visual e poeta brasileiro. Formou-se em arquitetura pela Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, em 1954. Estudou como bolsista na Itália no fim da década de 50. Dedica-se à pintura e, em paralelo, à poesia. Em 1960, procura uma integração entre poesia e pintura, cujo resultado são livros-poemas e não-objetos verbais. No Rio de Janeiro integra o Movimento de Arte Neoconcreta, 1959 e 1960. Afastou-se do circuito das artes plásticas entre 1961 e 1968; nesse ano expõe individualmente na Galeria Cosme Velho, São Paulo. Acumulou prêmios, destacando-se o primeiro prêmio de viagem ao exterior no "Salão do Acrílico", Petit Galerie, Rio, em 1973. Osmar foi convidado a participar do acervo do Museu de Ontário, Canadá, com exposição no MAM do Rio e em Ontário, 1974. Premiado em 1971 no Salão da Eletrobras, MAM, Rio, foi semifinalista no Symposium Urbanum de Nuremberg, Alemanha. Vencedor de vários prêmios de viagem, Osmar participou de diversas exposições coletivas e individuais no Brasil e no mundo.
Biografia – Itaú Cultural
Forma-se em arquitetura pela Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, em 1954. Estuda como bolsista na Itália no fim da década de 50. Dedica-se à pintura e, em paralelo, à poesia. Em 1960, procura uma integração entre poesia e pintura, cujo resultado são livros-poemas e não-objetos verbais. No Rio de Janeiro integra o Movimento de Arte Neoconcreta, 1959 e 1960, e faz parte dos Domingos de Criação, 1971.
Críticas
"(...) sempre se dedicou mais à pintura e, paralelamente, à poesia, ambas caracterizadas por uma tendência inicial no sentido do surrealismo. No princípio da década de 1960, buscando uma integração cada vez mais funcional entre poesia e pintura, elaborou uma série de pequenos poemas com o aproveitamento significante do espaço em branco da página; essas experiências, que desembocaram em livros-poemas e não-objetos verbais, levaram-no a participar do movimento de arte neoconcreta. (...) Mais recentemente, depois de uma fase de menos intensidade de trabalho no campo da arte, voltou a pintar, seguindo dois rumos aparentemente distintos, mas que mantêm, na profundidade, uma ligação sensível: de um lado, a pintura de fachadas da arquitetura brasileira, numa pesquisa de relevos com massa de gesso, às quais terminou acrescentando perspectivas de paisagens vistas através de portas, janelas ou muros, em clima de tranqüilo, mas pulsante, mistério; do outro, a série de seus DEVORANTES, com franca retomada do surrealismo e das referências eróticas, na crítica da contemporaniedade" — Roberto Pontual (PONTUAL, Roberto. Dicionário das artes plásticas no Brasil. Apresentação de Antônio Houaiss. Textos de Mário Barata et al. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969).
"Sempre que se escreve sobre a excelente obra visual de Osmar Dillon (...), parece-me que tem sido impossível evitar certos vocábulos buscados na vizinhança área poética. Mas não se trata, em seu caso, do freqüente empréstimo de metáforas com que a crítica de arte procura agasalhar certas idéias. A verdade é que esse artista discreto, de temperamento machadiano, inaugurou no Brasil, em fins da década de 60, uma linguagem pessoal, cujos três elementos constitutivos cresceram em simbiose. O primeiro é o jogo de formas e de cores - as artes visuais com que Dillon trabalha há longa data, auxiliado e disciplinado (às vezes, ao extremo) por sua formação de arquiteto. O segundo é o emprego sistemático da palavra, não apenas como ornamento, forma gráfica ou legenda, mas sim como parte inalienável do recado assumido pela obra. O terceiro, enfim, é a participação do espectador, que não se limita a contemplar um produto acabado. Creio estar, na obra de Dillon, um dos mais lúcidos exemplos de como incorporar ricamente essa tendencia. Mesmo quando recorre ao gesto físico direto, a participação em suas propostas ultrapassa bastante o lado lúdico. Porque exige, ao mesmo tempo, um exercício mental com conceitos e formas abstratas, palavras e relações, reconstelando-os criadoramente numa nova floresta de sentidos. Nisso vem, sem dúvida, algo da tradição do Dillon poeta, que, em princípios dos anos 60, integrava no Rio o movimento neoconcreto. Foi com o neoconcretismo, por exemplo, que a simultaneidade entre o fazer-se da obra e o seu consumo se tornou uma das preocupações da criação. E Dillon se mostra herdeiro do "não objeto" teorizado por Gullar em muitos de seus trabalhos atuais, que gravitam em órbitas paralelas como tempo, forma, espaço e ação" — Olívio Tavares de Araújo (Dillon, Osmar. Chuva. Apresentação Olívio Tavares de Araújo. São Paulo: Galeria de Arte Ipanema, 1974. f. dobrada: il. p. b.)
Exposições Individuais
1968 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Cosme Velho
1970 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria de Arte Copacabana Palace
1972 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Ipanema
1974 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Ipanema
Exposições Coletivas
1959 - Rio de Janeiro RJ - 1ª Exposição de Arte Neoconcreta, no MAM/RJ
1959 - Salvador BA - Exposição de Arte Neoconcreta, no Belvedere da Sé
1960 - Rio de Janeiro RJ - 2ª Exposição Neoconcreta, no MEC
1961 - Petrópolis RJ - 2ª Exposição Poegoespacial
1961 - São Paulo SP - 3ª Exposição Neoconcreta, no MAM/SP
1969 - Rio de Janeiro RJ - 18º Salão Nacional de Arte Moderna
1969 - São Paulo SP - 10ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal
1970 - Campinas SP - 6º Salão de Arte Contemporânea de Campinas, MACC
1970 - Rio de Janeiro RJ - 19º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/SP
1970 - Rio de Janeiro RJ - 2º Salão de Verão, no MAM/RJ - primeiro prêmio de viagem ao exterior
1970 - Rio de Janeiro RJ - O Rosto e A Obra, no Ibeu
1970 - São Paulo SP - Pré-Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal
1971 - Curitiba PR - 28º Salão Paranaense de Artes Plásticas, na Biblioteca Pública do Paraná - artista convidado
1971 - Nürenberg (Alemanha) - Symposium Urbanum - artista semifinalista
1971 - Rio de Janeiro RJ - 1º Salão da Eletrobrás, no MAM/RJ - prêmio aquisição
1971 - Rio de Janeiro RJ - 20º Salão Nacional de Arte Moderna
1971 - Rio de Janeiro RJ - 9º Resumo JB, no MAM/RJ
1971 - Rio de Janeiro RJ - Exposição de Múltiplos, na Petite Galeria
1972 - Belo Horizonte MG - 4º Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte
1972 - Rio de Janeiro RJ - 21º Salão Nacional de Arte Moderna
1972 - Rio de Janeiro RJ - Coleção Gilberto Chateaubriand, no Ibeu
1972 - Rio de Janeiro RJ - Múltiplos, na Petite Galerie
1972 - Rio de Janeiro RJ - Salão da Luz e do Movimento - premiação
1972 - São Paulo SP - Arte/Brasil/Hoje: 50 anos depois, na Galeria Collectio
1972 - São Paulo SP - 4º Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM/SP
1973 - Rio de Janeiro RJ - 1º Salão do Acrílico - prêmio aquisição
1973 - Rio de Janeiro RJ - Concurso de Múltiplos da Petite Galerie - primeiro prêmio de viagem ao exterior
1977 - Belo Horizonte MG - 5º Salão Global de Inverno, na Fundação Palácio das Artes
1977 - Brasília DF - 5º Salão Global de Inverno, na Fundação Cultural do Distrito Federal
1977 - Rio de Janeiro RJ - 5º Salão Global de Inverno, no MNBA
1977 - São Paulo SP - 5º Salão Global de Inverno, no Masp
1981 - Rio de Janeiro RJ - Do Moderno ao Contemporâneo, no MAM/RJ
1982 - Lisboa (Portugal) - Do Moderno ao Contemporâneo: Coleção Gilberto Chateaubriand, no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão
1982 - Rio de Janeiro RJ - Que Casa é essa da Arte Brasileira
1984 - Rio de Janeiro RJ - Neoconcretismo 1959-1961, na Galeria de Arte Banerj
1987 - Rio de Janeiro RJ - Ao Colecionador: homenagem a Gilberto Chateaubriand , no MAM/RJ
1987 - São Paulo SP - Palavra Imágica, no MAC/USP
1991 - Curitiba PR - Rio de Janeiro 59/60: experiência neoconcreta, no Museu Municipal de Arte
1991 - Rio de Janeiro RJ - Rio de Janeiro 59/60: experiência neoconcreta, no MAM/RJ
1992 - São Paulo SP - Anos 60/70: Coleção Gilberto Chateubriand - MAM/RJ, na Galeria de Arte do Sesi
1993 - Rio de Janeiro RJ - Arte Erótica, no MAM/RJ
1998 - São Paulo SP - O Moderno e o Contemporâneo na Arte Brasileira: Coleção Gilberto Chateaubriand - MAM/RJ, no Masp
2000 - Rio de Janeiro RJ - Situações: arte brasileira anos 70, na Fundação Casa França-Brasil
2001 - São Paulo SP - Trajetória da Luz na Arte Brasileira, no Itaú Cultural
2002 - Rio de Janeiro RJ - Genealogia do Espaço, na Galeria do Parque das Ruínas
2003 - Campos dos Goytacazes RJ - Poema Planar-Espacial, no Sesc/Campos dos Goytacazes
2003 - Nova Friburgo RJ - Poema Planar-Espacial, na Galeria Sesc Nova Friburgo
Fonte: OSMAR Dillon. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2023. Acesso em: 01 de março de 2023. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7
---
Exposição no Rio resgata obra de Osmar Dillon, nome pouco lembrado do neoconcretismo
É difícil escrever ou falar sobre o neoconcretismo sem cair no lugar comum, sem reiterar a importância de artistas como Lygia Clark e Hélio Oiticica, sem refazer a trilha que sempre passa por certos fatos, personagens e concepções. A arte neoconcreta já é História, uma vez que a convocamos com tanto frescor para pensar a arte que fazemos hoje. É importante termos em conta, ao tratarmos o neoconcretismo como herança, o compromisso de atualizá-lo em nossos discursos e práticas, não nos privando de enfrentar certos impasses. Voltar o olhar para a História sem contribuir com os esforços que em todos os campos têm revelado seus ângulos mais diagonais, e possibilitado sua reescrita, não faz hoje o menor sentido. Apesar de recente entre nós, o campo da pesquisa em arte, em grande parte ocupado pelas universidades, mas não apenas, tem se revelado um lugar de possibilidades para este exercício.
Uma das questões fundamentais do neoconcretismo, que a meu ver chega até nós mais ou menos inexplorada, é a relação imbricada entre poesia e artes visuais, protagonizada por aquele grupo de artistas e poetas que compartilhavam com grande afinidade as soluções que iam descobrindo ao reformularem as proposições do concretismo. Na maioria dos casos, a relação entre poetas e artistas é discutida no âmbito de uma disputa, muitas vezes rancorosa, pela autoria ou antecedência na realização de certas ideias que revelaram aspectos caros àquele movimento, como a participação do espectador/leitor, feito então participante. Essas disputas não me parecem importantes. O que nos interessa hoje é reconhecer o neoconcretismo como o embrião de uma ideia de arte — sem nenhum complemento, visual ou plástico — dotada de profunda permeabilidade, que nasce justamente dessa fusão de linguagens. Nesse espaço de atravessamento que se inaugura, propício ao exercício experimental de liberdade, como colocado por Mário Pedrosa, uma referência central para aquele grupo, podemos evoluir e bailar, se tivermos a perspicácia de mantê-lo aberto.
Mostra explora relação entre poesia e artes visuais
Na paisagem neoconcreta existem poetas como Osmar Dillon, Reynaldo Jardim, Theon Spanudis, Oliveira Bastos, além de Ferreira Gullar, cujos escritos constituem importante documento sobre o período e que, tendo sido devidamente celebrado, teve a chance de se posicionar sobre a importância do seu trabalho no desenvolvimento do neoconcretismo. Isso citando apenas os poetas que participaram efetivamente do neoconcretismo no Rio de Janeiro. Pensando a relação entre artes visuais e poesia como uma questão latente daquele contexto histórico, encontramos Wlademir Dias-Pino, Neide Dias de Sá e outros artistas ligados ao poema-processo, que produziram concomitantemente ao grupo neoconcreto obras bastante contundentes na mesma direção.
Na exposição “Osmar Dillon: não-objetos poéticos”, em cartaz a partir de hoje no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, temos a chance de rever a relação entre poesia e artes visuais no trabalho do arquiteto, poeta e artista Osmar Dillon (Belém, 1930 – Rio de Janeiro, 2013). Em um trabalho significativo de pesquisa, guiado de forma generosa por Roberto Feitosa, seu companheiro e um dos curadores da exposição, foram refeitos praticamente todos os trabalhos apresentados por Dillon nas exposições do grupo neoconcreto entre 1960 e 1961. São poemas-objeto como “Lua”, “Ave”, “Flor” e “Ato”, marcados por um processamento lúdico que potencializa o aspecto temporal da palavra. O espectador é integrado por meio de gestos muito simples, como tomar uma bola nas mãos, desdobrar uma página, abrir uma pequena porta. Em “Paz” e “Sim”, palavras fragmentadas em quebra-cabeças de grandes dimensões, a participação é jogo, e a palavra se integra na paisagem, sendo desfeita e rearranjada nesse brincar que a reconfigura e lhe confere infinitos significados.
Os desenhos/projetos da série Estudo para um Monumento Vivencial I, II e III, realizados entre 1961 e 1970, dialogam com o horizonte e a arquitetura de Brasília, recém-inaugurada. Nesses monumentos — utopias ambientais —, Dillon processa de forma sofisticada suas referências literárias mais enraizadas: o surrealismo e o concretismo, o inconsciente freudiano, a semiótica e a fenomenologia. Dentro da sua quase inexequibilidade, como defendido por Walmir Ayala (“Jornal do Brasil”, 22/1/1970), “há o embrião de uma linguagem total da arte”. E o desejo de transitar entre arte e vida, que também levou, entre outros, Lygia Clark de “A casa é o corpo” para o set terapêutico da “Estruturação do self".
O crítico Roberto Pontual reconhece, em texto sobre a I Exposição Neoconcreta (“O metropolitano”, 5/4/1959), que naquele momento seminal a poesia era a face mais radical do neoconcretismo. É importante também reconhecermos hoje a obra desses poetas como referência para artistas como Lygia Pape, Lygia Clark, Amilcar de Castro e Hélio Oiticica, que, no desenvolvimento de seu trabalho, ocuparam merecidamente lugar de destaque na história da arte brasileira. Assim como Dillon, os poetas neoconcretos merecem estudos mais aprofundados diante da riqueza de seu legado.
Fonte: Globo, Exposição no Rio resgata obra de Osmar Dillon, nome pouco lembrado do neoconcretismo, publicado por Izabela Pucu, em 07 de março de 2015. Consultado pela última vez em 2 de março de 2023.
---
Osmar Dillon — Raphael Fonseca
O Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, no Centro do Rio de Janeiro, abrigou por dois meses uma reunião de trabalhos de Osmar Dillon. Nascido na cidade de Belém, no norte do Brasil, em 1930 e falecido no Rio de Janeiro em 2013, o artista participou da segunda e terceira edições da Exposição de Arte Neoconcreta, realizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Essa revisão de seu trabalho faz jus, portanto, ao artista que dá nome à instituição e às narrativas paralelas à sua obra, visto que Oiticica, além de participar das três exposições do neoconcretismo, também foi um dos autores responsáveis por assinar o Manifesto Neoconcreto, em 1959.
Quase sessenta anos após as primeiras linhas sobre a ideia de “neoconcreto”, é mais do que o momento de se lançar luz sobre artistas que fujam da tríade quase sagrada constituída pelos nomes de Oiticica, Lygia Clark e Lygia Pape, e de nomes que sejam diferentes daqueles outros importantes artistas que já tiveram uma trajetória institucionalizada de modo significativo, como Amilcar de Castro, Ferreira Gullar e Franz Weissmann. Aberta alguns meses após a retrospectiva de Amélia Toledo no Paço Imperial – outra artista de atividade constante nesse mesmo período histórico – a exposição convidava à leitura do público de um jornal da década de 1970 onde os nomes dos dois artistas eram ladeados por outras figuras também merecedoras de revisões. Quais experiências sensíveis as ali citadas obras de Yutaka Toyota, Paulo Roberto Leal, Raimundo Collares e Ubi Bava podem ativar no espectador contemporâneo? Eis uma pergunta que só futuras pesquisas em história da arte e curadoria podem responder.
No que diz respeito a essa exposição, é possível pensá-la partir de três momentos distintos dados pelo uso das salas. Na entrada, o público era recebido por uma série de formas geométricas tridimensionais que ocupavam quase integralmente a área do chão. O contraste entre o agrupamento separado de formas vermelhas e brancas trazia à tona um dos elementos essenciais da produção de Dillon e, por consequência, do grupo de artistas próximos ao neoconcretismo: a cor. As formas vermelhas, através do corpo do espectador, juntas formavam a palavra “paz”, ao passo que as brancas formavam um “sim”. A relação entre imagem e palavra - tão cara ao artista –, além da problematização da escultura como objeto a ser ativado por parte do público, já se fazem presentes.
Na segunda sala, maior do que a primeira, cubos, móveis e mesas eram suporte dos diversos objetos criados pelo artista. Um olhar panorâmico pelo espaço possibilita uma coleta das palavras que apontavam para o campo semântico de interesse de Dillon: “sol”, “chuva”, “céu”, “vento”, “lua” e “nuvem”. Interessante pensar que, por mais que não exista nenhuma paisagem explícita, são estas palavras que giram em torno do repertório relativo à natureza que aparece com mais frequência nessa seleção de obras. Ao notarmos o caráter representacional da cor em todos esses objetos – onde, por exemplo, o “sol” é um objeto amarelo e o “céu” uma estrutura azul -, temos uma recodificação da pintura de paisagem, tradição importante na cultura visual do Rio de Janeiro.
Já outros objetos necessitavam e permitiam a manipulação por parte do público. As palavras “ato” e “lua” se desconstruíam através da movimentação de materiais industriais como o vidro, do mesmo modo que uma folha de papel se desdobrava de dentro do trio “raiz caule folha”. Percebíamos que ali estavam contidas “lua sol” e, por fim, “flor”. Também em papel, “vento” se distorcia em letras separadas e, já em acrílico, a letra “o” da palavra “som” ganhava a forma de uma bola de tênis de mesa que, ao se movimentar dentro de uma caixa, proporcionava uma experiência relativa ao significado da palavra. É esse jogo entre significante e significado, entre as formas geométricas que constituem as letras de uma palavra e suas relações com campos semânticos e cromáticos específicos, que parece mover a produção central a essa exposição, ou seja, aquela da década de 1960.
Era na terceira e última sala que outras explorações da forma por parte de Dillon vinham à tona e surpreendiam. Se, por um lado, é possível aproximá-las do interesse do artista em palavras como “sexo” e “ovo”, orgânicas e instintivas, a forma plástica se revela como discrepante. Enquanto na segunda sala essas duas palavras são interconectadas, novamente, através da geometria e do movimento de uma bolinha que é ao mesmo tempo a letra “o” de “sexo” e de “ovo”, no terceiro espaço o sexo e o corpo humano são presentes através de desenhos em forte diálogo com aquilo que se convencionou chamar de “surrealismo”.
Seios, formas que lembravam nádegas, testículos, bocas humanas e peixes predadores se misturavam e davam o tom de alguns desenhos do final da década de 1940, além de algumas pinturas do final da década de 1960 e começo da década seguinte. Baseados em mesas, mas içados a partir do teto, também era possível ver uma série de desenhos intitulados “Estudo para um monumento vivencial”, onde o artista criava prédios fictícios e propunha modos de experimentação dos mesmos através do corpo. Por fim, alguns poemas datilografados por Dillon e em torno dos elementos de seu interesse aqui comentados se colocavam como outro ponto de ligação com os trabalhos anteriormente vistos e onde a palavra era protagonista.
Ao final da exposição, ficava uma curiosidade pelas décadas posteriores de sua produção; o que Osmar Dillon produziu no período entre a década de 1970 e 2013? Longe, porém, de querer se configurar como uma “retrospectiva completa” de sua obra (pretensão que, como qualquer exposição, sempre deixa hiatos), essa curadoria enfocada nesse recorte temporal preciso é importante como introdução à complexidade da pesquisa artística de Dillon. Que essa exposição incentive outras visadas em torno dos artistas menos conhecidos do chamado “neoconcretismo brasileiro” e que a curadoria e a história da arte sejam capazes de não criar novos dogmas, mas de aproximar, diferenciar e reunir imagens e trajetórias.
Fonte: Raphael Fonseca – Osmar Dillon. Texto publicado originalmente na ArtNexus de junho-agosto de 2015. Consultado pela última vez em 2 de março de 2023.
---
Osmar Dillon | por Antônio Miranda
Osmar Dillon é uma das pessoas que mais admirei em minha juventude. Cheguei até ao apartamento em que vivia, na zona sul do Rio de Janeiro, com nosso amigo comum Roberto Pontual, outro admirador e propagador de sua obra. Isso aconteceu no início do emblemático ano de 1960 — ano da inauguração de Brasília, no auge da Bossa Nova, do Cinema Novo e do movimento neoconcreto (criado em 1959). O arquiteto Osmar Dillon já montava seus “livro-poemas” e, em decorrência, os “não-objetos verbais”, numa experimentação de textos manipuláveis, participativos, escultóricos.
Muito jái se escreveu sobre este trabalho pioneiro de Dillon. Eu mesmo me referi a ele em várias oportunidades, no Brasil e na Argentina, em artigos e cursos sobre arte verbal de vanguarda.
Publiquei um texto sobre a criação de Dillon no célebre SDJB com o pseudônimo de Da Nirham Eros (da,nirham: eRos) — “Poesia/Um paralelo – Estrutura e Conteúdo”, Suplemento Dominical de Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 29 out. 1961. Confesso que não lembrava mais... Descobri a referência bibliográfica no catálogo do artista de uma exposição individual : OSMAR DILLON . objetos. múltiplos 1972, Galeria de Arte Ipanema. Não conservei, infelizmente, nem o recorte do jornal nem o manuscrito do artigo mas é questão agora de ir aos arquivos da editora... mas certamente aludia à fusão do verbal com o visual em sua obra.
Logo em seguida Dillon partiu para exercício no espírito da integração das artes:
“Uma poesia de permanente fundamento plástico, como se as palavras
se destinassem à pintura (“meus dedos são tubos de tinta”); uma
pintura de fala, com a viscelaridade de contorsões oníricas
correspondendo ao jogo aliterativo de toda a sua poesia. Assim — com
a poesia perdendo palavras, mas não a referência ao mundo exterior, e
a pintura abandonando a figuração explícita, mas não o símbolo — foi
por um processo natural de despojamento de ambos os âmbitos, e com
o acréscimo de sua tarefa profissional de arquiteto, que ele formulou a
partir de 1960 o rumo ainda hoje se desdobrando”. Roberto Pontual,
no catálogo supra citado, 1972.
Surge a proposta “neoconcreta” de superar o maquinismo e assegurar o conceito de Wladimir Weidlé que Pontual reitera no referido catálogo:
“no sentido de sua nítida semelhança estrutural com os ORGANISMOS
VIVOS. Assegurando o revigoramento de três vetores básicos da arte
em nosso século [XX] — substituição do ato de representar a realidade
pelo de presentificá-la; a emergência de participação do espectador
como co-autor da obra, infinitamente aberta; e a síntese dos antes
estanques departamentos da expressão — tentativas de ampliar e
aprofundar a fusão da palavra e a visualidade, seja em ideogramas
verbais, em livros-poemas ou em NÃO-OBJETOS, termo
visionariamente criado por Ferreira Gullar para definir uma nova
categoria de trabalho”.
Um exemplo é o livro-poema AVE, de 1960, de Dillon:
em que a manipulação da placa azul, presa ao centro do suporte, podia ser circulada no processo de “leitura”, sugerindo o “vôo” da ave. Em verdade, o “vôo” (movimento) da “asa” é dado pela participação e vivenciamento do “leitor” durante a manipulação da peça.
Merece destaque também o “poema” CHEIO, descrito por Roberto Pontual:
“O passo seguinte, no impulso de curiosidade por diferentes processos,
seria o abandono da pura superfície do papel em busca do espaço
tridimensional concreto que nos circunscreve. CHEIO é o melhor
exemplo dessa transição de extrema importância: aqui, a folha vazada
nos conduz para além do plano e engendra seu significado pela tensa
oposição dos elementos verbal (cheio) e visual (vazio). É preciso
constatar ainda, nesse mesmo ideograma, o emprego tático de uma
particularidade física das letras que constituem a palavra CHEIO, todas
elas permanecendo simetricamente idênticas quando divididas pela
metade, o que impede, nessas circunstâncias, que a palavra tenha um
avesso.”
Roberto pretendeu assinalar que, se o “leitor” virar a folha ao contrário e virá-la de cabeça para baixo, ela continuará apresentando a palavra CHEIO, e não seu avesso... Efeito que poderia ser apresentado atualmente numa animação gráfica, virtualmente. Cabe ressaltar ainda que as letras estão vazadas na superfície da página, pelo corte do papel, efeito tridimensional que a Internet ainda não consegue apresentar... Efeito que poderia ser apresentado atualmente numa animação gráfica, virtualmente. Previsivelmente, o artista-arquiteto parte para uma criação mais “vivencial”, através de projetos de monumentos como o SÓ, que chegou a ser semifinalista do Symposium Urban Nürenberg.
“Uma proposta de atingir e ativar o inconsciente pela envolvência dos
choques de visualidade amalgamada a sons, palavras, materiais e tempo
— a vida totalizada. Mergulhado e envolvido, o homem se conheceria,
alfa e ômega, retornando. Teria passado pelo frio e fogo de sua própria
matéria”. Roberto Pontual
Uma autêntica “instalação”, só que permanente, como um templo para a vivência, digamos, litúrgica em sua relação com a arte e a poesia.
Em 1966 fui para a Venezuela e só voltei a estar com Dillon em 1968, numa breve visita que fiz ao Rio de Janeiro. De lá para cá perdi o contato com o grande artista. Descubro-o pela Internet, que é o lugar de encontro com os contemporâneos. Quase quarenta anos depois!
Quero completar a presente homenagem ao amigo com a imagem de um de seus trabalhos mais recentes. Atestando a evolução e a permanência de uma proposta criativa que se renova mas não trai as suas raízes, como sugeriu Edgar Morin ao exigir da poesia o lastro de sua sustentabilidade.
Fonte: Antonio Miranda – Osmar Dillon. Publicado em janeiro de 2005. Osmar Dillon, um artista de vanguarda (cópia de um texto manuscrito, incompleto, de Da, nirham: eRos (pseudônimo de Antonio Miranda nos anos 50 e início dos anos 60 do século XX). Consultado pela última vez em 2 de março de 2023.
---
O neoconcretismo poético de Osmar Dillon – Prefeitura do Rio de Janeiro
É difícil escrever ou falar sobre o neoconcretismo sem cair no lugar comum, sem reiterar a importância de artistas como Lygia Clark e Hélio Oiticica, sem refazer a trilha que sempre passa por certos fatos, personagens e concepções. A arte neoconcreta já é história – é preciso lembrar – uma vez que a convocamos com tanto frescor para pensar a arte que fazemos hoje. É importante termos em conta, ao tratarmos o neoconcretismo como herança, o compromisso de atualizá-lo em nossos discursos e práticas, não nos privando de enfrentar certos impasses. Voltar o olhar para a história sem contribuir com os esforços que em todos os campos têm revelado seus ângulos mais diagonais e possibilitado sua reescrita, não faz hoje o menor sentido. O campo da pesquisa em arte, em grande parte ocupado pelas universidades, mas não apenas, apesar de recente entre nós tem se revelado um lugar de possibilidades para este exercício.
Uma das questões fundamentais do neoconcretismo que a meu ver chega até nós mais ou menos inexplorada, é a relação imbricada entre poesia e artes visuais, protagonizada por aquele grupo de artistas e poetas que compartilhavam com grande afinidade as soluções que iam descobrindo ao reformularem as proposições do concretismo. Na maioria dos casos a relação entre poetas e artistas é discutida no âmbito de uma disputa, muitas vezes rancorosa, pela autoria ou antecedência na realização de certas idéias que revelaram aspectos caros àquele movimento, como a participação do espectador/leitor, feito então participador. Essas disputas não me parecem importantes. O que nos interessa hoje é reconhecer o neoconcretismo como o embrião de uma idéia de arte – sem nenhum complemento, visual ou plástico – dotada de profunda permeabilidade, que nasce justamente dessa fusão de linguagens. Nesse espaço de atravessamento que se inaugura, propício ao exercício experimental de liberdade, como colocado por Mário Pedrosa, uma referência central para aquele grupo, podemos evoluir e bailar, se tivermos a perspicácia de mantê-lo aberto.
Na paisagem neoconcreta existem poetas como Osmar Dillon, Reynaldo Jardim, Theon Spanudis, Oliveira Bastos, além de Ferreira Gullar, cujos escritos constituem importante documento sobre o período, e que tendo sido devidamente celebrado teve a chance de se posicionar sobre a importância do seu trabalho no desenvolvimento do neoconcretismo. Isso citando apenas os poetas que participaram efetivamente do neoconcretismo no Rio de Janeiro. Pensando a relação entre artes visuais e poesia como uma questão latente daquele contexto histórico, encontramos Wlademir Dias Pino, Neide Dias de Sá e outros artistas ligados ao poema-processo, que produziram concomitantemente ao grupo neoconcreto obras bastante contundentes na mesma direção.
Na exposição "Osmar Dillon: não objetos poéticos", em cartaz no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, temos a chance de rever a relação entre poesia e artes visuais no trabalho do arquiteto, poeta, artista Osmar Dillon (Belém, 1930 – Rio de Janeiro, 2013). Em um trabalho significativo de pesquisa, guiado de forma generosa por Roberto Feitosa, seu companheiro e um dos curadores da exposição, foram refeitos praticamente todos os trabalhos apresentados por Dillon nas exposições do grupo neoconcreto entre 1960 e 1961. São poemas-objeto como Lua, Ave, Flor e Ato, marcados por um processamento lúdico que potencializa o aspecto temporal da palavra. O espectador é integrado por meio de gestos muito simples, como tomar uma bola nas mãos, desdobrar uma página, abrir uma pequena porta. Em Paz e Sim, palavras fragmentadas em quebra-cabeças de grandes dimensões, a participação é jogo, e a palavra se integra na paisagem, sendo desfeita e rearranjada nesse brincar que a reconfigura e lhe confere infinitos significados.
Os desenhos/projetos da série Estudo para um Monumento Vivencial I, II e III, realizados entre 1961 e 1970, dialogam com o horizonte e a arquitetura de Brasília, recém-inaugurada. Nesses monumentos – utopias ambientais –, Dillon processa, de forma sofisticada, suas referências literárias mais enraizadas: o surrealismo e o concretismo, o inconsciente freudiano, a semiótica e a fenomenologia. Dentro da sua quase inexequibilidade, como defendido por Walmyr Ayala (Jornal do Brasil, 22/01/1970), "há o embrião de uma linguagem total da arte". E o desejo de transitar entre arte e vida, que também levou, entre outros, Lygia Clark de A casa é o corpo para o set terapêutico da Estruturação do self.
O crítico Roberto Pontual reconhece, em seu texto sobre a I Exposição Neoconcreta (O metropolitano, 05/04/1959), que naquele momento seminal a poesia era a face mais radical do neoconcretismo. É importante também reconhecermos hoje a obra desses poetas como referência para artistas como Lygia Pape, Lygia Clark, Amilcar de Castro, Hélio Oiticica, que, no desenvolvimento de seu trabalho, ocuparam merecidamente lugar de destaque na história da arte brasileira. Não tenho dúvida de que, assim como Dillon, os poetas neoconcretos merecem estudos mais aprofundados diante da riqueza de seu legado.
Izabela Pucu é Mestre em Linguagens Visuais e Doutoranda em História e Crítica de Arte pelo PPGAV/EBA/UFRJ, Diretora do Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica e uma das curadoras da exposição "Osmar Dillon: não objetos poéticos".
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro. Texto de Izabela Pucu. Consultado pela última vez em 2 de março de 2023.
---
Neoconcretismo | Itaú Cultural
A ruptura neoconcreta na arte brasileira data de março de 1959, com a publicação do Manifesto Neoconcreto pelo grupo de mesmo nome, e deve ser compreendida a partir do movimento concreto no país, que remonta ao início da década de 1950 e aos artistas do Grupo Frente, no Rio de Janeiro, e do Grupo Ruptura, em São Paulo. Tributária das correntes abstracionistas modernas das primeiras décadas do século XX - com raízes em experiências como as da Bauhaus, dos grupo De Stijl [O Estilo] e Cercle et Carré, além do suprematismo e construtivismo soviéticos -, a arte concreta ganha terreno no país em consonância com as formulações de Max Bill, principal responsável pela entrada desse ideário plástico na América Latina, logo após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
O contexto desenvolvimentista de crença na indústria e no progresso dá o tom da época em que os adeptos da arte concreta no Brasil vão se movimentar. O programa concreto parte de uma aproximação entre trabalho artístico e industrial. Da arte é afastada qualquer conotação lírica ou simbólica. O quadro, construído exclusivamente com elementos plásticos - planos e cores -, não tem outra significação senão ele próprio. Menos do que representar a realidade, a obra de arte evidencia estruturas e planos relacionados, formas seriadas e geométricas, que falam por si mesmos. A despeito de uma pauta geral partilhada pelo concretismo no Brasil, é possível afirmar que a investigação dos artistas paulistas enfatiza o conceito de pura visualidade da forma, à qual o grupo carioca opõe uma articulação forte entre arte e vida - que afasta a consideração da obra como "máquina" ou "objeto" -, e uma ênfase maior na intuição como requisito fundamental do trabalho artístico. As divergências entre Rio e São Paulo se explicitam na Exposição Nacional de Arte Concreta, São Paulo, 1956, e Rio de Janeiro, 1957, início do rompimento neoconcreto.
O manifesto de 1959, assinado por Amilcar de Castro (1920-2002), Ferreira Gullar (1930-2016), Franz Weissmann (1911-2005), Lygia Clark (1920-1988), Lygia Pape (1927-2004), Reynaldo Jardim (1926-2011) e Theon Spanudis (1915-1986), denuncia já nas linhas iniciais que a "tomada de posição neoconcreta" se faz "particularmente em face da arte concreta levada a uma perigosa exacerbação racionalista". Contra as ortodoxias construtivas e o dogmatismo geométrico, os neoconcretos defendem a liberdade de experimentação, o retorno às intenções expressivas e o resgate da subjetividade. A recuperação das possibilidades criadoras do artista - não mais considerado um inventor de protótipos industrais - e a incorporação efetiva do observador - que ao tocar e manipular as obras torna-se parte delas - apresentam-se como tentativas de eliminar certo acento técnico-científico presente no concretismo. Se a arte é fundamentalmente meio de expressão, e não produção de feitio industrial, é porque o fazer artístico ancora-se na experiência definida no tempo e no espaço. Ao empirismo e à objetividade concretos que levariam, no limite, à perda da especificidade do trabalho artístico, os neoconcretos respondem com a defesa da manutenção da "aura" da obra de arte e da recuperação de um humanismo.
Uma tentativa de renovação da linguagem geométrica pode ser observada nas esculturas de Amilcar de Castro. Os cortes e dobras feitos em materiais rígidos como o ferro, evidenciam o trabalho despendido na confecção do objeto. Do embate entre o ato do artista - que busca traços precisos - e a matéria resistente, nasce a obra, fruto do esforço construtivo, mas também da emoção. Nas palavras de Castro: "Arte sem emoção é precária. Max Bill queria uma coisa tão fabulosamente pura, sem emoção". Nas séries dos Bilaterais e Relevos Espaciais, 1959, de Hélio Oiticica (1937-1980) e nos Trepantes realizados por Lygia Clark na década de 1960, por exemplo, as formas conquistam o espaço de maneira decisiva para, logo em seguida, romper as distâncias entre o observador e a obra, como nos Bichos, criados por Lygia Clark e nos Livros, de Lygia Pape. A arte interpela o mundo, a vida e também o corpo, atestam o Ballet Neoconcreto, 1958, de Lygia Pape e os Penetráveis, Bólides e Parangolés criados por Oiticica nos anos 1960. A cor, recusada por parte do concretismo, invade as pesquisas neoconcretas, por exemplo nas obras de Aluísio Carvão (1920-2001), Hércules Barsotti (1914-2010), Willys de Castro (1926-1988) e Oiticica. Estudos realizados sobre o tema frisam o lugar do movimento neoconcreto como divisor de águas na história das artes visuais no Brasil; um ponto de ruptura da arte moderna no país, diz o crítico Ronaldo Brito.
Fonte: NEOCONCRETISMO. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2023. Acesso em: 02 de março de 2023. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7
Crédito fotográfico: Antônio Miranda - Osmar Dillon. Consultado pela última vez em 2 de março de 2023.
Osmar Dillon (1930, Belém, PA — 2013, Rio de Janeiro, RJ), é um artista visual e poeta brasileiro. Formou-se em arquitetura pela Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, em 1954. Estudou como bolsista na Itália no fim da década de 50. Dedica-se à pintura e, em paralelo, à poesia. Em 1960, procura uma integração entre poesia e pintura, cujo resultado são livros-poemas e não-objetos verbais. No Rio de Janeiro integra o Movimento de Arte Neoconcreta, 1959 e 1960. Afastou-se do circuito das artes plásticas entre 1961 e 1968; nesse ano expõe individualmente na Galeria Cosme Velho, São Paulo. Acumulou prêmios, destacando-se o primeiro prêmio de viagem ao exterior no "Salão do Acrílico", Petit Galerie, Rio, em 1973. Osmar foi convidado a participar do acervo do Museu de Ontário, Canadá, com exposição no MAM do Rio e em Ontário, 1974. Premiado em 1971 no Salão da Eletrobras, MAM, Rio, foi semifinalista no Symposium Urbanum de Nuremberg, Alemanha. Vencedor de vários prêmios de viagem, Osmar participou de diversas exposições coletivas e individuais no Brasil e no mundo.
Biografia – Itaú Cultural
Forma-se em arquitetura pela Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, em 1954. Estuda como bolsista na Itália no fim da década de 50. Dedica-se à pintura e, em paralelo, à poesia. Em 1960, procura uma integração entre poesia e pintura, cujo resultado são livros-poemas e não-objetos verbais. No Rio de Janeiro integra o Movimento de Arte Neoconcreta, 1959 e 1960, e faz parte dos Domingos de Criação, 1971.
Críticas
"(...) sempre se dedicou mais à pintura e, paralelamente, à poesia, ambas caracterizadas por uma tendência inicial no sentido do surrealismo. No princípio da década de 1960, buscando uma integração cada vez mais funcional entre poesia e pintura, elaborou uma série de pequenos poemas com o aproveitamento significante do espaço em branco da página; essas experiências, que desembocaram em livros-poemas e não-objetos verbais, levaram-no a participar do movimento de arte neoconcreta. (...) Mais recentemente, depois de uma fase de menos intensidade de trabalho no campo da arte, voltou a pintar, seguindo dois rumos aparentemente distintos, mas que mantêm, na profundidade, uma ligação sensível: de um lado, a pintura de fachadas da arquitetura brasileira, numa pesquisa de relevos com massa de gesso, às quais terminou acrescentando perspectivas de paisagens vistas através de portas, janelas ou muros, em clima de tranqüilo, mas pulsante, mistério; do outro, a série de seus DEVORANTES, com franca retomada do surrealismo e das referências eróticas, na crítica da contemporaniedade" — Roberto Pontual (PONTUAL, Roberto. Dicionário das artes plásticas no Brasil. Apresentação de Antônio Houaiss. Textos de Mário Barata et al. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969).
"Sempre que se escreve sobre a excelente obra visual de Osmar Dillon (...), parece-me que tem sido impossível evitar certos vocábulos buscados na vizinhança área poética. Mas não se trata, em seu caso, do freqüente empréstimo de metáforas com que a crítica de arte procura agasalhar certas idéias. A verdade é que esse artista discreto, de temperamento machadiano, inaugurou no Brasil, em fins da década de 60, uma linguagem pessoal, cujos três elementos constitutivos cresceram em simbiose. O primeiro é o jogo de formas e de cores - as artes visuais com que Dillon trabalha há longa data, auxiliado e disciplinado (às vezes, ao extremo) por sua formação de arquiteto. O segundo é o emprego sistemático da palavra, não apenas como ornamento, forma gráfica ou legenda, mas sim como parte inalienável do recado assumido pela obra. O terceiro, enfim, é a participação do espectador, que não se limita a contemplar um produto acabado. Creio estar, na obra de Dillon, um dos mais lúcidos exemplos de como incorporar ricamente essa tendencia. Mesmo quando recorre ao gesto físico direto, a participação em suas propostas ultrapassa bastante o lado lúdico. Porque exige, ao mesmo tempo, um exercício mental com conceitos e formas abstratas, palavras e relações, reconstelando-os criadoramente numa nova floresta de sentidos. Nisso vem, sem dúvida, algo da tradição do Dillon poeta, que, em princípios dos anos 60, integrava no Rio o movimento neoconcreto. Foi com o neoconcretismo, por exemplo, que a simultaneidade entre o fazer-se da obra e o seu consumo se tornou uma das preocupações da criação. E Dillon se mostra herdeiro do "não objeto" teorizado por Gullar em muitos de seus trabalhos atuais, que gravitam em órbitas paralelas como tempo, forma, espaço e ação" — Olívio Tavares de Araújo (Dillon, Osmar. Chuva. Apresentação Olívio Tavares de Araújo. São Paulo: Galeria de Arte Ipanema, 1974. f. dobrada: il. p. b.)
Exposições Individuais
1968 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Cosme Velho
1970 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria de Arte Copacabana Palace
1972 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Ipanema
1974 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Ipanema
Exposições Coletivas
1959 - Rio de Janeiro RJ - 1ª Exposição de Arte Neoconcreta, no MAM/RJ
1959 - Salvador BA - Exposição de Arte Neoconcreta, no Belvedere da Sé
1960 - Rio de Janeiro RJ - 2ª Exposição Neoconcreta, no MEC
1961 - Petrópolis RJ - 2ª Exposição Poegoespacial
1961 - São Paulo SP - 3ª Exposição Neoconcreta, no MAM/SP
1969 - Rio de Janeiro RJ - 18º Salão Nacional de Arte Moderna
1969 - São Paulo SP - 10ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal
1970 - Campinas SP - 6º Salão de Arte Contemporânea de Campinas, MACC
1970 - Rio de Janeiro RJ - 19º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/SP
1970 - Rio de Janeiro RJ - 2º Salão de Verão, no MAM/RJ - primeiro prêmio de viagem ao exterior
1970 - Rio de Janeiro RJ - O Rosto e A Obra, no Ibeu
1970 - São Paulo SP - Pré-Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal
1971 - Curitiba PR - 28º Salão Paranaense de Artes Plásticas, na Biblioteca Pública do Paraná - artista convidado
1971 - Nürenberg (Alemanha) - Symposium Urbanum - artista semifinalista
1971 - Rio de Janeiro RJ - 1º Salão da Eletrobrás, no MAM/RJ - prêmio aquisição
1971 - Rio de Janeiro RJ - 20º Salão Nacional de Arte Moderna
1971 - Rio de Janeiro RJ - 9º Resumo JB, no MAM/RJ
1971 - Rio de Janeiro RJ - Exposição de Múltiplos, na Petite Galeria
1972 - Belo Horizonte MG - 4º Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte
1972 - Rio de Janeiro RJ - 21º Salão Nacional de Arte Moderna
1972 - Rio de Janeiro RJ - Coleção Gilberto Chateaubriand, no Ibeu
1972 - Rio de Janeiro RJ - Múltiplos, na Petite Galerie
1972 - Rio de Janeiro RJ - Salão da Luz e do Movimento - premiação
1972 - São Paulo SP - Arte/Brasil/Hoje: 50 anos depois, na Galeria Collectio
1972 - São Paulo SP - 4º Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM/SP
1973 - Rio de Janeiro RJ - 1º Salão do Acrílico - prêmio aquisição
1973 - Rio de Janeiro RJ - Concurso de Múltiplos da Petite Galerie - primeiro prêmio de viagem ao exterior
1977 - Belo Horizonte MG - 5º Salão Global de Inverno, na Fundação Palácio das Artes
1977 - Brasília DF - 5º Salão Global de Inverno, na Fundação Cultural do Distrito Federal
1977 - Rio de Janeiro RJ - 5º Salão Global de Inverno, no MNBA
1977 - São Paulo SP - 5º Salão Global de Inverno, no Masp
1981 - Rio de Janeiro RJ - Do Moderno ao Contemporâneo, no MAM/RJ
1982 - Lisboa (Portugal) - Do Moderno ao Contemporâneo: Coleção Gilberto Chateaubriand, no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão
1982 - Rio de Janeiro RJ - Que Casa é essa da Arte Brasileira
1984 - Rio de Janeiro RJ - Neoconcretismo 1959-1961, na Galeria de Arte Banerj
1987 - Rio de Janeiro RJ - Ao Colecionador: homenagem a Gilberto Chateaubriand , no MAM/RJ
1987 - São Paulo SP - Palavra Imágica, no MAC/USP
1991 - Curitiba PR - Rio de Janeiro 59/60: experiência neoconcreta, no Museu Municipal de Arte
1991 - Rio de Janeiro RJ - Rio de Janeiro 59/60: experiência neoconcreta, no MAM/RJ
1992 - São Paulo SP - Anos 60/70: Coleção Gilberto Chateubriand - MAM/RJ, na Galeria de Arte do Sesi
1993 - Rio de Janeiro RJ - Arte Erótica, no MAM/RJ
1998 - São Paulo SP - O Moderno e o Contemporâneo na Arte Brasileira: Coleção Gilberto Chateaubriand - MAM/RJ, no Masp
2000 - Rio de Janeiro RJ - Situações: arte brasileira anos 70, na Fundação Casa França-Brasil
2001 - São Paulo SP - Trajetória da Luz na Arte Brasileira, no Itaú Cultural
2002 - Rio de Janeiro RJ - Genealogia do Espaço, na Galeria do Parque das Ruínas
2003 - Campos dos Goytacazes RJ - Poema Planar-Espacial, no Sesc/Campos dos Goytacazes
2003 - Nova Friburgo RJ - Poema Planar-Espacial, na Galeria Sesc Nova Friburgo
Fonte: OSMAR Dillon. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2023. Acesso em: 01 de março de 2023. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7
---
Exposição no Rio resgata obra de Osmar Dillon, nome pouco lembrado do neoconcretismo
É difícil escrever ou falar sobre o neoconcretismo sem cair no lugar comum, sem reiterar a importância de artistas como Lygia Clark e Hélio Oiticica, sem refazer a trilha que sempre passa por certos fatos, personagens e concepções. A arte neoconcreta já é História, uma vez que a convocamos com tanto frescor para pensar a arte que fazemos hoje. É importante termos em conta, ao tratarmos o neoconcretismo como herança, o compromisso de atualizá-lo em nossos discursos e práticas, não nos privando de enfrentar certos impasses. Voltar o olhar para a História sem contribuir com os esforços que em todos os campos têm revelado seus ângulos mais diagonais, e possibilitado sua reescrita, não faz hoje o menor sentido. Apesar de recente entre nós, o campo da pesquisa em arte, em grande parte ocupado pelas universidades, mas não apenas, tem se revelado um lugar de possibilidades para este exercício.
Uma das questões fundamentais do neoconcretismo, que a meu ver chega até nós mais ou menos inexplorada, é a relação imbricada entre poesia e artes visuais, protagonizada por aquele grupo de artistas e poetas que compartilhavam com grande afinidade as soluções que iam descobrindo ao reformularem as proposições do concretismo. Na maioria dos casos, a relação entre poetas e artistas é discutida no âmbito de uma disputa, muitas vezes rancorosa, pela autoria ou antecedência na realização de certas ideias que revelaram aspectos caros àquele movimento, como a participação do espectador/leitor, feito então participante. Essas disputas não me parecem importantes. O que nos interessa hoje é reconhecer o neoconcretismo como o embrião de uma ideia de arte — sem nenhum complemento, visual ou plástico — dotada de profunda permeabilidade, que nasce justamente dessa fusão de linguagens. Nesse espaço de atravessamento que se inaugura, propício ao exercício experimental de liberdade, como colocado por Mário Pedrosa, uma referência central para aquele grupo, podemos evoluir e bailar, se tivermos a perspicácia de mantê-lo aberto.
Mostra explora relação entre poesia e artes visuais
Na paisagem neoconcreta existem poetas como Osmar Dillon, Reynaldo Jardim, Theon Spanudis, Oliveira Bastos, além de Ferreira Gullar, cujos escritos constituem importante documento sobre o período e que, tendo sido devidamente celebrado, teve a chance de se posicionar sobre a importância do seu trabalho no desenvolvimento do neoconcretismo. Isso citando apenas os poetas que participaram efetivamente do neoconcretismo no Rio de Janeiro. Pensando a relação entre artes visuais e poesia como uma questão latente daquele contexto histórico, encontramos Wlademir Dias-Pino, Neide Dias de Sá e outros artistas ligados ao poema-processo, que produziram concomitantemente ao grupo neoconcreto obras bastante contundentes na mesma direção.
Na exposição “Osmar Dillon: não-objetos poéticos”, em cartaz a partir de hoje no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, temos a chance de rever a relação entre poesia e artes visuais no trabalho do arquiteto, poeta e artista Osmar Dillon (Belém, 1930 – Rio de Janeiro, 2013). Em um trabalho significativo de pesquisa, guiado de forma generosa por Roberto Feitosa, seu companheiro e um dos curadores da exposição, foram refeitos praticamente todos os trabalhos apresentados por Dillon nas exposições do grupo neoconcreto entre 1960 e 1961. São poemas-objeto como “Lua”, “Ave”, “Flor” e “Ato”, marcados por um processamento lúdico que potencializa o aspecto temporal da palavra. O espectador é integrado por meio de gestos muito simples, como tomar uma bola nas mãos, desdobrar uma página, abrir uma pequena porta. Em “Paz” e “Sim”, palavras fragmentadas em quebra-cabeças de grandes dimensões, a participação é jogo, e a palavra se integra na paisagem, sendo desfeita e rearranjada nesse brincar que a reconfigura e lhe confere infinitos significados.
Os desenhos/projetos da série Estudo para um Monumento Vivencial I, II e III, realizados entre 1961 e 1970, dialogam com o horizonte e a arquitetura de Brasília, recém-inaugurada. Nesses monumentos — utopias ambientais —, Dillon processa de forma sofisticada suas referências literárias mais enraizadas: o surrealismo e o concretismo, o inconsciente freudiano, a semiótica e a fenomenologia. Dentro da sua quase inexequibilidade, como defendido por Walmir Ayala (“Jornal do Brasil”, 22/1/1970), “há o embrião de uma linguagem total da arte”. E o desejo de transitar entre arte e vida, que também levou, entre outros, Lygia Clark de “A casa é o corpo” para o set terapêutico da “Estruturação do self".
O crítico Roberto Pontual reconhece, em texto sobre a I Exposição Neoconcreta (“O metropolitano”, 5/4/1959), que naquele momento seminal a poesia era a face mais radical do neoconcretismo. É importante também reconhecermos hoje a obra desses poetas como referência para artistas como Lygia Pape, Lygia Clark, Amilcar de Castro e Hélio Oiticica, que, no desenvolvimento de seu trabalho, ocuparam merecidamente lugar de destaque na história da arte brasileira. Assim como Dillon, os poetas neoconcretos merecem estudos mais aprofundados diante da riqueza de seu legado.
Fonte: Globo, Exposição no Rio resgata obra de Osmar Dillon, nome pouco lembrado do neoconcretismo, publicado por Izabela Pucu, em 07 de março de 2015. Consultado pela última vez em 2 de março de 2023.
---
Osmar Dillon — Raphael Fonseca
O Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, no Centro do Rio de Janeiro, abrigou por dois meses uma reunião de trabalhos de Osmar Dillon. Nascido na cidade de Belém, no norte do Brasil, em 1930 e falecido no Rio de Janeiro em 2013, o artista participou da segunda e terceira edições da Exposição de Arte Neoconcreta, realizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Essa revisão de seu trabalho faz jus, portanto, ao artista que dá nome à instituição e às narrativas paralelas à sua obra, visto que Oiticica, além de participar das três exposições do neoconcretismo, também foi um dos autores responsáveis por assinar o Manifesto Neoconcreto, em 1959.
Quase sessenta anos após as primeiras linhas sobre a ideia de “neoconcreto”, é mais do que o momento de se lançar luz sobre artistas que fujam da tríade quase sagrada constituída pelos nomes de Oiticica, Lygia Clark e Lygia Pape, e de nomes que sejam diferentes daqueles outros importantes artistas que já tiveram uma trajetória institucionalizada de modo significativo, como Amilcar de Castro, Ferreira Gullar e Franz Weissmann. Aberta alguns meses após a retrospectiva de Amélia Toledo no Paço Imperial – outra artista de atividade constante nesse mesmo período histórico – a exposição convidava à leitura do público de um jornal da década de 1970 onde os nomes dos dois artistas eram ladeados por outras figuras também merecedoras de revisões. Quais experiências sensíveis as ali citadas obras de Yutaka Toyota, Paulo Roberto Leal, Raimundo Collares e Ubi Bava podem ativar no espectador contemporâneo? Eis uma pergunta que só futuras pesquisas em história da arte e curadoria podem responder.
No que diz respeito a essa exposição, é possível pensá-la partir de três momentos distintos dados pelo uso das salas. Na entrada, o público era recebido por uma série de formas geométricas tridimensionais que ocupavam quase integralmente a área do chão. O contraste entre o agrupamento separado de formas vermelhas e brancas trazia à tona um dos elementos essenciais da produção de Dillon e, por consequência, do grupo de artistas próximos ao neoconcretismo: a cor. As formas vermelhas, através do corpo do espectador, juntas formavam a palavra “paz”, ao passo que as brancas formavam um “sim”. A relação entre imagem e palavra - tão cara ao artista –, além da problematização da escultura como objeto a ser ativado por parte do público, já se fazem presentes.
Na segunda sala, maior do que a primeira, cubos, móveis e mesas eram suporte dos diversos objetos criados pelo artista. Um olhar panorâmico pelo espaço possibilita uma coleta das palavras que apontavam para o campo semântico de interesse de Dillon: “sol”, “chuva”, “céu”, “vento”, “lua” e “nuvem”. Interessante pensar que, por mais que não exista nenhuma paisagem explícita, são estas palavras que giram em torno do repertório relativo à natureza que aparece com mais frequência nessa seleção de obras. Ao notarmos o caráter representacional da cor em todos esses objetos – onde, por exemplo, o “sol” é um objeto amarelo e o “céu” uma estrutura azul -, temos uma recodificação da pintura de paisagem, tradição importante na cultura visual do Rio de Janeiro.
Já outros objetos necessitavam e permitiam a manipulação por parte do público. As palavras “ato” e “lua” se desconstruíam através da movimentação de materiais industriais como o vidro, do mesmo modo que uma folha de papel se desdobrava de dentro do trio “raiz caule folha”. Percebíamos que ali estavam contidas “lua sol” e, por fim, “flor”. Também em papel, “vento” se distorcia em letras separadas e, já em acrílico, a letra “o” da palavra “som” ganhava a forma de uma bola de tênis de mesa que, ao se movimentar dentro de uma caixa, proporcionava uma experiência relativa ao significado da palavra. É esse jogo entre significante e significado, entre as formas geométricas que constituem as letras de uma palavra e suas relações com campos semânticos e cromáticos específicos, que parece mover a produção central a essa exposição, ou seja, aquela da década de 1960.
Era na terceira e última sala que outras explorações da forma por parte de Dillon vinham à tona e surpreendiam. Se, por um lado, é possível aproximá-las do interesse do artista em palavras como “sexo” e “ovo”, orgânicas e instintivas, a forma plástica se revela como discrepante. Enquanto na segunda sala essas duas palavras são interconectadas, novamente, através da geometria e do movimento de uma bolinha que é ao mesmo tempo a letra “o” de “sexo” e de “ovo”, no terceiro espaço o sexo e o corpo humano são presentes através de desenhos em forte diálogo com aquilo que se convencionou chamar de “surrealismo”.
Seios, formas que lembravam nádegas, testículos, bocas humanas e peixes predadores se misturavam e davam o tom de alguns desenhos do final da década de 1940, além de algumas pinturas do final da década de 1960 e começo da década seguinte. Baseados em mesas, mas içados a partir do teto, também era possível ver uma série de desenhos intitulados “Estudo para um monumento vivencial”, onde o artista criava prédios fictícios e propunha modos de experimentação dos mesmos através do corpo. Por fim, alguns poemas datilografados por Dillon e em torno dos elementos de seu interesse aqui comentados se colocavam como outro ponto de ligação com os trabalhos anteriormente vistos e onde a palavra era protagonista.
Ao final da exposição, ficava uma curiosidade pelas décadas posteriores de sua produção; o que Osmar Dillon produziu no período entre a década de 1970 e 2013? Longe, porém, de querer se configurar como uma “retrospectiva completa” de sua obra (pretensão que, como qualquer exposição, sempre deixa hiatos), essa curadoria enfocada nesse recorte temporal preciso é importante como introdução à complexidade da pesquisa artística de Dillon. Que essa exposição incentive outras visadas em torno dos artistas menos conhecidos do chamado “neoconcretismo brasileiro” e que a curadoria e a história da arte sejam capazes de não criar novos dogmas, mas de aproximar, diferenciar e reunir imagens e trajetórias.
Fonte: Raphael Fonseca – Osmar Dillon. Texto publicado originalmente na ArtNexus de junho-agosto de 2015. Consultado pela última vez em 2 de março de 2023.
---
Osmar Dillon | por Antônio Miranda
Osmar Dillon é uma das pessoas que mais admirei em minha juventude. Cheguei até ao apartamento em que vivia, na zona sul do Rio de Janeiro, com nosso amigo comum Roberto Pontual, outro admirador e propagador de sua obra. Isso aconteceu no início do emblemático ano de 1960 — ano da inauguração de Brasília, no auge da Bossa Nova, do Cinema Novo e do movimento neoconcreto (criado em 1959). O arquiteto Osmar Dillon já montava seus “livro-poemas” e, em decorrência, os “não-objetos verbais”, numa experimentação de textos manipuláveis, participativos, escultóricos.
Muito jái se escreveu sobre este trabalho pioneiro de Dillon. Eu mesmo me referi a ele em várias oportunidades, no Brasil e na Argentina, em artigos e cursos sobre arte verbal de vanguarda.
Publiquei um texto sobre a criação de Dillon no célebre SDJB com o pseudônimo de Da Nirham Eros (da,nirham: eRos) — “Poesia/Um paralelo – Estrutura e Conteúdo”, Suplemento Dominical de Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 29 out. 1961. Confesso que não lembrava mais... Descobri a referência bibliográfica no catálogo do artista de uma exposição individual : OSMAR DILLON . objetos. múltiplos 1972, Galeria de Arte Ipanema. Não conservei, infelizmente, nem o recorte do jornal nem o manuscrito do artigo mas é questão agora de ir aos arquivos da editora... mas certamente aludia à fusão do verbal com o visual em sua obra.
Logo em seguida Dillon partiu para exercício no espírito da integração das artes:
“Uma poesia de permanente fundamento plástico, como se as palavras
se destinassem à pintura (“meus dedos são tubos de tinta”); uma
pintura de fala, com a viscelaridade de contorsões oníricas
correspondendo ao jogo aliterativo de toda a sua poesia. Assim — com
a poesia perdendo palavras, mas não a referência ao mundo exterior, e
a pintura abandonando a figuração explícita, mas não o símbolo — foi
por um processo natural de despojamento de ambos os âmbitos, e com
o acréscimo de sua tarefa profissional de arquiteto, que ele formulou a
partir de 1960 o rumo ainda hoje se desdobrando”. Roberto Pontual,
no catálogo supra citado, 1972.
Surge a proposta “neoconcreta” de superar o maquinismo e assegurar o conceito de Wladimir Weidlé que Pontual reitera no referido catálogo:
“no sentido de sua nítida semelhança estrutural com os ORGANISMOS
VIVOS. Assegurando o revigoramento de três vetores básicos da arte
em nosso século [XX] — substituição do ato de representar a realidade
pelo de presentificá-la; a emergência de participação do espectador
como co-autor da obra, infinitamente aberta; e a síntese dos antes
estanques departamentos da expressão — tentativas de ampliar e
aprofundar a fusão da palavra e a visualidade, seja em ideogramas
verbais, em livros-poemas ou em NÃO-OBJETOS, termo
visionariamente criado por Ferreira Gullar para definir uma nova
categoria de trabalho”.
Um exemplo é o livro-poema AVE, de 1960, de Dillon:
em que a manipulação da placa azul, presa ao centro do suporte, podia ser circulada no processo de “leitura”, sugerindo o “vôo” da ave. Em verdade, o “vôo” (movimento) da “asa” é dado pela participação e vivenciamento do “leitor” durante a manipulação da peça.
Merece destaque também o “poema” CHEIO, descrito por Roberto Pontual:
“O passo seguinte, no impulso de curiosidade por diferentes processos,
seria o abandono da pura superfície do papel em busca do espaço
tridimensional concreto que nos circunscreve. CHEIO é o melhor
exemplo dessa transição de extrema importância: aqui, a folha vazada
nos conduz para além do plano e engendra seu significado pela tensa
oposição dos elementos verbal (cheio) e visual (vazio). É preciso
constatar ainda, nesse mesmo ideograma, o emprego tático de uma
particularidade física das letras que constituem a palavra CHEIO, todas
elas permanecendo simetricamente idênticas quando divididas pela
metade, o que impede, nessas circunstâncias, que a palavra tenha um
avesso.”
Roberto pretendeu assinalar que, se o “leitor” virar a folha ao contrário e virá-la de cabeça para baixo, ela continuará apresentando a palavra CHEIO, e não seu avesso... Efeito que poderia ser apresentado atualmente numa animação gráfica, virtualmente. Cabe ressaltar ainda que as letras estão vazadas na superfície da página, pelo corte do papel, efeito tridimensional que a Internet ainda não consegue apresentar... Efeito que poderia ser apresentado atualmente numa animação gráfica, virtualmente. Previsivelmente, o artista-arquiteto parte para uma criação mais “vivencial”, através de projetos de monumentos como o SÓ, que chegou a ser semifinalista do Symposium Urban Nürenberg.
“Uma proposta de atingir e ativar o inconsciente pela envolvência dos
choques de visualidade amalgamada a sons, palavras, materiais e tempo
— a vida totalizada. Mergulhado e envolvido, o homem se conheceria,
alfa e ômega, retornando. Teria passado pelo frio e fogo de sua própria
matéria”. Roberto Pontual
Uma autêntica “instalação”, só que permanente, como um templo para a vivência, digamos, litúrgica em sua relação com a arte e a poesia.
Em 1966 fui para a Venezuela e só voltei a estar com Dillon em 1968, numa breve visita que fiz ao Rio de Janeiro. De lá para cá perdi o contato com o grande artista. Descubro-o pela Internet, que é o lugar de encontro com os contemporâneos. Quase quarenta anos depois!
Quero completar a presente homenagem ao amigo com a imagem de um de seus trabalhos mais recentes. Atestando a evolução e a permanência de uma proposta criativa que se renova mas não trai as suas raízes, como sugeriu Edgar Morin ao exigir da poesia o lastro de sua sustentabilidade.
Fonte: Antonio Miranda – Osmar Dillon. Publicado em janeiro de 2005. Osmar Dillon, um artista de vanguarda (cópia de um texto manuscrito, incompleto, de Da, nirham: eRos (pseudônimo de Antonio Miranda nos anos 50 e início dos anos 60 do século XX). Consultado pela última vez em 2 de março de 2023.
---
O neoconcretismo poético de Osmar Dillon – Prefeitura do Rio de Janeiro
É difícil escrever ou falar sobre o neoconcretismo sem cair no lugar comum, sem reiterar a importância de artistas como Lygia Clark e Hélio Oiticica, sem refazer a trilha que sempre passa por certos fatos, personagens e concepções. A arte neoconcreta já é história – é preciso lembrar – uma vez que a convocamos com tanto frescor para pensar a arte que fazemos hoje. É importante termos em conta, ao tratarmos o neoconcretismo como herança, o compromisso de atualizá-lo em nossos discursos e práticas, não nos privando de enfrentar certos impasses. Voltar o olhar para a história sem contribuir com os esforços que em todos os campos têm revelado seus ângulos mais diagonais e possibilitado sua reescrita, não faz hoje o menor sentido. O campo da pesquisa em arte, em grande parte ocupado pelas universidades, mas não apenas, apesar de recente entre nós tem se revelado um lugar de possibilidades para este exercício.
Uma das questões fundamentais do neoconcretismo que a meu ver chega até nós mais ou menos inexplorada, é a relação imbricada entre poesia e artes visuais, protagonizada por aquele grupo de artistas e poetas que compartilhavam com grande afinidade as soluções que iam descobrindo ao reformularem as proposições do concretismo. Na maioria dos casos a relação entre poetas e artistas é discutida no âmbito de uma disputa, muitas vezes rancorosa, pela autoria ou antecedência na realização de certas idéias que revelaram aspectos caros àquele movimento, como a participação do espectador/leitor, feito então participador. Essas disputas não me parecem importantes. O que nos interessa hoje é reconhecer o neoconcretismo como o embrião de uma idéia de arte – sem nenhum complemento, visual ou plástico – dotada de profunda permeabilidade, que nasce justamente dessa fusão de linguagens. Nesse espaço de atravessamento que se inaugura, propício ao exercício experimental de liberdade, como colocado por Mário Pedrosa, uma referência central para aquele grupo, podemos evoluir e bailar, se tivermos a perspicácia de mantê-lo aberto.
Na paisagem neoconcreta existem poetas como Osmar Dillon, Reynaldo Jardim, Theon Spanudis, Oliveira Bastos, além de Ferreira Gullar, cujos escritos constituem importante documento sobre o período, e que tendo sido devidamente celebrado teve a chance de se posicionar sobre a importância do seu trabalho no desenvolvimento do neoconcretismo. Isso citando apenas os poetas que participaram efetivamente do neoconcretismo no Rio de Janeiro. Pensando a relação entre artes visuais e poesia como uma questão latente daquele contexto histórico, encontramos Wlademir Dias Pino, Neide Dias de Sá e outros artistas ligados ao poema-processo, que produziram concomitantemente ao grupo neoconcreto obras bastante contundentes na mesma direção.
Na exposição "Osmar Dillon: não objetos poéticos", em cartaz no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, temos a chance de rever a relação entre poesia e artes visuais no trabalho do arquiteto, poeta, artista Osmar Dillon (Belém, 1930 – Rio de Janeiro, 2013). Em um trabalho significativo de pesquisa, guiado de forma generosa por Roberto Feitosa, seu companheiro e um dos curadores da exposição, foram refeitos praticamente todos os trabalhos apresentados por Dillon nas exposições do grupo neoconcreto entre 1960 e 1961. São poemas-objeto como Lua, Ave, Flor e Ato, marcados por um processamento lúdico que potencializa o aspecto temporal da palavra. O espectador é integrado por meio de gestos muito simples, como tomar uma bola nas mãos, desdobrar uma página, abrir uma pequena porta. Em Paz e Sim, palavras fragmentadas em quebra-cabeças de grandes dimensões, a participação é jogo, e a palavra se integra na paisagem, sendo desfeita e rearranjada nesse brincar que a reconfigura e lhe confere infinitos significados.
Os desenhos/projetos da série Estudo para um Monumento Vivencial I, II e III, realizados entre 1961 e 1970, dialogam com o horizonte e a arquitetura de Brasília, recém-inaugurada. Nesses monumentos – utopias ambientais –, Dillon processa, de forma sofisticada, suas referências literárias mais enraizadas: o surrealismo e o concretismo, o inconsciente freudiano, a semiótica e a fenomenologia. Dentro da sua quase inexequibilidade, como defendido por Walmyr Ayala (Jornal do Brasil, 22/01/1970), "há o embrião de uma linguagem total da arte". E o desejo de transitar entre arte e vida, que também levou, entre outros, Lygia Clark de A casa é o corpo para o set terapêutico da Estruturação do self.
O crítico Roberto Pontual reconhece, em seu texto sobre a I Exposição Neoconcreta (O metropolitano, 05/04/1959), que naquele momento seminal a poesia era a face mais radical do neoconcretismo. É importante também reconhecermos hoje a obra desses poetas como referência para artistas como Lygia Pape, Lygia Clark, Amilcar de Castro, Hélio Oiticica, que, no desenvolvimento de seu trabalho, ocuparam merecidamente lugar de destaque na história da arte brasileira. Não tenho dúvida de que, assim como Dillon, os poetas neoconcretos merecem estudos mais aprofundados diante da riqueza de seu legado.
Izabela Pucu é Mestre em Linguagens Visuais e Doutoranda em História e Crítica de Arte pelo PPGAV/EBA/UFRJ, Diretora do Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica e uma das curadoras da exposição "Osmar Dillon: não objetos poéticos".
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro. Texto de Izabela Pucu. Consultado pela última vez em 2 de março de 2023.
---
Neoconcretismo | Itaú Cultural
A ruptura neoconcreta na arte brasileira data de março de 1959, com a publicação do Manifesto Neoconcreto pelo grupo de mesmo nome, e deve ser compreendida a partir do movimento concreto no país, que remonta ao início da década de 1950 e aos artistas do Grupo Frente, no Rio de Janeiro, e do Grupo Ruptura, em São Paulo. Tributária das correntes abstracionistas modernas das primeiras décadas do século XX - com raízes em experiências como as da Bauhaus, dos grupo De Stijl [O Estilo] e Cercle et Carré, além do suprematismo e construtivismo soviéticos -, a arte concreta ganha terreno no país em consonância com as formulações de Max Bill, principal responsável pela entrada desse ideário plástico na América Latina, logo após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
O contexto desenvolvimentista de crença na indústria e no progresso dá o tom da época em que os adeptos da arte concreta no Brasil vão se movimentar. O programa concreto parte de uma aproximação entre trabalho artístico e industrial. Da arte é afastada qualquer conotação lírica ou simbólica. O quadro, construído exclusivamente com elementos plásticos - planos e cores -, não tem outra significação senão ele próprio. Menos do que representar a realidade, a obra de arte evidencia estruturas e planos relacionados, formas seriadas e geométricas, que falam por si mesmos. A despeito de uma pauta geral partilhada pelo concretismo no Brasil, é possível afirmar que a investigação dos artistas paulistas enfatiza o conceito de pura visualidade da forma, à qual o grupo carioca opõe uma articulação forte entre arte e vida - que afasta a consideração da obra como "máquina" ou "objeto" -, e uma ênfase maior na intuição como requisito fundamental do trabalho artístico. As divergências entre Rio e São Paulo se explicitam na Exposição Nacional de Arte Concreta, São Paulo, 1956, e Rio de Janeiro, 1957, início do rompimento neoconcreto.
O manifesto de 1959, assinado por Amilcar de Castro (1920-2002), Ferreira Gullar (1930-2016), Franz Weissmann (1911-2005), Lygia Clark (1920-1988), Lygia Pape (1927-2004), Reynaldo Jardim (1926-2011) e Theon Spanudis (1915-1986), denuncia já nas linhas iniciais que a "tomada de posição neoconcreta" se faz "particularmente em face da arte concreta levada a uma perigosa exacerbação racionalista". Contra as ortodoxias construtivas e o dogmatismo geométrico, os neoconcretos defendem a liberdade de experimentação, o retorno às intenções expressivas e o resgate da subjetividade. A recuperação das possibilidades criadoras do artista - não mais considerado um inventor de protótipos industrais - e a incorporação efetiva do observador - que ao tocar e manipular as obras torna-se parte delas - apresentam-se como tentativas de eliminar certo acento técnico-científico presente no concretismo. Se a arte é fundamentalmente meio de expressão, e não produção de feitio industrial, é porque o fazer artístico ancora-se na experiência definida no tempo e no espaço. Ao empirismo e à objetividade concretos que levariam, no limite, à perda da especificidade do trabalho artístico, os neoconcretos respondem com a defesa da manutenção da "aura" da obra de arte e da recuperação de um humanismo.
Uma tentativa de renovação da linguagem geométrica pode ser observada nas esculturas de Amilcar de Castro. Os cortes e dobras feitos em materiais rígidos como o ferro, evidenciam o trabalho despendido na confecção do objeto. Do embate entre o ato do artista - que busca traços precisos - e a matéria resistente, nasce a obra, fruto do esforço construtivo, mas também da emoção. Nas palavras de Castro: "Arte sem emoção é precária. Max Bill queria uma coisa tão fabulosamente pura, sem emoção". Nas séries dos Bilaterais e Relevos Espaciais, 1959, de Hélio Oiticica (1937-1980) e nos Trepantes realizados por Lygia Clark na década de 1960, por exemplo, as formas conquistam o espaço de maneira decisiva para, logo em seguida, romper as distâncias entre o observador e a obra, como nos Bichos, criados por Lygia Clark e nos Livros, de Lygia Pape. A arte interpela o mundo, a vida e também o corpo, atestam o Ballet Neoconcreto, 1958, de Lygia Pape e os Penetráveis, Bólides e Parangolés criados por Oiticica nos anos 1960. A cor, recusada por parte do concretismo, invade as pesquisas neoconcretas, por exemplo nas obras de Aluísio Carvão (1920-2001), Hércules Barsotti (1914-2010), Willys de Castro (1926-1988) e Oiticica. Estudos realizados sobre o tema frisam o lugar do movimento neoconcreto como divisor de águas na história das artes visuais no Brasil; um ponto de ruptura da arte moderna no país, diz o crítico Ronaldo Brito.
Fonte: NEOCONCRETISMO. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2023. Acesso em: 02 de março de 2023. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7
Crédito fotográfico: Antônio Miranda - Osmar Dillon. Consultado pela última vez em 2 de março de 2023.
Osmar Dillon
Osmar Dillon (1930, Belém, PA — 2013, Rio de Janeiro, RJ), é um artista visual e poeta brasileiro. Formou-se em arquitetura pela Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, em 1954. Estudou como bolsista na Itália no fim da década de 50. Dedica-se à pintura e, em paralelo, à poesia. Em 1960, procura uma integração entre poesia e pintura, cujo resultado são livros-poemas e não-objetos verbais. No Rio de Janeiro integra o Movimento de Arte Neoconcreta, 1959 e 1960. Afastou-se do circuito das artes plásticas entre 1961 e 1968; nesse ano expõe individualmente na Galeria Cosme Velho, São Paulo. Acumulou prêmios, destacando-se o primeiro prêmio de viagem ao exterior no "Salão do Acrílico", Petit Galerie, Rio, em 1973. Osmar foi convidado a participar do acervo do Museu de Ontário, Canadá, com exposição no MAM do Rio e em Ontário, 1974. Premiado em 1971 no Salão da Eletrobras, MAM, Rio, foi semifinalista no Symposium Urbanum de Nuremberg, Alemanha. Vencedor de vários prêmios de viagem, Osmar participou de diversas exposições coletivas e individuais no Brasil e no mundo.
Osmar Dillon: "Não-objetos poéticos" | 2015
Exposição: "Não-objetos poéticos" | 2015
Biografia – Itaú Cultural
Forma-se em arquitetura pela Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, em 1954. Estuda como bolsista na Itália no fim da década de 50. Dedica-se à pintura e, em paralelo, à poesia. Em 1960, procura uma integração entre poesia e pintura, cujo resultado são livros-poemas e não-objetos verbais. No Rio de Janeiro integra o Movimento de Arte Neoconcreta, 1959 e 1960, e faz parte dos Domingos de Criação, 1971.
Críticas
"(...) sempre se dedicou mais à pintura e, paralelamente, à poesia, ambas caracterizadas por uma tendência inicial no sentido do surrealismo. No princípio da década de 1960, buscando uma integração cada vez mais funcional entre poesia e pintura, elaborou uma série de pequenos poemas com o aproveitamento significante do espaço em branco da página; essas experiências, que desembocaram em livros-poemas e não-objetos verbais, levaram-no a participar do movimento de arte neoconcreta. (...) Mais recentemente, depois de uma fase de menos intensidade de trabalho no campo da arte, voltou a pintar, seguindo dois rumos aparentemente distintos, mas que mantêm, na profundidade, uma ligação sensível: de um lado, a pintura de fachadas da arquitetura brasileira, numa pesquisa de relevos com massa de gesso, às quais terminou acrescentando perspectivas de paisagens vistas através de portas, janelas ou muros, em clima de tranqüilo, mas pulsante, mistério; do outro, a série de seus DEVORANTES, com franca retomada do surrealismo e das referências eróticas, na crítica da contemporaniedade" — Roberto Pontual (PONTUAL, Roberto. Dicionário das artes plásticas no Brasil. Apresentação de Antônio Houaiss. Textos de Mário Barata et al. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969).
"Sempre que se escreve sobre a excelente obra visual de Osmar Dillon (...), parece-me que tem sido impossível evitar certos vocábulos buscados na vizinhança área poética. Mas não se trata, em seu caso, do freqüente empréstimo de metáforas com que a crítica de arte procura agasalhar certas idéias. A verdade é que esse artista discreto, de temperamento machadiano, inaugurou no Brasil, em fins da década de 60, uma linguagem pessoal, cujos três elementos constitutivos cresceram em simbiose. O primeiro é o jogo de formas e de cores - as artes visuais com que Dillon trabalha há longa data, auxiliado e disciplinado (às vezes, ao extremo) por sua formação de arquiteto. O segundo é o emprego sistemático da palavra, não apenas como ornamento, forma gráfica ou legenda, mas sim como parte inalienável do recado assumido pela obra. O terceiro, enfim, é a participação do espectador, que não se limita a contemplar um produto acabado. Creio estar, na obra de Dillon, um dos mais lúcidos exemplos de como incorporar ricamente essa tendencia. Mesmo quando recorre ao gesto físico direto, a participação em suas propostas ultrapassa bastante o lado lúdico. Porque exige, ao mesmo tempo, um exercício mental com conceitos e formas abstratas, palavras e relações, reconstelando-os criadoramente numa nova floresta de sentidos. Nisso vem, sem dúvida, algo da tradição do Dillon poeta, que, em princípios dos anos 60, integrava no Rio o movimento neoconcreto. Foi com o neoconcretismo, por exemplo, que a simultaneidade entre o fazer-se da obra e o seu consumo se tornou uma das preocupações da criação. E Dillon se mostra herdeiro do "não objeto" teorizado por Gullar em muitos de seus trabalhos atuais, que gravitam em órbitas paralelas como tempo, forma, espaço e ação" — Olívio Tavares de Araújo (Dillon, Osmar. Chuva. Apresentação Olívio Tavares de Araújo. São Paulo: Galeria de Arte Ipanema, 1974. f. dobrada: il. p. b.)
Exposições Individuais
1968 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Cosme Velho
1970 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria de Arte Copacabana Palace
1972 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Ipanema
1974 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Ipanema
Exposições Coletivas
1959 - Rio de Janeiro RJ - 1ª Exposição de Arte Neoconcreta, no MAM/RJ
1959 - Salvador BA - Exposição de Arte Neoconcreta, no Belvedere da Sé
1960 - Rio de Janeiro RJ - 2ª Exposição Neoconcreta, no MEC
1961 - Petrópolis RJ - 2ª Exposição Poegoespacial
1961 - São Paulo SP - 3ª Exposição Neoconcreta, no MAM/SP
1969 - Rio de Janeiro RJ - 18º Salão Nacional de Arte Moderna
1969 - São Paulo SP - 10ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal
1970 - Campinas SP - 6º Salão de Arte Contemporânea de Campinas, MACC
1970 - Rio de Janeiro RJ - 19º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/SP
1970 - Rio de Janeiro RJ - 2º Salão de Verão, no MAM/RJ - primeiro prêmio de viagem ao exterior
1970 - Rio de Janeiro RJ - O Rosto e A Obra, no Ibeu
1970 - São Paulo SP - Pré-Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal
1971 - Curitiba PR - 28º Salão Paranaense de Artes Plásticas, na Biblioteca Pública do Paraná - artista convidado
1971 - Nürenberg (Alemanha) - Symposium Urbanum - artista semifinalista
1971 - Rio de Janeiro RJ - 1º Salão da Eletrobrás, no MAM/RJ - prêmio aquisição
1971 - Rio de Janeiro RJ - 20º Salão Nacional de Arte Moderna
1971 - Rio de Janeiro RJ - 9º Resumo JB, no MAM/RJ
1971 - Rio de Janeiro RJ - Exposição de Múltiplos, na Petite Galeria
1972 - Belo Horizonte MG - 4º Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte
1972 - Rio de Janeiro RJ - 21º Salão Nacional de Arte Moderna
1972 - Rio de Janeiro RJ - Coleção Gilberto Chateaubriand, no Ibeu
1972 - Rio de Janeiro RJ - Múltiplos, na Petite Galerie
1972 - Rio de Janeiro RJ - Salão da Luz e do Movimento - premiação
1972 - São Paulo SP - Arte/Brasil/Hoje: 50 anos depois, na Galeria Collectio
1972 - São Paulo SP - 4º Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM/SP
1973 - Rio de Janeiro RJ - 1º Salão do Acrílico - prêmio aquisição
1973 - Rio de Janeiro RJ - Concurso de Múltiplos da Petite Galerie - primeiro prêmio de viagem ao exterior
1977 - Belo Horizonte MG - 5º Salão Global de Inverno, na Fundação Palácio das Artes
1977 - Brasília DF - 5º Salão Global de Inverno, na Fundação Cultural do Distrito Federal
1977 - Rio de Janeiro RJ - 5º Salão Global de Inverno, no MNBA
1977 - São Paulo SP - 5º Salão Global de Inverno, no Masp
1981 - Rio de Janeiro RJ - Do Moderno ao Contemporâneo, no MAM/RJ
1982 - Lisboa (Portugal) - Do Moderno ao Contemporâneo: Coleção Gilberto Chateaubriand, no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão
1982 - Rio de Janeiro RJ - Que Casa é essa da Arte Brasileira
1984 - Rio de Janeiro RJ - Neoconcretismo 1959-1961, na Galeria de Arte Banerj
1987 - Rio de Janeiro RJ - Ao Colecionador: homenagem a Gilberto Chateaubriand , no MAM/RJ
1987 - São Paulo SP - Palavra Imágica, no MAC/USP
1991 - Curitiba PR - Rio de Janeiro 59/60: experiência neoconcreta, no Museu Municipal de Arte
1991 - Rio de Janeiro RJ - Rio de Janeiro 59/60: experiência neoconcreta, no MAM/RJ
1992 - São Paulo SP - Anos 60/70: Coleção Gilberto Chateubriand - MAM/RJ, na Galeria de Arte do Sesi
1993 - Rio de Janeiro RJ - Arte Erótica, no MAM/RJ
1998 - São Paulo SP - O Moderno e o Contemporâneo na Arte Brasileira: Coleção Gilberto Chateaubriand - MAM/RJ, no Masp
2000 - Rio de Janeiro RJ - Situações: arte brasileira anos 70, na Fundação Casa França-Brasil
2001 - São Paulo SP - Trajetória da Luz na Arte Brasileira, no Itaú Cultural
2002 - Rio de Janeiro RJ - Genealogia do Espaço, na Galeria do Parque das Ruínas
2003 - Campos dos Goytacazes RJ - Poema Planar-Espacial, no Sesc/Campos dos Goytacazes
2003 - Nova Friburgo RJ - Poema Planar-Espacial, na Galeria Sesc Nova Friburgo
Fonte: OSMAR Dillon. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2023. Acesso em: 01 de março de 2023. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7
---
Exposição no Rio resgata obra de Osmar Dillon, nome pouco lembrado do neoconcretismo
É difícil escrever ou falar sobre o neoconcretismo sem cair no lugar comum, sem reiterar a importância de artistas como Lygia Clark e Hélio Oiticica, sem refazer a trilha que sempre passa por certos fatos, personagens e concepções. A arte neoconcreta já é História, uma vez que a convocamos com tanto frescor para pensar a arte que fazemos hoje. É importante termos em conta, ao tratarmos o neoconcretismo como herança, o compromisso de atualizá-lo em nossos discursos e práticas, não nos privando de enfrentar certos impasses. Voltar o olhar para a História sem contribuir com os esforços que em todos os campos têm revelado seus ângulos mais diagonais, e possibilitado sua reescrita, não faz hoje o menor sentido. Apesar de recente entre nós, o campo da pesquisa em arte, em grande parte ocupado pelas universidades, mas não apenas, tem se revelado um lugar de possibilidades para este exercício.
Uma das questões fundamentais do neoconcretismo, que a meu ver chega até nós mais ou menos inexplorada, é a relação imbricada entre poesia e artes visuais, protagonizada por aquele grupo de artistas e poetas que compartilhavam com grande afinidade as soluções que iam descobrindo ao reformularem as proposições do concretismo. Na maioria dos casos, a relação entre poetas e artistas é discutida no âmbito de uma disputa, muitas vezes rancorosa, pela autoria ou antecedência na realização de certas ideias que revelaram aspectos caros àquele movimento, como a participação do espectador/leitor, feito então participante. Essas disputas não me parecem importantes. O que nos interessa hoje é reconhecer o neoconcretismo como o embrião de uma ideia de arte — sem nenhum complemento, visual ou plástico — dotada de profunda permeabilidade, que nasce justamente dessa fusão de linguagens. Nesse espaço de atravessamento que se inaugura, propício ao exercício experimental de liberdade, como colocado por Mário Pedrosa, uma referência central para aquele grupo, podemos evoluir e bailar, se tivermos a perspicácia de mantê-lo aberto.
Mostra explora relação entre poesia e artes visuais
Na paisagem neoconcreta existem poetas como Osmar Dillon, Reynaldo Jardim, Theon Spanudis, Oliveira Bastos, além de Ferreira Gullar, cujos escritos constituem importante documento sobre o período e que, tendo sido devidamente celebrado, teve a chance de se posicionar sobre a importância do seu trabalho no desenvolvimento do neoconcretismo. Isso citando apenas os poetas que participaram efetivamente do neoconcretismo no Rio de Janeiro. Pensando a relação entre artes visuais e poesia como uma questão latente daquele contexto histórico, encontramos Wlademir Dias-Pino, Neide Dias de Sá e outros artistas ligados ao poema-processo, que produziram concomitantemente ao grupo neoconcreto obras bastante contundentes na mesma direção.
Na exposição “Osmar Dillon: não-objetos poéticos”, em cartaz a partir de hoje no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, temos a chance de rever a relação entre poesia e artes visuais no trabalho do arquiteto, poeta e artista Osmar Dillon (Belém, 1930 – Rio de Janeiro, 2013). Em um trabalho significativo de pesquisa, guiado de forma generosa por Roberto Feitosa, seu companheiro e um dos curadores da exposição, foram refeitos praticamente todos os trabalhos apresentados por Dillon nas exposições do grupo neoconcreto entre 1960 e 1961. São poemas-objeto como “Lua”, “Ave”, “Flor” e “Ato”, marcados por um processamento lúdico que potencializa o aspecto temporal da palavra. O espectador é integrado por meio de gestos muito simples, como tomar uma bola nas mãos, desdobrar uma página, abrir uma pequena porta. Em “Paz” e “Sim”, palavras fragmentadas em quebra-cabeças de grandes dimensões, a participação é jogo, e a palavra se integra na paisagem, sendo desfeita e rearranjada nesse brincar que a reconfigura e lhe confere infinitos significados.
Os desenhos/projetos da série Estudo para um Monumento Vivencial I, II e III, realizados entre 1961 e 1970, dialogam com o horizonte e a arquitetura de Brasília, recém-inaugurada. Nesses monumentos — utopias ambientais —, Dillon processa de forma sofisticada suas referências literárias mais enraizadas: o surrealismo e o concretismo, o inconsciente freudiano, a semiótica e a fenomenologia. Dentro da sua quase inexequibilidade, como defendido por Walmir Ayala (“Jornal do Brasil”, 22/1/1970), “há o embrião de uma linguagem total da arte”. E o desejo de transitar entre arte e vida, que também levou, entre outros, Lygia Clark de “A casa é o corpo” para o set terapêutico da “Estruturação do self".
O crítico Roberto Pontual reconhece, em texto sobre a I Exposição Neoconcreta (“O metropolitano”, 5/4/1959), que naquele momento seminal a poesia era a face mais radical do neoconcretismo. É importante também reconhecermos hoje a obra desses poetas como referência para artistas como Lygia Pape, Lygia Clark, Amilcar de Castro e Hélio Oiticica, que, no desenvolvimento de seu trabalho, ocuparam merecidamente lugar de destaque na história da arte brasileira. Assim como Dillon, os poetas neoconcretos merecem estudos mais aprofundados diante da riqueza de seu legado.
Fonte: Globo, Exposição no Rio resgata obra de Osmar Dillon, nome pouco lembrado do neoconcretismo, publicado por Izabela Pucu, em 07 de março de 2015. Consultado pela última vez em 2 de março de 2023.
---
Osmar Dillon — Raphael Fonseca
O Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, no Centro do Rio de Janeiro, abrigou por dois meses uma reunião de trabalhos de Osmar Dillon. Nascido na cidade de Belém, no norte do Brasil, em 1930 e falecido no Rio de Janeiro em 2013, o artista participou da segunda e terceira edições da Exposição de Arte Neoconcreta, realizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Essa revisão de seu trabalho faz jus, portanto, ao artista que dá nome à instituição e às narrativas paralelas à sua obra, visto que Oiticica, além de participar das três exposições do neoconcretismo, também foi um dos autores responsáveis por assinar o Manifesto Neoconcreto, em 1959.
Quase sessenta anos após as primeiras linhas sobre a ideia de “neoconcreto”, é mais do que o momento de se lançar luz sobre artistas que fujam da tríade quase sagrada constituída pelos nomes de Oiticica, Lygia Clark e Lygia Pape, e de nomes que sejam diferentes daqueles outros importantes artistas que já tiveram uma trajetória institucionalizada de modo significativo, como Amilcar de Castro, Ferreira Gullar e Franz Weissmann. Aberta alguns meses após a retrospectiva de Amélia Toledo no Paço Imperial – outra artista de atividade constante nesse mesmo período histórico – a exposição convidava à leitura do público de um jornal da década de 1970 onde os nomes dos dois artistas eram ladeados por outras figuras também merecedoras de revisões. Quais experiências sensíveis as ali citadas obras de Yutaka Toyota, Paulo Roberto Leal, Raimundo Collares e Ubi Bava podem ativar no espectador contemporâneo? Eis uma pergunta que só futuras pesquisas em história da arte e curadoria podem responder.
No que diz respeito a essa exposição, é possível pensá-la partir de três momentos distintos dados pelo uso das salas. Na entrada, o público era recebido por uma série de formas geométricas tridimensionais que ocupavam quase integralmente a área do chão. O contraste entre o agrupamento separado de formas vermelhas e brancas trazia à tona um dos elementos essenciais da produção de Dillon e, por consequência, do grupo de artistas próximos ao neoconcretismo: a cor. As formas vermelhas, através do corpo do espectador, juntas formavam a palavra “paz”, ao passo que as brancas formavam um “sim”. A relação entre imagem e palavra - tão cara ao artista –, além da problematização da escultura como objeto a ser ativado por parte do público, já se fazem presentes.
Na segunda sala, maior do que a primeira, cubos, móveis e mesas eram suporte dos diversos objetos criados pelo artista. Um olhar panorâmico pelo espaço possibilita uma coleta das palavras que apontavam para o campo semântico de interesse de Dillon: “sol”, “chuva”, “céu”, “vento”, “lua” e “nuvem”. Interessante pensar que, por mais que não exista nenhuma paisagem explícita, são estas palavras que giram em torno do repertório relativo à natureza que aparece com mais frequência nessa seleção de obras. Ao notarmos o caráter representacional da cor em todos esses objetos – onde, por exemplo, o “sol” é um objeto amarelo e o “céu” uma estrutura azul -, temos uma recodificação da pintura de paisagem, tradição importante na cultura visual do Rio de Janeiro.
Já outros objetos necessitavam e permitiam a manipulação por parte do público. As palavras “ato” e “lua” se desconstruíam através da movimentação de materiais industriais como o vidro, do mesmo modo que uma folha de papel se desdobrava de dentro do trio “raiz caule folha”. Percebíamos que ali estavam contidas “lua sol” e, por fim, “flor”. Também em papel, “vento” se distorcia em letras separadas e, já em acrílico, a letra “o” da palavra “som” ganhava a forma de uma bola de tênis de mesa que, ao se movimentar dentro de uma caixa, proporcionava uma experiência relativa ao significado da palavra. É esse jogo entre significante e significado, entre as formas geométricas que constituem as letras de uma palavra e suas relações com campos semânticos e cromáticos específicos, que parece mover a produção central a essa exposição, ou seja, aquela da década de 1960.
Era na terceira e última sala que outras explorações da forma por parte de Dillon vinham à tona e surpreendiam. Se, por um lado, é possível aproximá-las do interesse do artista em palavras como “sexo” e “ovo”, orgânicas e instintivas, a forma plástica se revela como discrepante. Enquanto na segunda sala essas duas palavras são interconectadas, novamente, através da geometria e do movimento de uma bolinha que é ao mesmo tempo a letra “o” de “sexo” e de “ovo”, no terceiro espaço o sexo e o corpo humano são presentes através de desenhos em forte diálogo com aquilo que se convencionou chamar de “surrealismo”.
Seios, formas que lembravam nádegas, testículos, bocas humanas e peixes predadores se misturavam e davam o tom de alguns desenhos do final da década de 1940, além de algumas pinturas do final da década de 1960 e começo da década seguinte. Baseados em mesas, mas içados a partir do teto, também era possível ver uma série de desenhos intitulados “Estudo para um monumento vivencial”, onde o artista criava prédios fictícios e propunha modos de experimentação dos mesmos através do corpo. Por fim, alguns poemas datilografados por Dillon e em torno dos elementos de seu interesse aqui comentados se colocavam como outro ponto de ligação com os trabalhos anteriormente vistos e onde a palavra era protagonista.
Ao final da exposição, ficava uma curiosidade pelas décadas posteriores de sua produção; o que Osmar Dillon produziu no período entre a década de 1970 e 2013? Longe, porém, de querer se configurar como uma “retrospectiva completa” de sua obra (pretensão que, como qualquer exposição, sempre deixa hiatos), essa curadoria enfocada nesse recorte temporal preciso é importante como introdução à complexidade da pesquisa artística de Dillon. Que essa exposição incentive outras visadas em torno dos artistas menos conhecidos do chamado “neoconcretismo brasileiro” e que a curadoria e a história da arte sejam capazes de não criar novos dogmas, mas de aproximar, diferenciar e reunir imagens e trajetórias.
Fonte: Raphael Fonseca – Osmar Dillon. Texto publicado originalmente na ArtNexus de junho-agosto de 2015. Consultado pela última vez em 2 de março de 2023.
---
Osmar Dillon | por Antônio Miranda
Osmar Dillon é uma das pessoas que mais admirei em minha juventude. Cheguei até ao apartamento em que vivia, na zona sul do Rio de Janeiro, com nosso amigo comum Roberto Pontual, outro admirador e propagador de sua obra. Isso aconteceu no início do emblemático ano de 1960 — ano da inauguração de Brasília, no auge da Bossa Nova, do Cinema Novo e do movimento neoconcreto (criado em 1959). O arquiteto Osmar Dillon já montava seus “livro-poemas” e, em decorrência, os “não-objetos verbais”, numa experimentação de textos manipuláveis, participativos, escultóricos.
Muito jái se escreveu sobre este trabalho pioneiro de Dillon. Eu mesmo me referi a ele em várias oportunidades, no Brasil e na Argentina, em artigos e cursos sobre arte verbal de vanguarda.
Publiquei um texto sobre a criação de Dillon no célebre SDJB com o pseudônimo de Da Nirham Eros (da,nirham: eRos) — “Poesia/Um paralelo – Estrutura e Conteúdo”, Suplemento Dominical de Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 29 out. 1961. Confesso que não lembrava mais... Descobri a referência bibliográfica no catálogo do artista de uma exposição individual : OSMAR DILLON . objetos. múltiplos 1972, Galeria de Arte Ipanema. Não conservei, infelizmente, nem o recorte do jornal nem o manuscrito do artigo mas é questão agora de ir aos arquivos da editora... mas certamente aludia à fusão do verbal com o visual em sua obra.
Logo em seguida Dillon partiu para exercício no espírito da integração das artes:
“Uma poesia de permanente fundamento plástico, como se as palavras
se destinassem à pintura (“meus dedos são tubos de tinta”); uma
pintura de fala, com a viscelaridade de contorsões oníricas
correspondendo ao jogo aliterativo de toda a sua poesia. Assim — com
a poesia perdendo palavras, mas não a referência ao mundo exterior, e
a pintura abandonando a figuração explícita, mas não o símbolo — foi
por um processo natural de despojamento de ambos os âmbitos, e com
o acréscimo de sua tarefa profissional de arquiteto, que ele formulou a
partir de 1960 o rumo ainda hoje se desdobrando”. Roberto Pontual,
no catálogo supra citado, 1972.
Surge a proposta “neoconcreta” de superar o maquinismo e assegurar o conceito de Wladimir Weidlé que Pontual reitera no referido catálogo:
“no sentido de sua nítida semelhança estrutural com os ORGANISMOS
VIVOS. Assegurando o revigoramento de três vetores básicos da arte
em nosso século [XX] — substituição do ato de representar a realidade
pelo de presentificá-la; a emergência de participação do espectador
como co-autor da obra, infinitamente aberta; e a síntese dos antes
estanques departamentos da expressão — tentativas de ampliar e
aprofundar a fusão da palavra e a visualidade, seja em ideogramas
verbais, em livros-poemas ou em NÃO-OBJETOS, termo
visionariamente criado por Ferreira Gullar para definir uma nova
categoria de trabalho”.
Um exemplo é o livro-poema AVE, de 1960, de Dillon:
em que a manipulação da placa azul, presa ao centro do suporte, podia ser circulada no processo de “leitura”, sugerindo o “vôo” da ave. Em verdade, o “vôo” (movimento) da “asa” é dado pela participação e vivenciamento do “leitor” durante a manipulação da peça.
Merece destaque também o “poema” CHEIO, descrito por Roberto Pontual:
“O passo seguinte, no impulso de curiosidade por diferentes processos,
seria o abandono da pura superfície do papel em busca do espaço
tridimensional concreto que nos circunscreve. CHEIO é o melhor
exemplo dessa transição de extrema importância: aqui, a folha vazada
nos conduz para além do plano e engendra seu significado pela tensa
oposição dos elementos verbal (cheio) e visual (vazio). É preciso
constatar ainda, nesse mesmo ideograma, o emprego tático de uma
particularidade física das letras que constituem a palavra CHEIO, todas
elas permanecendo simetricamente idênticas quando divididas pela
metade, o que impede, nessas circunstâncias, que a palavra tenha um
avesso.”
Roberto pretendeu assinalar que, se o “leitor” virar a folha ao contrário e virá-la de cabeça para baixo, ela continuará apresentando a palavra CHEIO, e não seu avesso... Efeito que poderia ser apresentado atualmente numa animação gráfica, virtualmente. Cabe ressaltar ainda que as letras estão vazadas na superfície da página, pelo corte do papel, efeito tridimensional que a Internet ainda não consegue apresentar... Efeito que poderia ser apresentado atualmente numa animação gráfica, virtualmente. Previsivelmente, o artista-arquiteto parte para uma criação mais “vivencial”, através de projetos de monumentos como o SÓ, que chegou a ser semifinalista do Symposium Urban Nürenberg.
“Uma proposta de atingir e ativar o inconsciente pela envolvência dos
choques de visualidade amalgamada a sons, palavras, materiais e tempo
— a vida totalizada. Mergulhado e envolvido, o homem se conheceria,
alfa e ômega, retornando. Teria passado pelo frio e fogo de sua própria
matéria”. Roberto Pontual
Uma autêntica “instalação”, só que permanente, como um templo para a vivência, digamos, litúrgica em sua relação com a arte e a poesia.
Em 1966 fui para a Venezuela e só voltei a estar com Dillon em 1968, numa breve visita que fiz ao Rio de Janeiro. De lá para cá perdi o contato com o grande artista. Descubro-o pela Internet, que é o lugar de encontro com os contemporâneos. Quase quarenta anos depois!
Quero completar a presente homenagem ao amigo com a imagem de um de seus trabalhos mais recentes. Atestando a evolução e a permanência de uma proposta criativa que se renova mas não trai as suas raízes, como sugeriu Edgar Morin ao exigir da poesia o lastro de sua sustentabilidade.
Fonte: Antonio Miranda – Osmar Dillon. Publicado em janeiro de 2005. Osmar Dillon, um artista de vanguarda (cópia de um texto manuscrito, incompleto, de Da, nirham: eRos (pseudônimo de Antonio Miranda nos anos 50 e início dos anos 60 do século XX). Consultado pela última vez em 2 de março de 2023.
---
O neoconcretismo poético de Osmar Dillon – Prefeitura do Rio de Janeiro
É difícil escrever ou falar sobre o neoconcretismo sem cair no lugar comum, sem reiterar a importância de artistas como Lygia Clark e Hélio Oiticica, sem refazer a trilha que sempre passa por certos fatos, personagens e concepções. A arte neoconcreta já é história – é preciso lembrar – uma vez que a convocamos com tanto frescor para pensar a arte que fazemos hoje. É importante termos em conta, ao tratarmos o neoconcretismo como herança, o compromisso de atualizá-lo em nossos discursos e práticas, não nos privando de enfrentar certos impasses. Voltar o olhar para a história sem contribuir com os esforços que em todos os campos têm revelado seus ângulos mais diagonais e possibilitado sua reescrita, não faz hoje o menor sentido. O campo da pesquisa em arte, em grande parte ocupado pelas universidades, mas não apenas, apesar de recente entre nós tem se revelado um lugar de possibilidades para este exercício.
Uma das questões fundamentais do neoconcretismo que a meu ver chega até nós mais ou menos inexplorada, é a relação imbricada entre poesia e artes visuais, protagonizada por aquele grupo de artistas e poetas que compartilhavam com grande afinidade as soluções que iam descobrindo ao reformularem as proposições do concretismo. Na maioria dos casos a relação entre poetas e artistas é discutida no âmbito de uma disputa, muitas vezes rancorosa, pela autoria ou antecedência na realização de certas idéias que revelaram aspectos caros àquele movimento, como a participação do espectador/leitor, feito então participador. Essas disputas não me parecem importantes. O que nos interessa hoje é reconhecer o neoconcretismo como o embrião de uma idéia de arte – sem nenhum complemento, visual ou plástico – dotada de profunda permeabilidade, que nasce justamente dessa fusão de linguagens. Nesse espaço de atravessamento que se inaugura, propício ao exercício experimental de liberdade, como colocado por Mário Pedrosa, uma referência central para aquele grupo, podemos evoluir e bailar, se tivermos a perspicácia de mantê-lo aberto.
Na paisagem neoconcreta existem poetas como Osmar Dillon, Reynaldo Jardim, Theon Spanudis, Oliveira Bastos, além de Ferreira Gullar, cujos escritos constituem importante documento sobre o período, e que tendo sido devidamente celebrado teve a chance de se posicionar sobre a importância do seu trabalho no desenvolvimento do neoconcretismo. Isso citando apenas os poetas que participaram efetivamente do neoconcretismo no Rio de Janeiro. Pensando a relação entre artes visuais e poesia como uma questão latente daquele contexto histórico, encontramos Wlademir Dias Pino, Neide Dias de Sá e outros artistas ligados ao poema-processo, que produziram concomitantemente ao grupo neoconcreto obras bastante contundentes na mesma direção.
Na exposição "Osmar Dillon: não objetos poéticos", em cartaz no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, temos a chance de rever a relação entre poesia e artes visuais no trabalho do arquiteto, poeta, artista Osmar Dillon (Belém, 1930 – Rio de Janeiro, 2013). Em um trabalho significativo de pesquisa, guiado de forma generosa por Roberto Feitosa, seu companheiro e um dos curadores da exposição, foram refeitos praticamente todos os trabalhos apresentados por Dillon nas exposições do grupo neoconcreto entre 1960 e 1961. São poemas-objeto como Lua, Ave, Flor e Ato, marcados por um processamento lúdico que potencializa o aspecto temporal da palavra. O espectador é integrado por meio de gestos muito simples, como tomar uma bola nas mãos, desdobrar uma página, abrir uma pequena porta. Em Paz e Sim, palavras fragmentadas em quebra-cabeças de grandes dimensões, a participação é jogo, e a palavra se integra na paisagem, sendo desfeita e rearranjada nesse brincar que a reconfigura e lhe confere infinitos significados.
Os desenhos/projetos da série Estudo para um Monumento Vivencial I, II e III, realizados entre 1961 e 1970, dialogam com o horizonte e a arquitetura de Brasília, recém-inaugurada. Nesses monumentos – utopias ambientais –, Dillon processa, de forma sofisticada, suas referências literárias mais enraizadas: o surrealismo e o concretismo, o inconsciente freudiano, a semiótica e a fenomenologia. Dentro da sua quase inexequibilidade, como defendido por Walmyr Ayala (Jornal do Brasil, 22/01/1970), "há o embrião de uma linguagem total da arte". E o desejo de transitar entre arte e vida, que também levou, entre outros, Lygia Clark de A casa é o corpo para o set terapêutico da Estruturação do self.
O crítico Roberto Pontual reconhece, em seu texto sobre a I Exposição Neoconcreta (O metropolitano, 05/04/1959), que naquele momento seminal a poesia era a face mais radical do neoconcretismo. É importante também reconhecermos hoje a obra desses poetas como referência para artistas como Lygia Pape, Lygia Clark, Amilcar de Castro, Hélio Oiticica, que, no desenvolvimento de seu trabalho, ocuparam merecidamente lugar de destaque na história da arte brasileira. Não tenho dúvida de que, assim como Dillon, os poetas neoconcretos merecem estudos mais aprofundados diante da riqueza de seu legado.
Izabela Pucu é Mestre em Linguagens Visuais e Doutoranda em História e Crítica de Arte pelo PPGAV/EBA/UFRJ, Diretora do Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica e uma das curadoras da exposição "Osmar Dillon: não objetos poéticos".
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro. Texto de Izabela Pucu. Consultado pela última vez em 2 de março de 2023.
---
Neoconcretismo | Itaú Cultural
A ruptura neoconcreta na arte brasileira data de março de 1959, com a publicação do Manifesto Neoconcreto pelo grupo de mesmo nome, e deve ser compreendida a partir do movimento concreto no país, que remonta ao início da década de 1950 e aos artistas do Grupo Frente, no Rio de Janeiro, e do Grupo Ruptura, em São Paulo. Tributária das correntes abstracionistas modernas das primeiras décadas do século XX - com raízes em experiências como as da Bauhaus, dos grupo De Stijl [O Estilo] e Cercle et Carré, além do suprematismo e construtivismo soviéticos -, a arte concreta ganha terreno no país em consonância com as formulações de Max Bill, principal responsável pela entrada desse ideário plástico na América Latina, logo após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
O contexto desenvolvimentista de crença na indústria e no progresso dá o tom da época em que os adeptos da arte concreta no Brasil vão se movimentar. O programa concreto parte de uma aproximação entre trabalho artístico e industrial. Da arte é afastada qualquer conotação lírica ou simbólica. O quadro, construído exclusivamente com elementos plásticos - planos e cores -, não tem outra significação senão ele próprio. Menos do que representar a realidade, a obra de arte evidencia estruturas e planos relacionados, formas seriadas e geométricas, que falam por si mesmos. A despeito de uma pauta geral partilhada pelo concretismo no Brasil, é possível afirmar que a investigação dos artistas paulistas enfatiza o conceito de pura visualidade da forma, à qual o grupo carioca opõe uma articulação forte entre arte e vida - que afasta a consideração da obra como "máquina" ou "objeto" -, e uma ênfase maior na intuição como requisito fundamental do trabalho artístico. As divergências entre Rio e São Paulo se explicitam na Exposição Nacional de Arte Concreta, São Paulo, 1956, e Rio de Janeiro, 1957, início do rompimento neoconcreto.
O manifesto de 1959, assinado por Amilcar de Castro (1920-2002), Ferreira Gullar (1930-2016), Franz Weissmann (1911-2005), Lygia Clark (1920-1988), Lygia Pape (1927-2004), Reynaldo Jardim (1926-2011) e Theon Spanudis (1915-1986), denuncia já nas linhas iniciais que a "tomada de posição neoconcreta" se faz "particularmente em face da arte concreta levada a uma perigosa exacerbação racionalista". Contra as ortodoxias construtivas e o dogmatismo geométrico, os neoconcretos defendem a liberdade de experimentação, o retorno às intenções expressivas e o resgate da subjetividade. A recuperação das possibilidades criadoras do artista - não mais considerado um inventor de protótipos industrais - e a incorporação efetiva do observador - que ao tocar e manipular as obras torna-se parte delas - apresentam-se como tentativas de eliminar certo acento técnico-científico presente no concretismo. Se a arte é fundamentalmente meio de expressão, e não produção de feitio industrial, é porque o fazer artístico ancora-se na experiência definida no tempo e no espaço. Ao empirismo e à objetividade concretos que levariam, no limite, à perda da especificidade do trabalho artístico, os neoconcretos respondem com a defesa da manutenção da "aura" da obra de arte e da recuperação de um humanismo.
Uma tentativa de renovação da linguagem geométrica pode ser observada nas esculturas de Amilcar de Castro. Os cortes e dobras feitos em materiais rígidos como o ferro, evidenciam o trabalho despendido na confecção do objeto. Do embate entre o ato do artista - que busca traços precisos - e a matéria resistente, nasce a obra, fruto do esforço construtivo, mas também da emoção. Nas palavras de Castro: "Arte sem emoção é precária. Max Bill queria uma coisa tão fabulosamente pura, sem emoção". Nas séries dos Bilaterais e Relevos Espaciais, 1959, de Hélio Oiticica (1937-1980) e nos Trepantes realizados por Lygia Clark na década de 1960, por exemplo, as formas conquistam o espaço de maneira decisiva para, logo em seguida, romper as distâncias entre o observador e a obra, como nos Bichos, criados por Lygia Clark e nos Livros, de Lygia Pape. A arte interpela o mundo, a vida e também o corpo, atestam o Ballet Neoconcreto, 1958, de Lygia Pape e os Penetráveis, Bólides e Parangolés criados por Oiticica nos anos 1960. A cor, recusada por parte do concretismo, invade as pesquisas neoconcretas, por exemplo nas obras de Aluísio Carvão (1920-2001), Hércules Barsotti (1914-2010), Willys de Castro (1926-1988) e Oiticica. Estudos realizados sobre o tema frisam o lugar do movimento neoconcreto como divisor de águas na história das artes visuais no Brasil; um ponto de ruptura da arte moderna no país, diz o crítico Ronaldo Brito.
Fonte: NEOCONCRETISMO. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2023. Acesso em: 02 de março de 2023. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7
Crédito fotográfico: Antônio Miranda - Osmar Dillon. Consultado pela última vez em 2 de março de 2023.
Osmar Dillon (1930, Belém, PA — 2013, Rio de Janeiro, RJ), é um artista visual e poeta brasileiro. Formou-se em arquitetura pela Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, em 1954. Estudou como bolsista na Itália no fim da década de 50. Dedica-se à pintura e, em paralelo, à poesia. Em 1960, procura uma integração entre poesia e pintura, cujo resultado são livros-poemas e não-objetos verbais. No Rio de Janeiro integra o Movimento de Arte Neoconcreta, 1959 e 1960. Afastou-se do circuito das artes plásticas entre 1961 e 1968; nesse ano expõe individualmente na Galeria Cosme Velho, São Paulo. Acumulou prêmios, destacando-se o primeiro prêmio de viagem ao exterior no "Salão do Acrílico", Petit Galerie, Rio, em 1973. Osmar foi convidado a participar do acervo do Museu de Ontário, Canadá, com exposição no MAM do Rio e em Ontário, 1974. Premiado em 1971 no Salão da Eletrobras, MAM, Rio, foi semifinalista no Symposium Urbanum de Nuremberg, Alemanha. Vencedor de vários prêmios de viagem, Osmar participou de diversas exposições coletivas e individuais no Brasil e no mundo.
Biografia – Itaú Cultural
Forma-se em arquitetura pela Universidade do Brasil, Rio de Janeiro, em 1954. Estuda como bolsista na Itália no fim da década de 50. Dedica-se à pintura e, em paralelo, à poesia. Em 1960, procura uma integração entre poesia e pintura, cujo resultado são livros-poemas e não-objetos verbais. No Rio de Janeiro integra o Movimento de Arte Neoconcreta, 1959 e 1960, e faz parte dos Domingos de Criação, 1971.
Críticas
"(...) sempre se dedicou mais à pintura e, paralelamente, à poesia, ambas caracterizadas por uma tendência inicial no sentido do surrealismo. No princípio da década de 1960, buscando uma integração cada vez mais funcional entre poesia e pintura, elaborou uma série de pequenos poemas com o aproveitamento significante do espaço em branco da página; essas experiências, que desembocaram em livros-poemas e não-objetos verbais, levaram-no a participar do movimento de arte neoconcreta. (...) Mais recentemente, depois de uma fase de menos intensidade de trabalho no campo da arte, voltou a pintar, seguindo dois rumos aparentemente distintos, mas que mantêm, na profundidade, uma ligação sensível: de um lado, a pintura de fachadas da arquitetura brasileira, numa pesquisa de relevos com massa de gesso, às quais terminou acrescentando perspectivas de paisagens vistas através de portas, janelas ou muros, em clima de tranqüilo, mas pulsante, mistério; do outro, a série de seus DEVORANTES, com franca retomada do surrealismo e das referências eróticas, na crítica da contemporaniedade" — Roberto Pontual (PONTUAL, Roberto. Dicionário das artes plásticas no Brasil. Apresentação de Antônio Houaiss. Textos de Mário Barata et al. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969).
"Sempre que se escreve sobre a excelente obra visual de Osmar Dillon (...), parece-me que tem sido impossível evitar certos vocábulos buscados na vizinhança área poética. Mas não se trata, em seu caso, do freqüente empréstimo de metáforas com que a crítica de arte procura agasalhar certas idéias. A verdade é que esse artista discreto, de temperamento machadiano, inaugurou no Brasil, em fins da década de 60, uma linguagem pessoal, cujos três elementos constitutivos cresceram em simbiose. O primeiro é o jogo de formas e de cores - as artes visuais com que Dillon trabalha há longa data, auxiliado e disciplinado (às vezes, ao extremo) por sua formação de arquiteto. O segundo é o emprego sistemático da palavra, não apenas como ornamento, forma gráfica ou legenda, mas sim como parte inalienável do recado assumido pela obra. O terceiro, enfim, é a participação do espectador, que não se limita a contemplar um produto acabado. Creio estar, na obra de Dillon, um dos mais lúcidos exemplos de como incorporar ricamente essa tendencia. Mesmo quando recorre ao gesto físico direto, a participação em suas propostas ultrapassa bastante o lado lúdico. Porque exige, ao mesmo tempo, um exercício mental com conceitos e formas abstratas, palavras e relações, reconstelando-os criadoramente numa nova floresta de sentidos. Nisso vem, sem dúvida, algo da tradição do Dillon poeta, que, em princípios dos anos 60, integrava no Rio o movimento neoconcreto. Foi com o neoconcretismo, por exemplo, que a simultaneidade entre o fazer-se da obra e o seu consumo se tornou uma das preocupações da criação. E Dillon se mostra herdeiro do "não objeto" teorizado por Gullar em muitos de seus trabalhos atuais, que gravitam em órbitas paralelas como tempo, forma, espaço e ação" — Olívio Tavares de Araújo (Dillon, Osmar. Chuva. Apresentação Olívio Tavares de Araújo. São Paulo: Galeria de Arte Ipanema, 1974. f. dobrada: il. p. b.)
Exposições Individuais
1968 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Cosme Velho
1970 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria de Arte Copacabana Palace
1972 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Ipanema
1974 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Ipanema
Exposições Coletivas
1959 - Rio de Janeiro RJ - 1ª Exposição de Arte Neoconcreta, no MAM/RJ
1959 - Salvador BA - Exposição de Arte Neoconcreta, no Belvedere da Sé
1960 - Rio de Janeiro RJ - 2ª Exposição Neoconcreta, no MEC
1961 - Petrópolis RJ - 2ª Exposição Poegoespacial
1961 - São Paulo SP - 3ª Exposição Neoconcreta, no MAM/SP
1969 - Rio de Janeiro RJ - 18º Salão Nacional de Arte Moderna
1969 - São Paulo SP - 10ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal
1970 - Campinas SP - 6º Salão de Arte Contemporânea de Campinas, MACC
1970 - Rio de Janeiro RJ - 19º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/SP
1970 - Rio de Janeiro RJ - 2º Salão de Verão, no MAM/RJ - primeiro prêmio de viagem ao exterior
1970 - Rio de Janeiro RJ - O Rosto e A Obra, no Ibeu
1970 - São Paulo SP - Pré-Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal
1971 - Curitiba PR - 28º Salão Paranaense de Artes Plásticas, na Biblioteca Pública do Paraná - artista convidado
1971 - Nürenberg (Alemanha) - Symposium Urbanum - artista semifinalista
1971 - Rio de Janeiro RJ - 1º Salão da Eletrobrás, no MAM/RJ - prêmio aquisição
1971 - Rio de Janeiro RJ - 20º Salão Nacional de Arte Moderna
1971 - Rio de Janeiro RJ - 9º Resumo JB, no MAM/RJ
1971 - Rio de Janeiro RJ - Exposição de Múltiplos, na Petite Galeria
1972 - Belo Horizonte MG - 4º Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte
1972 - Rio de Janeiro RJ - 21º Salão Nacional de Arte Moderna
1972 - Rio de Janeiro RJ - Coleção Gilberto Chateaubriand, no Ibeu
1972 - Rio de Janeiro RJ - Múltiplos, na Petite Galerie
1972 - Rio de Janeiro RJ - Salão da Luz e do Movimento - premiação
1972 - São Paulo SP - Arte/Brasil/Hoje: 50 anos depois, na Galeria Collectio
1972 - São Paulo SP - 4º Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM/SP
1973 - Rio de Janeiro RJ - 1º Salão do Acrílico - prêmio aquisição
1973 - Rio de Janeiro RJ - Concurso de Múltiplos da Petite Galerie - primeiro prêmio de viagem ao exterior
1977 - Belo Horizonte MG - 5º Salão Global de Inverno, na Fundação Palácio das Artes
1977 - Brasília DF - 5º Salão Global de Inverno, na Fundação Cultural do Distrito Federal
1977 - Rio de Janeiro RJ - 5º Salão Global de Inverno, no MNBA
1977 - São Paulo SP - 5º Salão Global de Inverno, no Masp
1981 - Rio de Janeiro RJ - Do Moderno ao Contemporâneo, no MAM/RJ
1982 - Lisboa (Portugal) - Do Moderno ao Contemporâneo: Coleção Gilberto Chateaubriand, no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão
1982 - Rio de Janeiro RJ - Que Casa é essa da Arte Brasileira
1984 - Rio de Janeiro RJ - Neoconcretismo 1959-1961, na Galeria de Arte Banerj
1987 - Rio de Janeiro RJ - Ao Colecionador: homenagem a Gilberto Chateaubriand , no MAM/RJ
1987 - São Paulo SP - Palavra Imágica, no MAC/USP
1991 - Curitiba PR - Rio de Janeiro 59/60: experiência neoconcreta, no Museu Municipal de Arte
1991 - Rio de Janeiro RJ - Rio de Janeiro 59/60: experiência neoconcreta, no MAM/RJ
1992 - São Paulo SP - Anos 60/70: Coleção Gilberto Chateubriand - MAM/RJ, na Galeria de Arte do Sesi
1993 - Rio de Janeiro RJ - Arte Erótica, no MAM/RJ
1998 - São Paulo SP - O Moderno e o Contemporâneo na Arte Brasileira: Coleção Gilberto Chateaubriand - MAM/RJ, no Masp
2000 - Rio de Janeiro RJ - Situações: arte brasileira anos 70, na Fundação Casa França-Brasil
2001 - São Paulo SP - Trajetória da Luz na Arte Brasileira, no Itaú Cultural
2002 - Rio de Janeiro RJ - Genealogia do Espaço, na Galeria do Parque das Ruínas
2003 - Campos dos Goytacazes RJ - Poema Planar-Espacial, no Sesc/Campos dos Goytacazes
2003 - Nova Friburgo RJ - Poema Planar-Espacial, na Galeria Sesc Nova Friburgo
Fonte: OSMAR Dillon. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2023. Acesso em: 01 de março de 2023. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7
---
Exposição no Rio resgata obra de Osmar Dillon, nome pouco lembrado do neoconcretismo
É difícil escrever ou falar sobre o neoconcretismo sem cair no lugar comum, sem reiterar a importância de artistas como Lygia Clark e Hélio Oiticica, sem refazer a trilha que sempre passa por certos fatos, personagens e concepções. A arte neoconcreta já é História, uma vez que a convocamos com tanto frescor para pensar a arte que fazemos hoje. É importante termos em conta, ao tratarmos o neoconcretismo como herança, o compromisso de atualizá-lo em nossos discursos e práticas, não nos privando de enfrentar certos impasses. Voltar o olhar para a História sem contribuir com os esforços que em todos os campos têm revelado seus ângulos mais diagonais, e possibilitado sua reescrita, não faz hoje o menor sentido. Apesar de recente entre nós, o campo da pesquisa em arte, em grande parte ocupado pelas universidades, mas não apenas, tem se revelado um lugar de possibilidades para este exercício.
Uma das questões fundamentais do neoconcretismo, que a meu ver chega até nós mais ou menos inexplorada, é a relação imbricada entre poesia e artes visuais, protagonizada por aquele grupo de artistas e poetas que compartilhavam com grande afinidade as soluções que iam descobrindo ao reformularem as proposições do concretismo. Na maioria dos casos, a relação entre poetas e artistas é discutida no âmbito de uma disputa, muitas vezes rancorosa, pela autoria ou antecedência na realização de certas ideias que revelaram aspectos caros àquele movimento, como a participação do espectador/leitor, feito então participante. Essas disputas não me parecem importantes. O que nos interessa hoje é reconhecer o neoconcretismo como o embrião de uma ideia de arte — sem nenhum complemento, visual ou plástico — dotada de profunda permeabilidade, que nasce justamente dessa fusão de linguagens. Nesse espaço de atravessamento que se inaugura, propício ao exercício experimental de liberdade, como colocado por Mário Pedrosa, uma referência central para aquele grupo, podemos evoluir e bailar, se tivermos a perspicácia de mantê-lo aberto.
Mostra explora relação entre poesia e artes visuais
Na paisagem neoconcreta existem poetas como Osmar Dillon, Reynaldo Jardim, Theon Spanudis, Oliveira Bastos, além de Ferreira Gullar, cujos escritos constituem importante documento sobre o período e que, tendo sido devidamente celebrado, teve a chance de se posicionar sobre a importância do seu trabalho no desenvolvimento do neoconcretismo. Isso citando apenas os poetas que participaram efetivamente do neoconcretismo no Rio de Janeiro. Pensando a relação entre artes visuais e poesia como uma questão latente daquele contexto histórico, encontramos Wlademir Dias-Pino, Neide Dias de Sá e outros artistas ligados ao poema-processo, que produziram concomitantemente ao grupo neoconcreto obras bastante contundentes na mesma direção.
Na exposição “Osmar Dillon: não-objetos poéticos”, em cartaz a partir de hoje no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, temos a chance de rever a relação entre poesia e artes visuais no trabalho do arquiteto, poeta e artista Osmar Dillon (Belém, 1930 – Rio de Janeiro, 2013). Em um trabalho significativo de pesquisa, guiado de forma generosa por Roberto Feitosa, seu companheiro e um dos curadores da exposição, foram refeitos praticamente todos os trabalhos apresentados por Dillon nas exposições do grupo neoconcreto entre 1960 e 1961. São poemas-objeto como “Lua”, “Ave”, “Flor” e “Ato”, marcados por um processamento lúdico que potencializa o aspecto temporal da palavra. O espectador é integrado por meio de gestos muito simples, como tomar uma bola nas mãos, desdobrar uma página, abrir uma pequena porta. Em “Paz” e “Sim”, palavras fragmentadas em quebra-cabeças de grandes dimensões, a participação é jogo, e a palavra se integra na paisagem, sendo desfeita e rearranjada nesse brincar que a reconfigura e lhe confere infinitos significados.
Os desenhos/projetos da série Estudo para um Monumento Vivencial I, II e III, realizados entre 1961 e 1970, dialogam com o horizonte e a arquitetura de Brasília, recém-inaugurada. Nesses monumentos — utopias ambientais —, Dillon processa de forma sofisticada suas referências literárias mais enraizadas: o surrealismo e o concretismo, o inconsciente freudiano, a semiótica e a fenomenologia. Dentro da sua quase inexequibilidade, como defendido por Walmir Ayala (“Jornal do Brasil”, 22/1/1970), “há o embrião de uma linguagem total da arte”. E o desejo de transitar entre arte e vida, que também levou, entre outros, Lygia Clark de “A casa é o corpo” para o set terapêutico da “Estruturação do self".
O crítico Roberto Pontual reconhece, em texto sobre a I Exposição Neoconcreta (“O metropolitano”, 5/4/1959), que naquele momento seminal a poesia era a face mais radical do neoconcretismo. É importante também reconhecermos hoje a obra desses poetas como referência para artistas como Lygia Pape, Lygia Clark, Amilcar de Castro e Hélio Oiticica, que, no desenvolvimento de seu trabalho, ocuparam merecidamente lugar de destaque na história da arte brasileira. Assim como Dillon, os poetas neoconcretos merecem estudos mais aprofundados diante da riqueza de seu legado.
Fonte: Globo, Exposição no Rio resgata obra de Osmar Dillon, nome pouco lembrado do neoconcretismo, publicado por Izabela Pucu, em 07 de março de 2015. Consultado pela última vez em 2 de março de 2023.
---
Osmar Dillon — Raphael Fonseca
O Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, no Centro do Rio de Janeiro, abrigou por dois meses uma reunião de trabalhos de Osmar Dillon. Nascido na cidade de Belém, no norte do Brasil, em 1930 e falecido no Rio de Janeiro em 2013, o artista participou da segunda e terceira edições da Exposição de Arte Neoconcreta, realizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Essa revisão de seu trabalho faz jus, portanto, ao artista que dá nome à instituição e às narrativas paralelas à sua obra, visto que Oiticica, além de participar das três exposições do neoconcretismo, também foi um dos autores responsáveis por assinar o Manifesto Neoconcreto, em 1959.
Quase sessenta anos após as primeiras linhas sobre a ideia de “neoconcreto”, é mais do que o momento de se lançar luz sobre artistas que fujam da tríade quase sagrada constituída pelos nomes de Oiticica, Lygia Clark e Lygia Pape, e de nomes que sejam diferentes daqueles outros importantes artistas que já tiveram uma trajetória institucionalizada de modo significativo, como Amilcar de Castro, Ferreira Gullar e Franz Weissmann. Aberta alguns meses após a retrospectiva de Amélia Toledo no Paço Imperial – outra artista de atividade constante nesse mesmo período histórico – a exposição convidava à leitura do público de um jornal da década de 1970 onde os nomes dos dois artistas eram ladeados por outras figuras também merecedoras de revisões. Quais experiências sensíveis as ali citadas obras de Yutaka Toyota, Paulo Roberto Leal, Raimundo Collares e Ubi Bava podem ativar no espectador contemporâneo? Eis uma pergunta que só futuras pesquisas em história da arte e curadoria podem responder.
No que diz respeito a essa exposição, é possível pensá-la partir de três momentos distintos dados pelo uso das salas. Na entrada, o público era recebido por uma série de formas geométricas tridimensionais que ocupavam quase integralmente a área do chão. O contraste entre o agrupamento separado de formas vermelhas e brancas trazia à tona um dos elementos essenciais da produção de Dillon e, por consequência, do grupo de artistas próximos ao neoconcretismo: a cor. As formas vermelhas, através do corpo do espectador, juntas formavam a palavra “paz”, ao passo que as brancas formavam um “sim”. A relação entre imagem e palavra - tão cara ao artista –, além da problematização da escultura como objeto a ser ativado por parte do público, já se fazem presentes.
Na segunda sala, maior do que a primeira, cubos, móveis e mesas eram suporte dos diversos objetos criados pelo artista. Um olhar panorâmico pelo espaço possibilita uma coleta das palavras que apontavam para o campo semântico de interesse de Dillon: “sol”, “chuva”, “céu”, “vento”, “lua” e “nuvem”. Interessante pensar que, por mais que não exista nenhuma paisagem explícita, são estas palavras que giram em torno do repertório relativo à natureza que aparece com mais frequência nessa seleção de obras. Ao notarmos o caráter representacional da cor em todos esses objetos – onde, por exemplo, o “sol” é um objeto amarelo e o “céu” uma estrutura azul -, temos uma recodificação da pintura de paisagem, tradição importante na cultura visual do Rio de Janeiro.
Já outros objetos necessitavam e permitiam a manipulação por parte do público. As palavras “ato” e “lua” se desconstruíam através da movimentação de materiais industriais como o vidro, do mesmo modo que uma folha de papel se desdobrava de dentro do trio “raiz caule folha”. Percebíamos que ali estavam contidas “lua sol” e, por fim, “flor”. Também em papel, “vento” se distorcia em letras separadas e, já em acrílico, a letra “o” da palavra “som” ganhava a forma de uma bola de tênis de mesa que, ao se movimentar dentro de uma caixa, proporcionava uma experiência relativa ao significado da palavra. É esse jogo entre significante e significado, entre as formas geométricas que constituem as letras de uma palavra e suas relações com campos semânticos e cromáticos específicos, que parece mover a produção central a essa exposição, ou seja, aquela da década de 1960.
Era na terceira e última sala que outras explorações da forma por parte de Dillon vinham à tona e surpreendiam. Se, por um lado, é possível aproximá-las do interesse do artista em palavras como “sexo” e “ovo”, orgânicas e instintivas, a forma plástica se revela como discrepante. Enquanto na segunda sala essas duas palavras são interconectadas, novamente, através da geometria e do movimento de uma bolinha que é ao mesmo tempo a letra “o” de “sexo” e de “ovo”, no terceiro espaço o sexo e o corpo humano são presentes através de desenhos em forte diálogo com aquilo que se convencionou chamar de “surrealismo”.
Seios, formas que lembravam nádegas, testículos, bocas humanas e peixes predadores se misturavam e davam o tom de alguns desenhos do final da década de 1940, além de algumas pinturas do final da década de 1960 e começo da década seguinte. Baseados em mesas, mas içados a partir do teto, também era possível ver uma série de desenhos intitulados “Estudo para um monumento vivencial”, onde o artista criava prédios fictícios e propunha modos de experimentação dos mesmos através do corpo. Por fim, alguns poemas datilografados por Dillon e em torno dos elementos de seu interesse aqui comentados se colocavam como outro ponto de ligação com os trabalhos anteriormente vistos e onde a palavra era protagonista.
Ao final da exposição, ficava uma curiosidade pelas décadas posteriores de sua produção; o que Osmar Dillon produziu no período entre a década de 1970 e 2013? Longe, porém, de querer se configurar como uma “retrospectiva completa” de sua obra (pretensão que, como qualquer exposição, sempre deixa hiatos), essa curadoria enfocada nesse recorte temporal preciso é importante como introdução à complexidade da pesquisa artística de Dillon. Que essa exposição incentive outras visadas em torno dos artistas menos conhecidos do chamado “neoconcretismo brasileiro” e que a curadoria e a história da arte sejam capazes de não criar novos dogmas, mas de aproximar, diferenciar e reunir imagens e trajetórias.
Fonte: Raphael Fonseca – Osmar Dillon. Texto publicado originalmente na ArtNexus de junho-agosto de 2015. Consultado pela última vez em 2 de março de 2023.
---
Osmar Dillon | por Antônio Miranda
Osmar Dillon é uma das pessoas que mais admirei em minha juventude. Cheguei até ao apartamento em que vivia, na zona sul do Rio de Janeiro, com nosso amigo comum Roberto Pontual, outro admirador e propagador de sua obra. Isso aconteceu no início do emblemático ano de 1960 — ano da inauguração de Brasília, no auge da Bossa Nova, do Cinema Novo e do movimento neoconcreto (criado em 1959). O arquiteto Osmar Dillon já montava seus “livro-poemas” e, em decorrência, os “não-objetos verbais”, numa experimentação de textos manipuláveis, participativos, escultóricos.
Muito jái se escreveu sobre este trabalho pioneiro de Dillon. Eu mesmo me referi a ele em várias oportunidades, no Brasil e na Argentina, em artigos e cursos sobre arte verbal de vanguarda.
Publiquei um texto sobre a criação de Dillon no célebre SDJB com o pseudônimo de Da Nirham Eros (da,nirham: eRos) — “Poesia/Um paralelo – Estrutura e Conteúdo”, Suplemento Dominical de Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 29 out. 1961. Confesso que não lembrava mais... Descobri a referência bibliográfica no catálogo do artista de uma exposição individual : OSMAR DILLON . objetos. múltiplos 1972, Galeria de Arte Ipanema. Não conservei, infelizmente, nem o recorte do jornal nem o manuscrito do artigo mas é questão agora de ir aos arquivos da editora... mas certamente aludia à fusão do verbal com o visual em sua obra.
Logo em seguida Dillon partiu para exercício no espírito da integração das artes:
“Uma poesia de permanente fundamento plástico, como se as palavras
se destinassem à pintura (“meus dedos são tubos de tinta”); uma
pintura de fala, com a viscelaridade de contorsões oníricas
correspondendo ao jogo aliterativo de toda a sua poesia. Assim — com
a poesia perdendo palavras, mas não a referência ao mundo exterior, e
a pintura abandonando a figuração explícita, mas não o símbolo — foi
por um processo natural de despojamento de ambos os âmbitos, e com
o acréscimo de sua tarefa profissional de arquiteto, que ele formulou a
partir de 1960 o rumo ainda hoje se desdobrando”. Roberto Pontual,
no catálogo supra citado, 1972.
Surge a proposta “neoconcreta” de superar o maquinismo e assegurar o conceito de Wladimir Weidlé que Pontual reitera no referido catálogo:
“no sentido de sua nítida semelhança estrutural com os ORGANISMOS
VIVOS. Assegurando o revigoramento de três vetores básicos da arte
em nosso século [XX] — substituição do ato de representar a realidade
pelo de presentificá-la; a emergência de participação do espectador
como co-autor da obra, infinitamente aberta; e a síntese dos antes
estanques departamentos da expressão — tentativas de ampliar e
aprofundar a fusão da palavra e a visualidade, seja em ideogramas
verbais, em livros-poemas ou em NÃO-OBJETOS, termo
visionariamente criado por Ferreira Gullar para definir uma nova
categoria de trabalho”.
Um exemplo é o livro-poema AVE, de 1960, de Dillon:
em que a manipulação da placa azul, presa ao centro do suporte, podia ser circulada no processo de “leitura”, sugerindo o “vôo” da ave. Em verdade, o “vôo” (movimento) da “asa” é dado pela participação e vivenciamento do “leitor” durante a manipulação da peça.
Merece destaque também o “poema” CHEIO, descrito por Roberto Pontual:
“O passo seguinte, no impulso de curiosidade por diferentes processos,
seria o abandono da pura superfície do papel em busca do espaço
tridimensional concreto que nos circunscreve. CHEIO é o melhor
exemplo dessa transição de extrema importância: aqui, a folha vazada
nos conduz para além do plano e engendra seu significado pela tensa
oposição dos elementos verbal (cheio) e visual (vazio). É preciso
constatar ainda, nesse mesmo ideograma, o emprego tático de uma
particularidade física das letras que constituem a palavra CHEIO, todas
elas permanecendo simetricamente idênticas quando divididas pela
metade, o que impede, nessas circunstâncias, que a palavra tenha um
avesso.”
Roberto pretendeu assinalar que, se o “leitor” virar a folha ao contrário e virá-la de cabeça para baixo, ela continuará apresentando a palavra CHEIO, e não seu avesso... Efeito que poderia ser apresentado atualmente numa animação gráfica, virtualmente. Cabe ressaltar ainda que as letras estão vazadas na superfície da página, pelo corte do papel, efeito tridimensional que a Internet ainda não consegue apresentar... Efeito que poderia ser apresentado atualmente numa animação gráfica, virtualmente. Previsivelmente, o artista-arquiteto parte para uma criação mais “vivencial”, através de projetos de monumentos como o SÓ, que chegou a ser semifinalista do Symposium Urban Nürenberg.
“Uma proposta de atingir e ativar o inconsciente pela envolvência dos
choques de visualidade amalgamada a sons, palavras, materiais e tempo
— a vida totalizada. Mergulhado e envolvido, o homem se conheceria,
alfa e ômega, retornando. Teria passado pelo frio e fogo de sua própria
matéria”. Roberto Pontual
Uma autêntica “instalação”, só que permanente, como um templo para a vivência, digamos, litúrgica em sua relação com a arte e a poesia.
Em 1966 fui para a Venezuela e só voltei a estar com Dillon em 1968, numa breve visita que fiz ao Rio de Janeiro. De lá para cá perdi o contato com o grande artista. Descubro-o pela Internet, que é o lugar de encontro com os contemporâneos. Quase quarenta anos depois!
Quero completar a presente homenagem ao amigo com a imagem de um de seus trabalhos mais recentes. Atestando a evolução e a permanência de uma proposta criativa que se renova mas não trai as suas raízes, como sugeriu Edgar Morin ao exigir da poesia o lastro de sua sustentabilidade.
Fonte: Antonio Miranda – Osmar Dillon. Publicado em janeiro de 2005. Osmar Dillon, um artista de vanguarda (cópia de um texto manuscrito, incompleto, de Da, nirham: eRos (pseudônimo de Antonio Miranda nos anos 50 e início dos anos 60 do século XX). Consultado pela última vez em 2 de março de 2023.
---
O neoconcretismo poético de Osmar Dillon – Prefeitura do Rio de Janeiro
É difícil escrever ou falar sobre o neoconcretismo sem cair no lugar comum, sem reiterar a importância de artistas como Lygia Clark e Hélio Oiticica, sem refazer a trilha que sempre passa por certos fatos, personagens e concepções. A arte neoconcreta já é história – é preciso lembrar – uma vez que a convocamos com tanto frescor para pensar a arte que fazemos hoje. É importante termos em conta, ao tratarmos o neoconcretismo como herança, o compromisso de atualizá-lo em nossos discursos e práticas, não nos privando de enfrentar certos impasses. Voltar o olhar para a história sem contribuir com os esforços que em todos os campos têm revelado seus ângulos mais diagonais e possibilitado sua reescrita, não faz hoje o menor sentido. O campo da pesquisa em arte, em grande parte ocupado pelas universidades, mas não apenas, apesar de recente entre nós tem se revelado um lugar de possibilidades para este exercício.
Uma das questões fundamentais do neoconcretismo que a meu ver chega até nós mais ou menos inexplorada, é a relação imbricada entre poesia e artes visuais, protagonizada por aquele grupo de artistas e poetas que compartilhavam com grande afinidade as soluções que iam descobrindo ao reformularem as proposições do concretismo. Na maioria dos casos a relação entre poetas e artistas é discutida no âmbito de uma disputa, muitas vezes rancorosa, pela autoria ou antecedência na realização de certas idéias que revelaram aspectos caros àquele movimento, como a participação do espectador/leitor, feito então participador. Essas disputas não me parecem importantes. O que nos interessa hoje é reconhecer o neoconcretismo como o embrião de uma idéia de arte – sem nenhum complemento, visual ou plástico – dotada de profunda permeabilidade, que nasce justamente dessa fusão de linguagens. Nesse espaço de atravessamento que se inaugura, propício ao exercício experimental de liberdade, como colocado por Mário Pedrosa, uma referência central para aquele grupo, podemos evoluir e bailar, se tivermos a perspicácia de mantê-lo aberto.
Na paisagem neoconcreta existem poetas como Osmar Dillon, Reynaldo Jardim, Theon Spanudis, Oliveira Bastos, além de Ferreira Gullar, cujos escritos constituem importante documento sobre o período, e que tendo sido devidamente celebrado teve a chance de se posicionar sobre a importância do seu trabalho no desenvolvimento do neoconcretismo. Isso citando apenas os poetas que participaram efetivamente do neoconcretismo no Rio de Janeiro. Pensando a relação entre artes visuais e poesia como uma questão latente daquele contexto histórico, encontramos Wlademir Dias Pino, Neide Dias de Sá e outros artistas ligados ao poema-processo, que produziram concomitantemente ao grupo neoconcreto obras bastante contundentes na mesma direção.
Na exposição "Osmar Dillon: não objetos poéticos", em cartaz no Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica, temos a chance de rever a relação entre poesia e artes visuais no trabalho do arquiteto, poeta, artista Osmar Dillon (Belém, 1930 – Rio de Janeiro, 2013). Em um trabalho significativo de pesquisa, guiado de forma generosa por Roberto Feitosa, seu companheiro e um dos curadores da exposição, foram refeitos praticamente todos os trabalhos apresentados por Dillon nas exposições do grupo neoconcreto entre 1960 e 1961. São poemas-objeto como Lua, Ave, Flor e Ato, marcados por um processamento lúdico que potencializa o aspecto temporal da palavra. O espectador é integrado por meio de gestos muito simples, como tomar uma bola nas mãos, desdobrar uma página, abrir uma pequena porta. Em Paz e Sim, palavras fragmentadas em quebra-cabeças de grandes dimensões, a participação é jogo, e a palavra se integra na paisagem, sendo desfeita e rearranjada nesse brincar que a reconfigura e lhe confere infinitos significados.
Os desenhos/projetos da série Estudo para um Monumento Vivencial I, II e III, realizados entre 1961 e 1970, dialogam com o horizonte e a arquitetura de Brasília, recém-inaugurada. Nesses monumentos – utopias ambientais –, Dillon processa, de forma sofisticada, suas referências literárias mais enraizadas: o surrealismo e o concretismo, o inconsciente freudiano, a semiótica e a fenomenologia. Dentro da sua quase inexequibilidade, como defendido por Walmyr Ayala (Jornal do Brasil, 22/01/1970), "há o embrião de uma linguagem total da arte". E o desejo de transitar entre arte e vida, que também levou, entre outros, Lygia Clark de A casa é o corpo para o set terapêutico da Estruturação do self.
O crítico Roberto Pontual reconhece, em seu texto sobre a I Exposição Neoconcreta (O metropolitano, 05/04/1959), que naquele momento seminal a poesia era a face mais radical do neoconcretismo. É importante também reconhecermos hoje a obra desses poetas como referência para artistas como Lygia Pape, Lygia Clark, Amilcar de Castro, Hélio Oiticica, que, no desenvolvimento de seu trabalho, ocuparam merecidamente lugar de destaque na história da arte brasileira. Não tenho dúvida de que, assim como Dillon, os poetas neoconcretos merecem estudos mais aprofundados diante da riqueza de seu legado.
Izabela Pucu é Mestre em Linguagens Visuais e Doutoranda em História e Crítica de Arte pelo PPGAV/EBA/UFRJ, Diretora do Centro Municipal de Arte Hélio Oiticica e uma das curadoras da exposição "Osmar Dillon: não objetos poéticos".
Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro. Texto de Izabela Pucu. Consultado pela última vez em 2 de março de 2023.
---
Neoconcretismo | Itaú Cultural
A ruptura neoconcreta na arte brasileira data de março de 1959, com a publicação do Manifesto Neoconcreto pelo grupo de mesmo nome, e deve ser compreendida a partir do movimento concreto no país, que remonta ao início da década de 1950 e aos artistas do Grupo Frente, no Rio de Janeiro, e do Grupo Ruptura, em São Paulo. Tributária das correntes abstracionistas modernas das primeiras décadas do século XX - com raízes em experiências como as da Bauhaus, dos grupo De Stijl [O Estilo] e Cercle et Carré, além do suprematismo e construtivismo soviéticos -, a arte concreta ganha terreno no país em consonância com as formulações de Max Bill, principal responsável pela entrada desse ideário plástico na América Latina, logo após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).
O contexto desenvolvimentista de crença na indústria e no progresso dá o tom da época em que os adeptos da arte concreta no Brasil vão se movimentar. O programa concreto parte de uma aproximação entre trabalho artístico e industrial. Da arte é afastada qualquer conotação lírica ou simbólica. O quadro, construído exclusivamente com elementos plásticos - planos e cores -, não tem outra significação senão ele próprio. Menos do que representar a realidade, a obra de arte evidencia estruturas e planos relacionados, formas seriadas e geométricas, que falam por si mesmos. A despeito de uma pauta geral partilhada pelo concretismo no Brasil, é possível afirmar que a investigação dos artistas paulistas enfatiza o conceito de pura visualidade da forma, à qual o grupo carioca opõe uma articulação forte entre arte e vida - que afasta a consideração da obra como "máquina" ou "objeto" -, e uma ênfase maior na intuição como requisito fundamental do trabalho artístico. As divergências entre Rio e São Paulo se explicitam na Exposição Nacional de Arte Concreta, São Paulo, 1956, e Rio de Janeiro, 1957, início do rompimento neoconcreto.
O manifesto de 1959, assinado por Amilcar de Castro (1920-2002), Ferreira Gullar (1930-2016), Franz Weissmann (1911-2005), Lygia Clark (1920-1988), Lygia Pape (1927-2004), Reynaldo Jardim (1926-2011) e Theon Spanudis (1915-1986), denuncia já nas linhas iniciais que a "tomada de posição neoconcreta" se faz "particularmente em face da arte concreta levada a uma perigosa exacerbação racionalista". Contra as ortodoxias construtivas e o dogmatismo geométrico, os neoconcretos defendem a liberdade de experimentação, o retorno às intenções expressivas e o resgate da subjetividade. A recuperação das possibilidades criadoras do artista - não mais considerado um inventor de protótipos industrais - e a incorporação efetiva do observador - que ao tocar e manipular as obras torna-se parte delas - apresentam-se como tentativas de eliminar certo acento técnico-científico presente no concretismo. Se a arte é fundamentalmente meio de expressão, e não produção de feitio industrial, é porque o fazer artístico ancora-se na experiência definida no tempo e no espaço. Ao empirismo e à objetividade concretos que levariam, no limite, à perda da especificidade do trabalho artístico, os neoconcretos respondem com a defesa da manutenção da "aura" da obra de arte e da recuperação de um humanismo.
Uma tentativa de renovação da linguagem geométrica pode ser observada nas esculturas de Amilcar de Castro. Os cortes e dobras feitos em materiais rígidos como o ferro, evidenciam o trabalho despendido na confecção do objeto. Do embate entre o ato do artista - que busca traços precisos - e a matéria resistente, nasce a obra, fruto do esforço construtivo, mas também da emoção. Nas palavras de Castro: "Arte sem emoção é precária. Max Bill queria uma coisa tão fabulosamente pura, sem emoção". Nas séries dos Bilaterais e Relevos Espaciais, 1959, de Hélio Oiticica (1937-1980) e nos Trepantes realizados por Lygia Clark na década de 1960, por exemplo, as formas conquistam o espaço de maneira decisiva para, logo em seguida, romper as distâncias entre o observador e a obra, como nos Bichos, criados por Lygia Clark e nos Livros, de Lygia Pape. A arte interpela o mundo, a vida e também o corpo, atestam o Ballet Neoconcreto, 1958, de Lygia Pape e os Penetráveis, Bólides e Parangolés criados por Oiticica nos anos 1960. A cor, recusada por parte do concretismo, invade as pesquisas neoconcretas, por exemplo nas obras de Aluísio Carvão (1920-2001), Hércules Barsotti (1914-2010), Willys de Castro (1926-1988) e Oiticica. Estudos realizados sobre o tema frisam o lugar do movimento neoconcreto como divisor de águas na história das artes visuais no Brasil; um ponto de ruptura da arte moderna no país, diz o crítico Ronaldo Brito.
Fonte: NEOCONCRETISMO. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2023. Acesso em: 02 de março de 2023. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7
Crédito fotográfico: Antônio Miranda - Osmar Dillon. Consultado pela última vez em 2 de março de 2023.