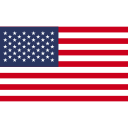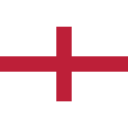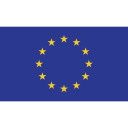A melhor experiência em leilões
Carlos Vergara
Carlos Augusto Caminha Vergara dos Santos (Santa Maria, Rio Grande do Sul, 1941), mais conhecido como Carlos Vergara, é um gravador, fotógrafo e pintor brasileiro. Distingue-se como um dos principais nomes das vanguardas neofigurativas das décadas de 1950 e 1960 e possui uma vasta produção artística. Vergara começou a trabalhar com cerâmica ainda jovem, um tempo depois, passou a dedicar-se ao artesanato de jóias de prata e cobre. Também atuou como pintor de murais, vitrais, cenógrafo e figurinista. Expôs extensivamente pelo Brasil e em outros países como Inglaterra, Japão, Portugal, Colômbia, Peru, entre outros. Além de suas exposições, Vergara também acumulou prêmios, como o prêmio Itamaraty, quando participou da IX Bienal de São Paulo. Entre outros, estão o prêmio ABCA - Prêmio Clarival do Prado Valladares; Prêmio Cultura do Estado do Rio de Janeiro; Prêmio ABCA Mario Pedrosa; Prêmio Henrique Mindlin - IAB/RJ; Prêmio Affonso Eduardo Reidy - IAB/GB; e o primeiro de pintura no I Salão de Pintura Jovem de Quitandinha, em Petrópolis - RJ.
Biografia – Itaú Cultural
Carlos Augusto Caminha Vergara dos Santos (Santa Maria, Rio Grande do Sul, 1941). Gravador, fotógrafo, pintor. Distingue-se como um dos principais nomes das vanguardas neofigurativas das décadas de 1950 e 1960 e possui uma vasta produção artística.
Ainda jovem, Carlos Vergara começa a trabalhar com cerâmica. Na década de 1950, transfere-se para o Rio de Janeiro, e, paralelamente à atividade de analista de laboratório, dedica-se ao artesanato de jóias de prata e cobre. Treze dessas peças são expostas na 7ª Bienal Internacional de São Paulo, em 1963. Nesse mesmo ano, volta-se para o desenho e a pintura, realizando estudos com Iberê Camargo (1914-1994).
Em 1965, participa da mostra Opinião 65 com três trabalhos: O general (1965), Vote (1965) e A patronesse e mais uma campanha paliativa (1965). A partir de 1966, Vergara incorpora ícones gráficos e elementos da arte pop à sua base expressionista. Ele faz seus primeiros trabalhos de arte aplicada, como o mural para a Escola de Saúde Pública de Manguinhos e a cenografia para o grupo de teatro Tablado, ambos no Rio de Janeiro, em 1966. Participa também da mostra Opinião 66, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM/Rio). Até 1967, produz pinturas figurativas, com pinceladas ágeis e traço caricatural, além de um tratamento expressionista. O crítico de arte Paulo Sérgio Duarte (1946) compara esses trabalhos às pinturas do grupo CoBrA, de artistas como Acir Juram (1914-1973) e Karel Appel (1921-2006), pelo "culto à liberdade expressiva, apropriação do desenho infantil, elogio do primitivo e do louco".
Também em 1967, organiza ao lado de colegas a mostra Nova Objetividade Brasileira, que procura fazer um balanço da vanguarda brasileira. Atua ainda como cenógrafo e figurinista de peças teatrais. Nesse período, produz pinturas figurativas, que revelam afinidades com o expressionismo e a arte pop.
Em 1968, passa a pintar sobre superfícies de acrílico, fazendo desaparecer as marcas artesanais de sua prática pictórica. No mesmo ano, explora novas linguagens e mostra o ambiente Berço esplêndido (1968), na Galeria Art Art, em São Paulo. O trabalho combina as investigações sensoriais de artistas como Hélio Oiticica (1937-1980) com a denúncia política.
Durante a década de 1970, utiliza a fotografia e filmes Super-8 para estabelecer reflexões sobre a realidade. O carnaval passa a ser também objeto de sua pesquisa. Atua ainda em colaboração com arquitetos, realizando painéis para diversos edifícios, empregando materiais e técnicas do artesanato popular.
Em 1972, publica o caderno de desenhos Texto em branco, pela editora Nova Fronteira. Durante os anos 1980, volta à pintura, produzindo quadros abstratos geométricos, nos quais explora, principalmente, tramas de losangos que determinam campos cromáticos. Utiliza em seus trabalhos pigmentos naturais, retirados de minérios, materiais que também usa na produção de monotipias, muitas delas realizadas em ambientes naturais, como o pantanal mato-grossense. Em 1997, realiza a série Monotipias do Pantanal, na qual explora o contato direto com o meio natural, transferindo para a tela texturas de pedras ou folhas, entre outros procedimentos.
Carlos Vergara tem uma produção artística contundente desde a década de 1950 e explora uma série de suportes distintos desde a gravura até a fotografia e a pintura.
Críticas
"A afirmação inicial do trabalho de Carlos Vergara prova o quanto 1964 foi divisor de águas na sociedade e na arte brasileira. (...) A marca do mestre (Iberê Camargo) refletia-se na disposição de dissolver a figura em constelações tanto nebulosas quanto rigorosas, densas e emblemáticas, no fio de prumo do abstrato. Mas os desenhos seguintes, entre 1964 e 1965, bastam para nos garantir que Vergara soubera também absorver as peripécias do sublevado ambiente em torno (...). Quando eram verticais as durezas de 1968, Vergara, ao mesmo tempo que ampliava o arsenal de seus materiais, associando-os ao suporte convencional, tornou mais óbvia a referência ao Brasil. A bandeira, as palmeiras, as bananeiras, o arco-íris, o índio e o verde-amarelo tomaram assento prolongado ali, como indícios de um olhar inquieto e crítico dirigido para um alvo preciso. Mas, logo adiante, à maneira de projeto, instantâneos da idéia indo e vindo, memória misturada à manobra, os trabalhos, particularmente os desenhos, assumiram rumo conceitual inequívoco" — Roberto Pontual (PONTUAL, Roberto. Entre dois séculos: arte brasileira do século XX na coleção Gilberto Chateaubriand. Prefácio de Gilberto Allard Chateaubriand e Antônio Houaiss. Apresentação de M. F. do Nascimento Brito. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 1987).
"Num país onde boa parte da arte contemporânea se relaciona de modo direto ou indireto, interagindo ou reagindo, com o capítulo construtivista que marcou e ainda marca a sua arte, a pintura que Carlos Vergara vem desenvolvendo desde 1989 produz certa estranheza. Essa diferenciação se realiza pela forma como ele incorpora questões locais. Paradoxalmente, é estranha pelo fato de ser uma pintura brasileira sem se ligar aos estereótipos da província. Quando recusamos os ícones que uma certa figuração explorou criando imagens exóticas de si mesma, passamos a admitir o esforço reflexivo dos trabalhos construtivistas e pós-construtivistas que se orientam por uma ordem conceitual onde qualquer elemento local se encontra mediado por tantas instâncias que passa desapercebido.
(...)
Há um investimento romântico nessa pintura de Vergara que parece acreditar que ali no fragmento, no pedaço de parede, pode estar o todo e que esse encontro não pode ser perturbado por uma racionalidade inibidora, mas capturado no instante mesmo da impressão das telas. Atual, o sublime aqui não pressupõe nenhuma transcendência, ao contrário, dirige na penumbra dessas telas o olhar para esse território onde nos encontramos de tal forma mergulhados que não o vemos" — Paulo Sérgio Duarte
DUARTE, Paulo Sérgio. "Estranha Proximidade". http:// www. carlosvergara.com. br/sobreframe. htm, 1995.
"(...) A obra atual de Vergara faz dele um dos mais inquietos artistas de sua geração. Recusando-se a restringir-se ao mero prazer de um formalismo esteticista, ele vai mais fundo em sua busca formal, ao traduzir através dela, com talento e originalidade, uma vontade de transformação que faz do próprio ato de pintar um gesto contínuo de prazer, expressão de um processo natural que emana da vida mesma. Como quem respira, ele arranca à própria vida a força de unir esse gesto à natureza, de onde extrai seus pigmentos de cor e uma energia que age como um halo que perpassa suas telas e que nelas une forma, cor, luz, calor, matéria, ação e inação.
Com isso Vergara se revela um pintor à procura de uma brasilidade reconhecível no que poderia haver de mais brasileiro, a terra, o pigmento da terra, a cor da terra. A textura que vem dessa terra, com que ele pinta como quem extrai das entranhas da natureza o mineral mais precioso, constrói uma impressionante gama de cores terrosas que acrescenta uma notável dose de dramaticidade à sua obra.
Essa carga dramática é a chave para se explicar seu lado barroco, esse claro-escuro que atravessa suas pinturas e as torna barrocas não só pelo sentido religioso com que elas acabam por impregnar-se, mas também quando ele apela para os sentidos como um chamamento imperioso. Isso se vê, por exemplo, nas grandes monotipias, que ele imprime como num ato lúdico, jogando com o pigmento, a cor e a textura que vêm dessa terra, para construir uma nova forma de expressão que faz da própria pintura um gesto de interpretação da vida. Correndo como um veio poderoso por suas obras, esse gesto a elas se incorpora como força material, uma força vital" — Emanoel Araujo (ARAUJO, Emanoel. Carlos Vergara: à procura da cor brasileira. In: Carlos Vergara: 89/99. São Paulo: Pinacoteca, 1999, p. 3).
Depoimentos
"Em 1989, meu trabalho não tomou sozinho uma nova direção, eu decidi dar uma nova direção por estar seguro que havia esgotado a série começada em 1980, onde abandono a figura e mergulho numa pintura que tinha como procedimento uma 'medição com cor' do espaço da tela, dividindo com diagonais paralelas, formando uma grade. Havia chegado à exaustão; continuar seria me condenar a não ter mais a sensação de descoberta e tornar tudo burocrático. Só artesanato.
Em 1989, propus para mim, com desapego, me colocar num marco zero da pintura e olhar para fora e para dentro.
Fazer pintura significa aceitar o peso histórico de uma atividade que só não é anacrônica se contiver uma aventura, que supere a questão da imagem, que mexa com o procedimento e tenha um projeto, mesmo assim a pintura de sempre que o suporte determina. Portanto, é preciso 'ler' o projeto e o procedimento para saber se não é só mímica, historicamente superada. (...)
A pintura, quando deixa de ser enigma, catalisadora de áreas mais sutis do teu ser, deixa de ser necessária. Só é necessária uma arte que, por ser mobilizadora, justifique sua existência. É essa capacidade expressiva que lhe dá razão de ser.
Estou falando do ponto de vista do pintor. Para falar do ponto de vista do público, deveríamos falar sobre as inúmeras formas de cegueira e insensibilidade. (...)
Quanto ao tema da brasilidade, a mim interessa, como não interessa a outros, usar um idioma peculiar, que mesmo sendo, assim dizendo, erudito, eu cuide do Brasil sem me ufanar - aliás, porque não há tantos motivos. Nesse bem simbólico que é a pintura, quero que você se reconheça com bem ou mal estar. Esse meu prazer pessoal, já disse, não acho de suma importância, nem mesmo formador de valor. Me preocupo mais com que o discurso ultrapasse isso mantendo um sabor, uma temperatura, que mostre uma tradição sem que ela exista organizada.
Quanto à questão do tempo, há um tempo evocado pela construção da imagem, há um tempo que a própria pintura pede para poder ser lida, há um tempo físico que a secagem exige para cada ataque à tela. Há também um tempo de outra ordem, relativo ao momento da ação. Um tempo ligado ao gesto, que só acontece intuído e com mensuração impossível. (...)
Cada tela é um cadinho de idéias de pintura e sobre pintura. Vou pensando sobre o que estou fazendo enquanto estou fazendo, e me coloco aberto para as contradições que surgem. Não tenho nenhuma tese para provar. Acho que daí vêm as diferenças que existem entre as séries dos trabalhos que produzo. Não entro em pânico e até me agrada se o trabalho seguinte não se parecer com o anterior. (...)
Voltando à questão da repetição, o que eu quis dizer é que acho possível adensar o trabalho, adicionar mais sentido com a ritualização da repetição, e não esvaziar de sentido se essa repetição for só mecânica. Da viagem à India que fiz, me lembro da forma de venerar Hanuman, uma deidade-macaco, importante personagem que ajudou Rhama a atravessar a floresta no épico Ramayana. As imagens representando um macaco são untadas com óleo e pigmento laranja há séculos, e já não têm mais forma, são só um impressionante acúmulo alaranjado com dois olhinhos lá no fundo. Você só vê um monte alaranjado e sabe que lá dentro está Hanuman. E esse alaranjado vai se espalhando em torno do lugar com as marcas das mãos que as pessoas deixam, ao limpá-las da tinta que lhes sobrou.
A revisita que faço às Minas Gerais dos óxidos nestes 10 últimos anos posso dizer que tem sido um ritual que a cada vez renova o sentir-pensar.
Pode parecer um contrasenso, mas a repetição ajuda a refletir, esvaziando de pensamento premeditado. Trata-se de produzir uma coisa elaboradamente simples. Há uma diferença energética nisso.
No tempo em que pintura era feita só por adição e escultura só por subtração, isso era mais fácil de se perceber". — Carlos Vergara (VERGARA, Carlos & OSORIO, Luiz Camilo. "Conversa entre Carlos Vergara e Luiz Camilo Osorio". In: Carlos Vergara: 89/99. São Paulo: Pinacoteca, 1999, p. 5-6, 21-22, 32).
Exposições Individuais
1966 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Fátima Arquitetura
1966 - Rio de Janeiro RJ - Individual, no MAM/RJ
1967 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Petite Galerie
1968 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Art Art
1969 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Petite Galerie
1972 - Paris (França) - Individual, na Air France
1972 - Rio de Janeiro RJ - Individual, no MAM/RJ
1973 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Paulo Bittencourt e Luiz Buarque de Holanda
1975 - Rio de Janeiro RJ - Individual com trabalhos da Coleção Gilberto Chateaubriand, na Galeria Maison de France
1978 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Petite Galerie
1978 - São Paulo SP - Carlos Vergara: desenho, pinturas, fotografias, na Galeria Arte Global
1980 - Rio de Janeiro RJ - Anotações sobre o Carnaval, na Galeria Hotel Méridien
1981 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Monica Filgueiras
1983 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Thomas Cohn
1983 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1984 - Londres (Inglaterra) - Individual, na Brazilian Centre Gallery
1984 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1985 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1987 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1988 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Thomas Cohn
1989 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1990 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria de Arte Ipanema
1990 - Rio de Janeiro RJ - Individual, no Paço Imperial
1991 - Belo Horizonte MG - Individual, no Itaú Cultural
1991 - Belo Horizonte MG - Individual, no Palácio das Artes
1991 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1992 - Lisboa (Portugal) - Obras Recentes 1989-1991, no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian
1992 - São Paulo SP - Individual, na Capela do Morumbi
1993 - Antuérpia (Bélgica) - Individual, na Galeria Francis Van Hoof
1993 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Goudar
1993 - Rio de Janeiro RJ - Individual, no CCBB
1993 - São Paulo SP - Carlos Vergara, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1994 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1995 - Paris (França) - Individual, na Galeria Debret
1995 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Paulo Fernandes
1997 - Rio de Janeiro RJ - Carlos Vergara: gravuras, na Fundação Castro Maia
1997 - São Paulo SP - Monotipias do Pantanal e Pinturas Recentes, no MAM/SP
1998 - Rio de Janeiro RJ - Carlos Vergara: trabalhos sobre papel, na GB Arte
1998 - Rio de Janeiro RJ - Os Viajantes, no Paço Imperial
1999 - São Paulo SP - Carlos Vergara 89/99, na Pinacoteca do Estado
2001 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Silvia Cintra Galeria de Arte
2001 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Nara Roesler
2003 - Porto Alegre RS - Carlos Vergara Viajante: obras de 1965 a 2003, no Santander Cultural
2003 - São Paulo SP - Carlos Vergara Viajante: obras de 1965 a 2003, no Instituto Tomie Ohtake
2003 - Vila Velha ES - Individual, no Museu Vale do Rio Doce
2004 - São Paulo SP - Carlos Vergara, na Monica Filgueiras Galeria de Arte
Exposições Coletivas
1963 - Lima (Peru) - Pintura Latinoamericana, no Instituto de Arte Contemporâneo
1963 - São Paulo SP - 7ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal
1965 - Paris (França) - Salon de La Jeune Peinture, no Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris
1965 - Rio de Janeiro RJ - Opinião 65, no MAM/RJ
1965 - Rio de Janeiro RJ - 14º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/RJ
1965 - São Paulo SP - 2ª Exposição do Jovem Desenho Nacional, no MAC/USP
1965 - São Paulo SP - Propostas 65, na Faap
1966 - Belo Horizonte MG - Vanguarda Brasileira, na UFMG. Reitoria
1966 - Lima (Peru) - Pintura Latino-Americana
1966 - Rio de Janeiro RJ - Opinião 66, no MAM/RJ
1966 - Rio de Janeiro RJ - Pare, na Galeria G4
1966 - Rio de Janeiro RJ - 1º Salão de Abril, no MAM/RJ
1966 - Rio de Janeiro RJ - 15º Salão Nacional de Arte Moderna
1966 - Salvador BA - 1ª Bienal Nacional de Artes Plásticas
1966 - São Paulo SP - 8 Artistas, no Atrium
1967 - Belo Horizonte MG - 22º Salão de Belas Artes da Cidade de Belo Horizonte, no MAP
1967 - Petrópolis RJ - 1º Salão Nacional de Pintura Jovem, no Hotel Quitandinha
1967 - Rio de Janeiro RJ - Nova Objetividade Brasileira, no MAM/RJ
1967 - Rio de Janeiro RJ - 3º O Rosto e a Obra, na Galeria Ibeu Copacabana
1967 - Rio de Janeiro RJ - Salão das Caixas, na Petite Galerie - prêmio O.C.A.
1967 - Rio de Janeiro RJ - 16º Salão Nacional de Arte Moderna
1967 - São Paulo SP - 9ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal - prêmio aquisição
1968 - Rio de Janeiro RJ - 17º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/RJ
1968 - Rio de Janeiro RJ - 6º Resumo de Arte JB, no MAM/RJ - Prêmio Resumo JB de Objeto
1968 - Rio de Janeiro RJ - Bandeiras na Praça, na Praça General Osório
1968 - Rio de Janeiro RJ - 1ª Feira de Arte do Rio de Janeiro, no MAM/RJ
1968 - Rio de Janeiro RJ - O Artista Brasileiro e a Iconografia de Massa, na Esdi
1968 - Rio de Janeiro RJ - O Rosto e a Obra, na Galeria Ibeu Copacabana
1969 - Rio de Janeiro RJ - 18º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/RJ - prêmio isenção de júri
1969 - Rio de Janeiro RJ - Salão da Bússola, no MAM/RJ
1970 - Belo Horizonte MG - Objeto e Participação, no Palácio das Artes
1970 - Medellín (Colômbia) - 2ª Bienal de Arte Medellín, no Museo de Antioquia
1970 - Rio de Janeiro RJ - 19º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/RJ
1970 - Rio de Janeiro RJ - 8º Resumo de Arte JB, no MAM/RJ - Prêmio Resumo JB de Desenho
1970 - Rio de Janeiro RJ - Pintura Contemporânea Brasileira, no MAM/RJ
1970 - São Paulo SP - 2º Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM/SP
1971 - Rio de Janeiro RJ - 9ª Premiação do IAB/RJ
1971 - Rio de Janeiro RJ - Exposição de Múltiplos, na Petite Galeria
1972 - Rio de Janeiro RJ - 10ª Premiação do IAB/RJ
1972 - Rio de Janeiro RJ - Domingos de Criação, no MAM/RJ
1972 - Rio de Janeiro RJ - Exposição, no MAM/RJ
1972 - São Paulo SP - Arte/Brasil/Hoje: 50 anos depois, na Galeria da Collectio
1973 - Rio de Janeiro RJ - Indagação sobre a Natureza: significado e função da obra de arte, na Galeria Ibeu Copacabana
1973 - São Paulo SP - Expo-Projeção 73, no Espaço Grife
1974 - Campinas SP - 9º Salão de Arte Contemporânea de Campinas, no MACC
1975 - Campinas SP - (Arte), no MACC
1975 - Campinas SP - Waltercio Caldas, Rubens Gerchman, Carlos Vergara, José Resende, no MACC
1975 - Rio de Janeiro RJ - A Comunicação segundo os Artistas Plásticos, na Rede Globo
1975 - Rio de Janeiro RJ - Mostra de Arte Experimental de Filmes Super-8, Audiovisual e Video Tape, na Galeria Maison de France
1976 - Salvador BA - Arte Brasileira dos Anos 60/70 na Coleção Gilberto Chateaubriand, no MAM/BA
1977 - Brasília DF - Arte Brasileira dos Anos 60/70 na Coleção Gilberto Chateaubriand, na Fundação Cultural do Distrito Federal
1977 - Recife PE - Arte Brasileira dos Anos 60/70 na Coleção Gilberto Chateaubriand, no Casarão de João Alfredo
1978 - São Paulo SP - O Objeto na Arte: Brasil anos 60, no MAB/Faap
1980 - Milão (Itália) - Quasi Cinema, no Centro Internazionale di Brera
1980 - Veneza (Itália) - 40ª Bienal de Veneza
1981 - Rio de Janeiro RJ - Do Moderno ao Contemporâneo: Coleção Gilberto, no MAM/RJ
1981 - Rio de Janeiro RJ - Universo do Carnaval: imagens e reflexões, na Acervo Galeria de Arte
1982 - Lisboa (Portugal) - Brasil 60 Anos de Arte Moderna: Coleção Gilberto Chateaubriand, no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão
1982 - Lisboa (Portugal) - Do Moderno ao Contemporâneo: Coleção Gilberto Chateaubriand, na Fundação Calouste Gulbenkian
1982 - Londres (Reino Unido) - Brasil 60 Anos de Arte Moderna: Coleção Gilberto Chateaubriand, na Barbican Art Gallery
1982 - Rio de Janeiro RJ - Contemporaneidade: homenagem a Mário Pedrosa, no MAM/RJ
1983 - Rio de Janeiro RJ - 13 Artistas/13 Obras, na Galeria Thomas Cohn
1983 - Rio de Janeiro RJ - 3 x 4 Grandes Formatos, no Centro Empresarial Rio
1983 - Rio de Janeiro RJ - A Flor da Pele: pintura e prazer, no Centro Empresarial Rio
1983 - Rio de Janeiro RJ - Auto-Retratos Brasileiros, na Galeria de Arte Banerj
1983 - São Paulo SP - Imaginar o Presente, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1984 - Londres (Inglaterra) - Portraits of a Country: brazilian modern art from the Gilberto Chateaubriand Collection, na Barbican Art Gallery
1984 - Rio de Janeiro RJ - Antonio Dias, Carlos Vergara, Roberto Magalhães e Rubens Gerchman, na Galeria do Centro Empresarial Rio
1984 - São Paulo SP - Coleção Gilberto Chateaubriand: retrato e auto-retrato da arte brasileira, no MAM/SP
1984 - São Paulo SP - Tradição e Ruptura: síntese de arte e cultura brasileiras, na Fundação Bienal
1985 - Brasília DF - Brasilidade e Independência, no Teatro Nacional de Brasília/Fundação Cultural de Brasília
1985 - Porto Alegre RS - Iberê Camargo: trajetória e encontros, no Margs
1985 - Rio de Janeiro RJ - Ciclo de Exposições sobre Arte no Rio de Janeiro/Opinião 65, na Galeria de Arte Banerj
1985 - Rio de Janeiro RJ - Opinião 65, Galeria de Arte Banerj
1985 - São Paulo SP - 18ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal
1985 - São Paulo SP - Arte Novos Meios/Multimeios: Brasil 70/80, no MAB/SP
1985 - São Paulo SP - Destaques da Arte Contemporânea Brasileira, no MAM/SP
1986 - Brasília DF - Iberê Camargo: trajetória e encontros, no Teatro Nacional de Brasília
1986 - Rio de Janeiro RJ - 1ª Mostra Christian Dior de Arte Contemporânea: pintura, no Paço Imperial
1986 - Rio de Janeiro RJ - Iberê Camargo: trajetória e encontros, no MAM/RJ
1986 - Rio de Janeiro RJ - Mostra Christian Dior de Arte Contemporânea: pintura, no Paço Imperial
1986 - São Paulo SP - Coletiva, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1986 - São Paulo SP - Iberê Camargo: trajetória e encontros, no Masp
1987 - Rio de Janeiro RJ - Ao Colecionador: homenagem a Gilberto Chateaubriand, no MAM/RJ
1987 - Rio de Janeiro RJ - Nova Figuração Rio/Buenos Aires, na Galeria do Instituto Cultural Brasil-Argentina
1988 - Rio de Janeiro RJ - O Eterno é Efêmero, na Petite Galerie
1988 - São Paulo SP - 63/66 Figura e Objeto, na Galeria Millan
1989 - São Paulo SP - 20ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal
1989 - São Paulo SP - Pintura Brasil Século XIX e XX: obras do acervo Banco Itaú, na Itaugaleria
1990 - Brasília DF - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte
1990 - Rio de Janeiro RJ - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte Contemporânea
1990 - São Paulo SP - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte Contemporânea, na Fundação Brasil-Japão
1990 - Tóquio (Japão) - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte Contemporânea
1990 - Atami (Japão) - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte Contemporânea
1990 - Sapporo (Japão) - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte Contemporânea, na Fundação Brasil-Japão
1991 - Curitiba PR - 48º Salão Paranaense, no MAC/PR
1991 - Rio de Janeiro RJ - Imagem sobre Imagem, no Espaço Cultural Sérgio Porto
1992 - Paris (França) - Diversité Latino Americaine, na Galerie 1900/2000
1992 - Rio de Janeiro RJ - 1º A Caminho de Niterói: Coleção João Sattamini, no Paço Imperial
1992 - Rio de Janeiro RJ - Brazilian Contemporary Art, na EAV/Parque Lage
1992 - Rio de Janeiro RJ - Coca-Cola 50 Anos com Arte, no MAM/RJ
1992 - Rio de Janeiro RJ - ECO Art, no MAM/RJ
1992 - Rio de Janeiro RJ e São Paulo SP - Coca-Cola 50 Anos com Arte, no MAM/RJ e no MAM/SP
1992 - Santo André SP - Litogravura: métodos e conceitos, no Paço Municipal
1992 - São Paulo SP - Anos 60/70: Coleção Gilberto Chateubriand - MAM/RJ, na Galeria de Arte do Sesi
1992 - São Paulo SP - Coca-Cola 50 Anos com Arte (1992 : São Paulo, SP) - Museu de Arte Moderna (Ibirapuera, São Paulo, SP)
1993 - Rio de Janeiro RJ - Arte Erótica, no MAM/RJ
1993 - Rio de Janeiro RJ - Brasil, 100 Anos de Arte Moderna, no Mnba
1993 - Rio de Janeiro RJ - Emblemas do Corpo: o nu na arte moderna brasileira, no CCBB
1993 - São Paulo SP - O Desenho Moderno no Brasil: Coleção Gilberto Chateaubriand, na Galeria de Arte do Sesi
1994 - Penápolis SP - O Efêmero na Arte Brasileira: anos 60/70, na Itaugaleria
1994 - Rio de Janeiro RJ - O Desenho Moderno no Brasil: Coleção Gilberto Chateubriand, no MAM/RJ
1994 - Rio de Janeiro RJ - Trincheiras: arte e política no Brasil, no MAM/RJ
1994 - São Paulo SP - Bienal Brasil Século XX, na Fundação Bienal
1994 - São Paulo SP - O Efêmero na Arte Brasileira: anos 60/70, no Itaú Cultural
1995 - Rio de Janeiro RJ - Libertinos/Libertários
1995 - Rio de Janeiro RJ - Limites da Pintura, no Conjunto Cultural da Caixa
1995 - Rio de Janeiro RJ - Opinião 65: 30 anos, no CCBB
1995 - São Paulo SP - O Brasil de Hoje no Espelho do Século XIX: artistas alemães e brasileiros refazem a Expedição Langsdorff, no Masp
1996 - Brasília DF - Coletiva, na Galeria Referência
1996 - Brasília DF - O Efêmero na Arte Brasileira: anos 60/70, na Itaugaleria
1996 - Goiânia GO - Coletiva, na Fundação Jaime Câmara
1996 - Niterói RJ - Arte Contemporânea Brasileira na Coleção João Sattamini, no MAC/Niterói
1996 - Palmas TO - Exposição Inaugural do Espaço Cultural de Palmas, no Espaço Cultural de Palmas
1996 - Rio de Janeiro RJ - Coletiva, na Galeria Tolouse
1996 - Rio de Janeiro RJ - O Brasil de Hoje no Espelho do Século XIX: artistas alemães e brasileiros refazem a Expedição Langsdorff, no Fundação Casa França-Brasil
1996 - Rio de Janeiro RJ - Petite Galerie 1954-1988, Uma Visão da Arte Brasileira, no Paço Imperial
1996 - São Paulo SP - Coletiva, na Galeria A Estufa
1997 - Porto Alegre RS - 1ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul, na Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul
1997 - Porto Alegre RS - Vertente Cartográfica, na Usina do Gasômetro
1997 - Rio de Janeiro RJ - Petite Galerie 1954-1988: uma visão da arte brasileira, no Paço Imperial
1997 - Rio de Janeiro RJ - Uma Conversa com Rugendas, nos Museus Castro Maya
1997 - São Paulo SP - Arte Cidade: a cidade e suas histórias, na Estação da Luz, nas Indústrias Matarazzo e no Moinho Central
1997 - São Paulo SP - Arte Cidade: percurso
1997 - São Paulo SP - Bar des Arts: leilão nº 1, na Aldeia do Futuro
1997 - São Paulo SP - Galeria Brito Cimino Arte Contemporânea e Moderna
1998 - Niterói RJ - Espelho da Bienal, no MAC/Niterói
1998 - Rio de Janeiro RJ - Arte Brasileira no Acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo: doações recentes 1996-1998, no CCBB
1998 - Rio de Janeiro RJ - Poéticas da Cor, no Centro Cultural Light
1998 - Rio de Janeiro RJ - Terra Incógnita, no CCBB
1998 - Rio de Janeiro RJ - Trinta Anos de 68, no CCBB
1998 - São Paulo SP - Fronteiras, no Itaú Cultural
1998 - São Paulo SP - O Moderno e o Contemporâneo na Arte Brasileira: Coleção Gilberto Chateaubriand - MAM/RJ, no Masp
1999 - Curitiba PR - Coletiva, na Galeria Fraletti e Rubbo
1999 - Rio de Janeiro RJ - Cotidiano/Arte. Objeto Anos 60/90, no MAM/RJ
1999 - Rio de Janeiro RJ - Mostra Rio Gravura: Coleção Armando Sampaio: gravura brasileira, no Centro de Artes Calouste Gulbenkian
1999 - Rio de Janeiro RJ - Mostra Rio Gravura: Gravura Moderna Brasileira: acervo Museu Nacional de Belas Artes, no MNBA
1999 - São Paulo SP - Cotidiano/Arte. O Consumo - Metamorfose do Consumo, no Itaú Cultural
1999 - São Paulo SP - Cotidiano/Arte. O Consumo - Beba Mona Lisa, no Itaú Cultural
1999 - São Paulo SP - Litografia: fidelidade e memória, no Espaço de Artes Unicid
1999 - São Paulo SP - Cotidiano/Arte. O Objeto - Anos 60/90, no Itaú Cultural
2000 - Brasília DF - Exposição Brasil Europa: encontros no século XX, no Conjunto Cultural da Caixa
2000 - Lisboa (Portugal) - Século 20: arte do Brasil, na Fundação Calouste Gulbenkian. Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão
2000 - Niterói RJ - Pinturas na Coleção João Sattamini, no MAC/Niterói
2000 - Rio de Janeiro RJ - Antonio Dias, Carlos Vergara, Roberto Magalhães, Rubens Gerchman, na GB Arte
2000 - Rio de Janeiro RJ - Situações: arte brasileira anos 70, na Fundação Casa França-Brasil
2000 - São Paulo SP - Brasil + 500 Mostra do Redescobrimento, na Fundação Bienal
2001 - Belo Horizonte MG - Do Corpo à Terra: um marco radical na arte brasileira, no Itaú Cultural
2001 - Goiânia GO - 1º Salão Nacional de Arte de Goiás, no Flamboyant Shopping Center
2001 - Rio de Janeiro RJ - A Imagem do Som de Antônio Carlos Jobim, no Paço Imperial
2001 - São Paulo SP - Anos 70: Trajetórias, no Itaú Cultural
2002 - Niterói RJ - Coleção Sattamini: modernos e contemporâneos, no MAC/Niterói
2002 - Niterói RJ - Diálogo, Antagonismo e Replicação na Coleção Sattamini, no MAC/Niterói
2002 - Passo Fundo RS - Gravuras: Coleção Paulo Dalacorte, no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider
2002 - Porto Alegre RS - Gravuras: Coleção Paulo Dalacorte, no Museu do Trabalho
2002 - Rio de Janeiro RJ - Artefoto, no CCBB
2002 - Rio de Janeiro RJ - Caminhos do Contemporâneo 1952-2002, no Paço Imperial
2002 - Rio de Janeiro RJ - Caminhos do Contemporâneo 1952-2002, no Paço Imperial
2002 - Rio de Janeiro RJ - Identidades: o retrato brasileiro na Coleção Gilberto Chateaubriand, no MAM/RJ
2002 - São Paulo SP - 4º Artecidadezonaleste, no Sesc/Belenzinho
2002 - São Paulo SP - Mapa do Agora: arte brasileira recente na Coleção João Sattamini do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, no Instituto Tomie Ohtake
2002 - São Paulo SP - Portão 2, na Galeria Nara Roesler
2003 - Brasília DF - Artefoto, no CCBB
2003 - Rio de Janeiro RJ - Autonomia do Desenho, no MAM/RJ
2003 - Rio de Janeiro RJ - Bandeiras do Brasil, no Museu da República
2003 - Rio de Janeiro RJ - Projeto em Preto e Branco, na Silvia Cintra Galeria de Arte
2003 - São Paulo SP - A Subversão dos Meios, no Itaú Cultural
2003 - São Paulo SP - Arte e Sociedade: uma relação polêmica, no Itaú Cultural
2003 - Vila Velha ES - O Sal da Terra, no Museu Vale do Rio Doce
2004 - Rio de Janeiro RJ - 30 Artistas, no Mercedes Viegas Escritório de Arte
2004 - São Paulo SP - Arte Contemporânea no Ateliê de Iberê Camargo, no Centro Universitário Maria Antonia
2004 - São Paulo SP - O Preço da Sedução: do espartilho ao silicone, no Itaú Cultural
Fonte: CARLOS Vergara. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2023. Acesso em: 27 de fevereiro de 2023. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7
---
Biografia – Wikipédia
Carlos Augusto Caminha Vergara dos Santos (Santa Maria, 29 de novembro de 1941) é um gravador, fotógrafo e pintor brasileiro, conhecido como um dos principais representantes do movimento artístico da Nova Figuração no Brasil. Aos 2 anos de idade muda-se para São Paulo, na ocasião da transferência de seu pai, reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Em 1954 mudou-se para o Rio de Janeiro.
Anos 60
Estuda química e em 1959 ingressa por concurso na Petrobrás. Paralelamente à atividade de analista de laboratório, dedica-se ao artesanato de jóias, cujo resultado expõe em 1963, na VII Bienal Internacional de São Paulo. No mesmo ano tornou-se aluno de Iberê Camargo no Instituto de Belas Artes do Rio de Janeiro. Logo torna-se seu assistente. Em 1964 o Vergara casou-se com a atriz Marieta Severo. Em 1965 o casamento já estava acabando quando, por intermédio do ator Hugo Carvana, Marieta seria apresentada junto com Carlos Vergara ao músico Chico Buarque, com quem se casaria mais tarde, separando-se de Vergara.
Em 1965 participa da mostra Opinião 65 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A exposição é considerada um marco na história da arte brasileira, ao evidenciar a postura crítica de jovens artistas diante da realidade social e política do momento.
No ano seguinte ganha o concurso para execução de um mural da Escola Nacional de Saúde Pública no Rio de Janeiro, projeto que inicia sua aproximação à arquitetura; participa da exposição Opinião 66, executa seus primeiros trabalhos como cenógrafo e faz também sua primeira exposição individual. Em 1967 foi um dos organizadores da mostra Nova Objetividade Brasileira no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
Em 1969 é um dos artistas selecionados para a X Bienal de São Paulo, conhecida como a Bienal do Boicote, quando em reprovação ao Ato Institucional n. 5, diversos artistas recusaram-se a participar. No mesmo ano faria parte de uma exposição organizada pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde os artistas que boicotaram a X Bienal seriam exibidos. Esta exposição foi fechada pelo Departamento Cultural do Ministério de Relações Exteriores apenas algumas horas antes da abertura. Vergara foi um dos fundadores do braço brasileiro da Associação Internacional de Artistas Plásticos (AIAP), aniquilado pela censura do governo militar.
Anos 70
A década de 70 marca a mudança de foco na arte de Carlos Vergara, que passa a utilizar a fotografia e filmes Super-8 em sua obra, ao mesmo tempo que volta sua pesquisa para o carnaval de rua do Rio de Janeiro, sendo seu principal objeto o Bloco Cacique de Ramos. Também não deixa de lado os trabalhos decorrentes da sua experimentação com materiais industriais, especialmente o papelão.
Intensifica seu trabalho em conjunto com arquitetos, desenvolvendo projetos para edifícios públicos, bancos e lojas. Destacam-se os premiados painéis feitos para as agências da Varig em Paris e São Paulo, além de outros feitos para as lojas da Cidade do México, Nova York, Miami, Madrid, Montreal, Genebra, Joanesburgo e Tóquio. Começa então a empregar materiais e técnicas do artesanato popular brasileiro.
Em 1972, no lugar de uma exposição individual prevista para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, posiciona-se criticamente à realidade política brasileira vivida na época, propondo uma mostra coletiva que exibe trabalhos de Hélio Oiticica, Roberto Magalhães, Caetano Veloso, Ivan Cardoso, Waltércio Caldas, dentre diversos outros artistas.
Em 1973 inaugura ateliê com amigos arquitetos e fotógrafos que mais tarde se torna um escritório de arquitetura e arte, com atuação centrada em projetos de arquitetura teatral e shopping centers.
Em 1975 figura no conselho editorial da revista Malasartes, em 77 participa da fundação da Associação Brasileira de Artistas Plásticos Profissionais e em 78 a Funarte edita o livro Carlos Vergara, como parte da coleção Arte Brasileira Contemporânea.
Anos 80
Em junho de 1980 participa da 39ª Bienal de Veneza, onde expõe um desenho de grandes dimensões, com o qual parece encerrar seu trabalho de documentação do carnaval.
Os anos 80 marcam a retomada da pintura pelo artista, quando trabalham formas geométricas que derivam da sua pesquisa sobre o carnaval, iniciada na década anterior.
Em 1988 monta atelier em Cachoeiras de Macacu, município do estado do Rio de Janeiro, onde passa maior parte do tempo. Em 1989 passa a trabalhar com pigmentos naturais e minérios e a utilizar técnicas de monotipia sobre diferentes matrizes. Participa da 20ª Bienal de São Paulo com grandes painéis pintados com óxido de ferro.
Anos 90
No início dos anos 90 realiza diversas mostras individuais, dentre elas Obras Recentes 1989 - 1991 na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa.
Em 1992 monta instalação na Capela do Morumbi, em São Paulo. No ano seguinte, a instalação foi montada novamente no Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro.
Em 94 participa da Bienal Brasil Século XX. É convidado pelo Instituto Goethe a integrar o grupo de artistas brasileiros e alemães a refazer parte do percurso da Expedição Langsdorff. O resultado da expedição foi exposto em exposição na Casa França Brasil, Rio de Janeiro.
Entre 1996 e 1997 realiza a série Monotipias do Pantanal, premiada em 1998 pela Associação Brasileira de Críticos de Arte. Em 99 a Pinacoteca do Estado de São Paulo organiza mostra antológica Carlos Vergara 88/99.
Anos 2000
Participa em 2000 da coletiva Brasil + 500: Mostra do Redescobrimento na Fundação Bienal e Século 20: Arte do Brasil no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, Lisboa.
Em 2002 cria uma intervenção na praça da estação do metrô do Brás, em São Paulo, no projeto Arte/Cidade Zona Leste. No mesmo ano tem sala especial na mostra ArteFoto no Centro Cultural Banco do Brasil onde sua série Cacique de Ramos: Iguais Diferentes ganha destaque.
Em 2003 a primeira grande retrospectiva de seu trabalho é apresentada no Santander Cultural, Porto Alegre, seguindo para o Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo e Museu Vale do Rio Doce, em Vila Velha.
No ano de 2008 lança o livro Carlos Vergara com ensaio fotográfico realizado entre 1972 e 1976, com registros do carnaval do Rio de Janeiro.
Anos 2010
Em 2010 participa de sua 10ª Bienal. No ano de 2012 apresenta a exposição Liberdade, no Memorial da Resistência de São Paulo, cujo artista reflete sobre a implosão do Complexo Penitenciário Frei Caneca, no Rio de Janeiro. Em 2014 apresentou a exposição Sudário, seguida de lançamento de livro.
Bienais
2011 - 8ª Bienal do Mercosul – Além Fronteiras, Porto Alegre
2010 - 29 ª Bienal de São Paulo, Fundação Bienal de São Paulo
1997 - 1ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul, na Fundação Bienal de Artes Visuais do MERCOSUL, Porto Alegre
1994 - Bienal Brasil Século XX, Fundação Bienal, São Paulo
1989 - 20ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal, São Paulo
1985 - 18ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal, São Paulo
1980 - 40ª Bienal de Veneza, Veneza - Itália
1970 - 2ª Bienal de Arte Medellín, Medellín - Colômbia
1967 - 9ª Bienal Internacional de São Paulo, Fundação Bienal - Prêmio aquisição, São Paulo
1963 - 7ª Bienal Internacional de São Paulo, Fundação Bienal, São Paulo
Prêmios
Ano - Prêmio
2014 - Prêmio ABCA - Prêmio Clarival do Prado Valladares
2009 - Prêmio Cultura do Estado do Rio de Janeiro
1997 - Prêmio ABCA Mario Pedrosa
1972 - Prêmio Henrique Mindlin - IAB/RJ
1971 - Prêmio Affonso Eduardo Reidy - IAB/GB
1967 - Prêmio Itamaraty
1967 - Primeiro Prêmio de Pintura no I Salão de Pintura Jovem de Quitandinha, Petrópolis - RJ
1966 - Concurso para execução de um mural no auditório da Escola Nacional de Saúde Pública - RJ
1966 - Prêmio Piccola Galeria - Instituto Italiano de Cultura
Fonte: Wikipédia. Consultado pela última vez em 27 de fevereiro de 2023.
---
Biografia – Ateliê Carlos Vergara
Nascido na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 1941, Carlos Vergara iniciou sua trajetória nos anos 60, quando a resistência à ditadura militar foi incorporada ao trabalho de jovens artistas. Em 1965, participou da mostra Opinião 65, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, um marco na história da arte brasileira, ao evidenciar essa postura crítica dos novos artistas diante da realidade social e política da época. A partir dessa exposição se formou a Nova Figuração Brasileira, movimento que Vergara integrou junto com outros artistas, como Antônio Dias, Rubens Gerchmann e Roberto Magalhães, que produziram obras de forte conteúdo político. Nos anos 70, seu trabalho passou por grandes transformações e começou a conquistar espaço próprio na história da arte brasileira, principalmente com fotografias e instalações. Desde os anos 80, pinturas e monotipias têm sido o cerne de um percurso de experimentação. Novas técnicas, materiais e pensamentos resultam em obras contemporâneas, caracterizadas pela inovação, mas sem perder a identidade e a certeza de que o campo da pintura pode ser expandido. Em sua trajetória, Vergara realizou mais de 180 exposições individuais e coletivas de seu trabalho.
Anos 60
CARLOS Augusto Caminha VERGARA dos Santos nasceu em Santa Maria (RS), em 29 de novembro de 1941. Aos 2 anos de idade, muda-se para São Paulo, por força da transferência de seu pai, reverendo da Igreja Anglicana Episcopal do Brasil. Naquela cidade, estudou no Colégio Mackenzie e, em 1954, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro.
Completa o ginásio no Colégio Brasileiro de Almeida e lá é estimulado à experimentação de várias atividades criativas, além de receber orientação profissional. Estuda química e, em 1959, ingressa por concurso na Petrobras, onde permanece até 1966 como analista de laboratório. Ainda no colégio, inicia o artesanato de jóias em cobre e prata, cujo resultado expõe em 1963, na VII Bienal Internacional de São Paulo. Nessa época, além do trabalho na Petrobras, sua atividade principal era o voleibol, tendo disputado pelo Clube Fluminense vários torneios.
A aceitação de suas jóias na Bienal leva-o a considerar a arte como atividade mais permanente. Nesse mesmo ano, tornou-se aluno do pintor Iberê Camargo, também gaúcho, no Instituto de Belas Artes (RJ). Passa, em seguida, a ser assistente do artista, trabalhando em seu ateliê.
Em maio de 1965, participa do XIV Salão Nacional de Arte Moderna (RJ). Conhece o artista Antonio Dias, integrante do mesmo Salão, que o apresenta ao marchand Jean Boghici. Este o convida a participar da mostra Opinião 65, que organiza com Ceres Franco no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Inaugurada em 12 de agosto, a exposição se torna importante marco na história da arte brasileira, ao evidenciar a postura crítica de jovens artistas diante da realidade social e política do momento. Em dezembro do mesmo ano, integra a mostra Propostas 65, na Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo, com as obras Eleição, Discussão sobre Racismo e O General. Participa ainda do Salon de la Jeune Peinture, no Musée d’Arte Moderne de la Ville de Paris, com Antonio Dias e Rubens Gerchman.
Em março de 1966, com o apoio técnico dos arquitetos André Lopes e Eduardo Oria, vence o concurso para execução de um mural no auditório da Escola Nacional de Saúde Pública, em Manguinhos (RJ), com projeto de painel realizado com tubos de PVC, medindo 4m de altura por 18m de comprimento. O júri é composto por Flávio de Aquino, Lygia Clark e Lygia Pape. Este projeto inicia sua aproximação à arquitetura, atividade paralela ao processo artístico, presente até hoje em sua vida.
Em abril, recebeu o Prêmio Piccola Galeria, do Instituto Italiano de Cultura, destinado aos jovens destaques brasileiros nas artes plásticas. Participa do evento de inauguração da Galeria G4, na rua Dias da Rocha 52 (RJ), espaço projetado pelo arquiteto Sérgio Bernardes e dirigido pelo fotógrafo norte-americano David Zingg. Nesse dia, Vergara, Antonio Dias, Pedro Escosteguy, Rubens Gerchman e Roberto Magalhães realizam um happening com ampla repercussão na cidade. Sobre seu trabalho na exposição, Vergara comenta:
“Nesse happening eu chegava de carro e descia com uma pasta de executivo. Eu havia preparado uma parede no fundo da galeria e, por trás dela, tinha deixado uma frase pronta e um recorte fotográfico de dois olhos muito severos olhando para a frente. Eu abria a pasta e tirava uma máquina de furar. Desenhava um ponto a 80cm do chão e escrevia ‘Olhe aqui’. As pessoas se abaixavam e olhavam pelo buraco. Lá dentro estava escrito: ‘O que é que você está fazendo nessa posição ridícula, olhando por um buraquinho, incapaz de olhar à sua volta, alheio a tudo o que está acontecendo?"
Ainda em 1966, integra a coletiva Pare: Vanguarda Brasileira, organizada por Frederico Morais, na Reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais. No cartaz da exposição, Frederico escreve: “Para Vergara, o quadro deixou de ser um deleite, prazer ocioso ou egoístico, para transformar-se numa denúncia. Não foge nem esconde esta contingência – faz uma pintura em situação.”
No mesmo impresso, Vergara declara, ainda:
“Todos são obrigados a tomar uma posição. Será possível ficar calado diante de uma realidade onde uns poucos oprimem a muitos? Será possível voltar os olhos enquanto os valores se invertem e ficar procurando formas de divagação? Essa é uma posição que não me agrada (...) A condição de premência em que se vive me obriga a ser mais conseqüente, mais objetivo e às vezes mais temporal dentro de minha arte. Só repudiar uma estética convencional é repudiar ser inconseqüente. Repudiar, porém, essa estética convencional é para sacudir os espectadores e pedir deles também uma atitude nova; é colocar o problema em questão. (...) Arte é comunicação. Esse jogo não tem regras.”
Em agosto, faz parte da mostra Opinião 66, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, organizada por Carmen Portinho, Ceres Franco e Jean Boghici, com a obra Meu Sonho aos 18 Anos. No mesmo mês, a revista Realidade publica artigo assinado por Vera e Mário Pedrosa sobre os jovens artistas atuantes no Rio de Janeiro Antonio Dias, Vergara, Gerchman, Magalhães e Escosteguy, com ensaio fotográfico de David Zingg. Em outubro, estréia a peça teatral Andócles e o Leão, de Bernard Shaw, montada pelo Grupo O Tablado, com direção de Roberto de Cleto, cenários de Vergara e figurinos de Thereza Simões. Esta é sua primeira participação como cenógrafo, atividade que continuará a desenvolver durante a década de 1960.
Encerra o ano com exposição individual na Fátima Arquitetura Interiores (RJ), onde apresenta desenhos realizados entre 1964 e 1966, como Le Bateau ou A Caixa dos Sozinhos, uma referência à boate Le Bateau, frequentada pela juventude carioca na época. Por ocasião da mostra, o crítico Frederico Morais aponta:
“(...) Da solidão e do medo, dois temas do homem de hoje; do desenho requintado e luxuriante às inovadoras e fascinantes pesquisas com plástico (...) Como em certas pesquisas da pintura atual, Vergara está incorporando a própria moldura e também o suporte no desenho fazendo do plástico não uma bolsa para o papel, mas algo que gradativamente vai adquirindo sua própria expressividade. (...) Seus últimos trabalhos são na verdade objetos virtuais, quase objetos.”
Em março de 1967, recebe o Primeiro Prêmio de Pintura no I Salão de Pintura Jovem de Quitandinha, Petrópolis (RJ), com a obra Sonho aos 18 Anos e, no mês seguinte, o prêmio aquisição O.C.A. no Concurso de Caixas, evento promovido pela Petite Galerie (RJ), que seleciona exclusivamente obras concebidas em formato de caixa. A exposição, inaugurada em 2 de maio, tem o convite desenhado por Vergara.
Em abril, é um dos organizadores, juntamente com um grupo de artistas liderados por Hélio Oiticica, da mostra Nova Objetividade Brasileira, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que procura fazer um balanço da vanguarda brasileira produzida no país. Assina a “Declaração de princípios básicos da vanguarda” e, nessa mostra, participa com os trabalhos Indícios do Medo, Minha Herança São os Plásticos e Auto-retrato, todas de 1967.
Em setembro, participa da IX Bienal de São Paulo, quando obteve o Prêmio Itamaraty. Em 9 de outubro, realiza mostra individual na Petite Galerie. Nesta exposição, Vergara apresenta obras realizadas com materiais industriais. Seu convívio com a indústria e, sobretudo, sua familiaridade com o desenvolvimento de novos materiais plásticos, graças a seu trabalho na Petrobras, foram decisivos para seu processo criativo e tornaram possível seu desejo de aproximar indústria e arte. Sobre esta relação, o artista acrescenta:
“(...) para mim, só há uma razão para a arte: ela ser consumida, passar a ser um elemento importante na vida do homem. Uma escultura que fosse também uma geladeira seria uma experiência válida. (...) Estou certo de que uma das funções do artista no Brasil é despertar a indústria para a utilização da arte.”
Algumas obras da exposição foram realizadas com a colaboração de técnicos da indústria Plasticolor. Na mesma mostra, o artista também apresenta Berço Esplêndido, seu primeiro trabalho tridimensional, do qual o público é convidado a participar, sentando-se em seis pequenos bancos com a inscrição “sente-se e pense”, em torno de uma figura deitada coberta com as cores da bandeira do Brasil.
Em 1968, realiza sua primeira mostra individual em São Paulo, na Galeria Art Art, apresentando, entre outros trabalhos, o resultado de suas recentes experiências: caixas feitas com papelão de embalagem, deslocando das próprias pilhas de embalagens da fábrica para os então sacralizados espaços de museus e galerias, transformando-as em esculturas. A exposição tem texto de apresentação de Hélio Oiticica, que escreve:
“(...) Vergara constrói caixas não requintadas, puro papelão, papelá, bandeira, bandeiramonumento, Brasília verdeamarela, mas papelão, que se encaixa, na caixa, na sombra e na luz, no cheiro – é a secura das fábricas, sonho de morar, viver o fabricado preconsumitivo, antes de ser às feras atirado – Seca, viva, a estrutura é cada vez mais aberta – ao ato, ao pensar, à imaginação que morde, demole, constrói o Brasil, fora e longe do conformismo (...)”
Ainda em 1968, realiza cenários e figurinos das peças Jornada de um imbecil até o entendimento, de Plínio Marcos, montada pelo Grupo Opinião, com direção geral de João das Neves, música de Denoy de Oliveira e letras de Ferreira Gullar, e Juventude em crise, de Bruchner, juntamente com o artista Gastão Manuel Henrique, apresentada no Teatro Gláucio Gil (RJ).
Em maio de 1969, é selecionado para a X Bienal de São Paulo. No mesmo mês é escolhido, junto com Antonio Manuel, Humberto Espíndola e Evandro Teixeira, para representar o Brasil na Bienal de Jovens, em Paris. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro organiza uma mostra dos artistas que participariam dessa bienal, mas algumas horas antes a exposição é fechada por ordem do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores. Em novembro, realiza nova mostra individual na Petite Galerie. Interessado em investigar as relações entre arte e indústria, trabalhando na fábrica de embalagens Klabin, expõe trabalhos em papelão: figuras empilhadas, sem rosto, e objetos-módulos, criados para a Feira de Embalagem, além de desenhos e objetos moldados em poliestireno. Sobre esta mostra, o artista comenta:
“Eu me preocupo com uma linguagem brasileira para a arte moderna. Encontrei no papelão – pobre, frágil, descolorido – um material coerente com a nossa realidade (...) barato, perecível, o papelão significa para mim a possibilidade de fazer minhas obras (...).”
É um dos fundadores da seção brasileira da Associação Internacional de Artistas Plásticos (Aiap), que tem ampla atividade política, até ser aniquilada pela Censura.
Anos 70
Na década de 1970, ocorre uma mudança de atitude na arte e na cultura brasileiras. A Censura, a violência e o fim das garantias constitucionais, determinadas pelo Ato Institucional n. 5, de 1968, não permitem a indiferença. Muitos artistas e intelectuais, entre os quais Hélio Oiticica, Antonio Dias e Gerchman, saem do Brasil. Outros, como Vergara, mudam o foco de seu trabalho. Segundo o próprio artista: “(...) a gente começa a ter uma atitude mais reflexiva, mesmo. Eu começo a usar fotografia e fazer uma espécie de averiguação mais antropológica do real (...)”. Essa busca de linguagens reflexivas se traduz, na obra de Vergara, na extensa pesquisa sobre o carnaval e na realização de filmes super-8, sem deixar de lado os trabalhos decorrentes de sua experimentação com materiais industriais, sobretudo o papelão.
Participa, em 1970, da 2ª Bienal de Medellín, Colômbia, apresentando o trabalho América Latina, dois grandes desenhos no chão, com recortes e caixas de papelão – que foram extraviados em sua volta ao Brasil. Para Hélio Oiticica: “(...) os superdesenhos crescem das caixas-estruturas-cenários caligarianos: espalham-se pelo chão, desenham-se, recortam-se: as folhagens de papel barato: moitam-se-desgarram-se: invadem, por seu turno, o ambiente (...)”.
Nesta década, intensifica seu trabalho com arquitetos, principalmente Carlos Pini, realizando painéis para lojas, bancos e edifícios públicos. Entre os trabalhos mais importantes, destacam-se os painéis realizados para as lojas da Varig em Paris e Cidade do México (1971); Nova York e Miami (1972), Madri, Montreal, Genebra e Johanesburgo (1973), Tóquio (1974), entre outros.
Buscando criar uma atmosfera brasileira para estes trabalhos arquitetônicos, começa a utilizar materiais e técnicas do artesanato popular, como a cerâmica e os trabalhos com areias coloridas em garrafas, no interior do Ceará. Nos botequins do Nordeste, também se interessa por pequenos enfeites realizados com papel dobrado e recortado. Transpondo esse universo popular para a escala arquitetônica, alia sua experiência com papelão ondulado na fábrica Klabin, realizada desde os anos 1960, a trabalhos de recorte em grande escala.
Em 1971, recebe, com os arquitetos Guilherme Nunes e Carlos Pini, o Prêmio Affonso Eduardo Reidy, da Premiação Anual IAB/GB, pelos projetos das lojas Varig de Paris e São Paulo.
Em 1972, idealiza a mostra intitulada EX-posição, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Em lugar da individual que estava agendada, o artista organiza uma mostra coletiva, posicionando-se criticamente em relação à realidade política do país. Em suas palavras: “Era tão agoniante a situação que se vivia, que achava um absurdo fazer uma individual fingindo que não estava acontecendo nada. Era já uma postura política tentando abrir o espaço individual para uma coisa mais coletiva.” De Nova York, Hélio Oiticica envia para a mostra o projeto do Filtro, um penetrável que conduz o trajeto do público. A exposição abriga múltiplas linguagens, apresentando pinturas, desenhos, fotografias e filmes super-8 de muitos artistas, entre os quais Roberto Magalhães, Caetano Veloso, Chacal, Bina Fonyat, Glauco Rodrigues, Ivan Cardoso e Waltércio Caldas. Além de organizar a exposição, Vergara apresenta seu trabalho fotográfico sobre o carnaval e uma reportagem realizada com Fonyat no vilarejo de Povoação (ES). Também mostra seu filme Fome, em super-8, e o Texto em branco, publicado pela editora Nova Fronteira.
Em sua pesquisa sobre o Brasil, começa a registrar de forma sistemática o carnaval carioca. Interessa-se, principalmente,
“pelos rompimentos com os comportamentos cotidianos, pela sexualidade ostensiva, pelas inversões de comportamento, pelas intervenções sobre o corpo, pela tomada da rua, pela quebra da estrutura de controle do resto do ano e pelas novas hierarquias que se montam”.
Focaliza, sobretudo, a bloco de embalo Cacique de Ramos, por ser:
“um bloco formidável para uma reflexão (...) com sete mil integrantes, que resolvem se vestir iguais, numa festa onde seu predicado é o exercício e a exacerbação da individualidade. (...) A roupa do Cacique de Ramos é uma gravura feita em um metro de vinil. Você levava para casa uma gravura, recortava e botava sobre o corpo. Isso não é brincadeira. Só tem uma área de individualidade que é o rosto. Para mim era importantíssimo mostrar que, instintivamente, podem surgir na sociedade iguais diferentes, diferentes mas iguais.”
Ainda em 1972, ganha, com o arquiteto Marcos Vasconcellos, o Prêmio Henrique Mindlin da IAB/RJ, pelo projeto de uma capela, da qual Vergara idealiza os vitrais. Em 1973, realiza mostra individual inaugural da Galeria Luiz Buarque de Hollanda e Paulo Bittencourt (RJ). Participa da coletiva Expo-projeção 73, no espaço Grife (SP), onde apresenta seu filme Fome. No mesmo ano, criou um painel para a sede do Jornal do Brasil (RJ).
Em 1973, monta, com amigos arquitetos e fotógrafos, um ateliê coletivo do qual participam Marcos Flaksman, Carlos Pini, Manoel Ribeiro, Sebastião Lacerda, Bina Fonyat e Antonio Penido, que mais tarde se transformará na firma Flaksman Pini Vergara Arquitetura e Arte, com atuação centrada em projetos de arquitetura teatral e de shopping centers, como o Barra Shopping (RJ). Neste projeto, Vergara participa da concepção de todas as áreas dedicadas ao passeio, comércio e lazer do centro comercial, além da criação de uma capela ecumênica. Para o artista, “é interessante fazer uma coisa que está dissolvida no real. Não tem a pretensão do discurso individual do artista, mas é a atuação do artista que está dissolvida na vida das pessoas (...) onde você se sente bem sem saber por quê”.
Em 1975, integra o conselho editorial da revista Malasartes, publicação organizada por artistas e críticos de arte com o intuito de criar debates e reflexões sobre o meio de arte no Brasil.
Realiza, em 1976, dois novos painéis no Rio de Janeiro: um para o centro comercial na Praça Saens Peña, Zona Norte da cidade, projetado pelo arquiteto Bernardo de Figueiredo, e outro para o Rio Othon Palace Hotel, em Copacabana, na Zona Sul.
Em setembro de 1977, participa da fundação da Associação Brasileira de Artistas Plásticos Profissionais, chegando a ser presidente da entidade, criada para reivindicar a participação dos artistas nos debates e decisões das políticas culturais nas artes visuais.
Em junho de 1978, apresenta na Petite Galerie, individual a partir de seu trabalho sobre o carnaval carioca, quando mostra fotografias, pinturas em papel, desenhos e montagens com caramujos. Os moluscos têm, para o artista, interesse semelhante ao bloco Cacique de Ramos, em que todos parecem, à primeira vista, iguais, porém, sutis diferenças marcam sua individualidade. Em novembro, apresenta a mesma mostra na Galeria Arte Global (SP). O catálogo traz texto do próprio artista. Em dezembro, a Funarte edita o livro Carlos Vergara, como parte da Coleção Arte Brasileira Contemporânea, com textos de Hélio Oiticica e programação visual de Vera Bernardes, Sula Danowski e Ana Monteleone.
Em 1979, realiza, com Ruth Freinhoff, a programação visual da capa do disco Saudades do Brasil, de Elis Regina; com o cenógrafo Marcos Flaksman cria o cenário do show homônimo. No mesmo ano, assina a concepção visual da capa do disco Elis.
Anos 80
Em junho de 1980, participa, ao lado de Antonio Dias, Anna Bella Geiger e Paulo Roberto Leal, da 39ª Bienal de Veneza. Apresenta um desenho de 20m de comprimento e 2m de altura, que seria para o artista “uma espécie de catarse de desenho”, no qual parece encerrar seu trabalho de documentação do carnaval. O catálogo que acompanha sua participação traz texto de Hélio Oiticica.
Ainda nesse ano, integra a exposição Quasi Cinema, no Centro Internacional di Brera, Milão (Itália). No ano seguinte, mostra 17 desenhos e pinturas em papel e o painel realizado para a Bienal de Veneza na Galeria Mônica Filgueiras de Almeida (SP).
Na década de 1980, o artista retoma a pintura com telas que apresentam uma trama diagonal como estrutura. Apesar da ausência de referências exteriores à própria construção pictórica, essas telas ainda decorrem de seu trabalho fotográfico sobre o carnaval.
Segundo o artista:
“(...) as pinturas com as diagonais vêm do carnaval, não por causa da roupa do arlequim, mas por causa da grade de separação do público nos desfiles. Tenho uma série de fotografias das pessoas atrás da grade ou do carnaval atrás da grade. Aos poucos, a grade vai ficando como medição, as pessoas e as figuras vão saindo (...)”
Em maio de 1983, é inaugurada a Galeria Thomas Cohn (RJ) com individual de pinturas do artista. No catálogo, Ronaldo Brito escreve:
“A trama é estritamente pictórica. A sua construção e a sua palpitação remetem apenas a si mesmas. A premência e a urgência da pintura, da vontade de pintura, se tornam flagrantes pela falta de qualquer mediação entre o próprio ato de pintar e a coisa pintada (...) Mas, visivelmente, a trama aponta para uma divisão, um lá e cá, um antes e depois (...) de uma maneira explícita, essas telas assumem um lugar paradoxal – o seu estar entre. Entre o passado literário e a procura de uma auto-suficiência visual (...) Entre a pressão de uma estrutura, com a demanda de um raciocínio pictórico cada vez mais complexo, e a força decorrente do seu imaginário figurativo, o trabalho vive o seu dilema básico, a sua ambigüidade fundamental (...)”
Em 10 de dezembro, expõe pinturas no Gabinete de Arte Raquel Arnaud (SP). O texto de apresentação de Alberto Tassinari reafirma o caráter autônomo ali expresso:
“Nas suas telas o olhar imagina, e a imaginação olha. Cúmplices um do outro, colocam a questão: é possível olhar um quadro sem imaginá-lo? (...) O que está em jogo nessas telas é um dos fundamentos da pintura. A impossibilidade de sua transmutação absoluta de imagem em objeto (...) Sua ação pictórica não reveste a tela com fabulações do sentido. Está antes interessado na cuidadosa investigação de um problema fundamental da pintura: a transfiguração recíproca de olhar e imaginar.”
Ainda em 1983 é nomeado para o cargo de presidente do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural (RJ), ocupando a vaga do escritor Pedro Nava, recém-falecido. De 22 de janeiro a 22 de fevereiro de 1985, organiza individual no Brazilian Centre Gallery, em Londres, onde expõe pinturas em grandes formatos. É co-diretor, com Belisário França e Piero Mancini, do vídeo Carlos Vergara: uma pintura, que integra a Série RioArte Vídeo / Arte Contemporânea.
Em 1987, realiza mostra individual no Gabinete de Arte Raquel Arnaud e executa painel para a sede do Banco de Crédito Nacional/BCN, em Barueri (SP).
Monta ateliê em Cachoeiras de Macacu, município a 120km do Rio de Janeiro, às margens do rio de mesmo nome, onde passa a maior parte do tempo. Este novo espaço, de grandes dimensões, lhe permite trabalhar em várias obras simultaneamente.
Em março de 1988, inaugura exposição individual na Galeria Thomas Cohn, Rio de Janeiro, e apresenta dez telas. Além das tradicionais, Vergara passa a utilizar tintas industriais que
“em contraste com as outras, oferecem a oportunidade de ele montar ‘pequenas armadilhas para o olhar’, avanços progressivos na direção da inteligência da visão. Organizada ainda a partir das grades que abriram a nova fase pictórica, Vergara mantém ainda um sistema de divisão da tela com cordas que ficam marcadas na pintura. Mas a grade está ampliada, quase estourando (...) E a tinta, aplicada com as mãos ou com esponjas, aparece na tela como uma explosão líquida de cor, um splash que condensa em si o ato do pintor e seu pensamento.”
Nesse ano, além de realizar novo painel para a sede do Banco Itaú (SP) e escultura para um edifício residencial – projeto do arquiteto Paulo Casé, na rua Prudente de Moraes n. 756, em Ipanema (RJ) –, cria a abertura para a novela Olho por olho, da TV Manchete, emissora carioca.
Em 1989, ocorreu uma mudança importante em sua pintura. O artista passa a trabalhar com pigmentos naturais e minérios a partir dos quais realiza a base para trabalhos em superfícies diversas. Estes se tornam resultantes de um processo de impressão e impregnação de diferentes “matrizes”, como a própria boca dos fornos numa pequena fábrica de pigmentos de óxido de ferro em Rio Acima (MG), e de uma posterior intervenção do artista. Sobre a nova direção em seu trabalho Vergara declara:
“Em 1989 (...) decidi dar uma nova direção por estar seguro de que havia esgotado a série começada em 1980, quando abandono a figura e mergulho numa pintura que tinha como procedimento uma ‘mediação com cor’ do espaço da tela, dividindo com diagonais paralelas, formando uma grade (...) propus para mim, com desapego, me colocar num marco zero da pintura e olhar para fora e para dentro.”
Em outubro de 1989, participa da 20ª Bienal de São Paulo com grandes painéis impressos com cores extraídas do óxido de ferro. No centro da sala destinada ao seu trabalho, o artista coloca uma enorme caixa contendo um bloco do pigmento mineral. Inaugura, na mesma época, individual no Gabinete de Arte Raquel Arnaud, com 14 telas. O catálogo que acompanha as exposições traz o texto “Acontecimentos pictóricos”, do crítico Paulo Venancio Filho.
Anos 90
Em setembro de 1990, realizou mostras individuais no Paço Imperial (RJ), apresentando 20 telas de grandes dimensões, e na Galeria Ipanema (RJ). Por ocasião desta exposição, o crítico Paulo Sergio Duarte escreve o texto “Uma noite matriz do dia”, no qual se refere à dupla direção tomada pela pintura atual do artista:
“O processo de trabalho de Vergara se encontra num momento onde sua pintura se expande, ao mesmo tempo, em duas direções diametralmente opostas. De um lado, o elogio da transparência na comemoração do fato plástico, de outro, uma expressividade impregnada a partir da própria matéria que na sua opacidade sombria apresenta um drama. (...) Num extremo, o sentido gráfico construtivista será acrescido de elementos expressivos (...) No outro extremo, um cenário está dado e, digamos, energizado por uma história mítica da técnica da pintura (...) O que se anuncia, nos dois extremos, é o elogio do aparecer da pintura no próprio ato pictórico (...)”
Em abril de 1991, realiza mostra com telas sobre lona crua no Gabinete de Arte Raquel Arnaud. Em setembro, apresenta exposição individual no Grande Teatro do Palácio das Artes (BH), com 21 monotipias realizadas em Rio Acima e retrabalhadas no ateliê. Para o catálogo da exposição, promove-se uma conversa entre Ronaldo Brito, Paulo Sergio Duarte, Paulo Venancio Filho, Tunga e o próprio artista, em que se debate o atual estágio da trajetória artística de Vergara. Segundo Ronaldo Brito:
“O trabalho atual seria mais lento, mais reflexivo, mais dubitativo e que suscita, convida até a uma espécie de convívio estético mais indefinido, mais prolongado no tempo. Há uma demora para se impregnar com estes valores todos. É algo não para se contemplar, olhar de fora, mas para chegar perto e experimentar (...)”
No ano seguinte, realiza a individual Carlos Vergara, Obras Recentes 1989-1991, no Centro de Arte Moderna, Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), com a apresentação de 20 grandes monotipias e, na Capela do Morumbi (SP) monta uma instalação com quatro monotipias em papel de poliéster impregnado de resina adesiva, presas diretamente no teto, consideradas “pinturas fora do muro” pelo artista.
Em 1993, o Centro Cultural Cultural Banco do Brasil (RJ) organiza individual do artista, onde é remontada a Capela do Morumbi. Realiza outra exposição individual na Galeria Francis Van Hoof, Antuérpia.
No ano seguinte, faz mostra individual no Gabinete de Arte Raquel Arnaud e participa da Bienal Brasil Século XX, na Fundação Bienal (SP). Ainda em 1994, convidado pelo Instituto Goethe, faz parte da equipe de artistas brasileiros e alemães que realiza parte do percurso original da Expedição Langsdorff, viagem científica ocorrida entre 1822 e 1829 com o intuito de documentar a natureza e a sociedade do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Amazônia. Nesta viagem, Vergara produz telas e gravuras, como as monotipias dos pisos de Ouro Preto e Diamantina (MG). Em 1995, o resultado desta experiência é apresentado na mostra O Brasil de Hoje Espelho do Século 19 - Artistas Alemães e Brasileiros Refazem a Expedição Langsdorff, na Casa França-Brasil (RJ) e no Museu de Arte de São Paulo/Masp. No mesmo ano, realiza individuais na Galeria Debret (Paris) e na Galeria Paulo Fernandes (RJ), e cria painéis para o Morumbi Office Tower (SP).
Entre 1996 e 1997, realiza a série intitulada Monotipias do Pantanal, mostrada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, quando os registros da natureza, sejam intervenções de animais ou marcas de plantas, se imprimem nas telas, criando tanto sudários quanto estruturas gráficas para obras trabalhadas posteriormente no ateliê. Para o artista, esses trabalhos adquirem novo estatuto em que, “deslocados do contexto da impressão, recebem chassis, além das eventuais intervenções posteriores (...) aí sim, elas ganham corpo e densidade suficientes”.
No mesmo ano, apresenta individual de gravuras na Fundação Castro Maya (RJ). Integra a Bienal do Mercosul (POA). Convidado por Nelson Brissac Peixoto, participa do projeto Arte/Cidade 3, A Cidade e suas Histórias, nas Ruínas da Fábrica Matarazzo (SP). Na ocasião, Vergara realiza Farmácia Baldia, com a ajuda de botânicos da Universidade de São Paulo/USP e do arquiteto paisagista Oscar Bressane, intervenção resultante da localização e classificação de inúmeras plantas medicinais existentes nas imediações da fábrica, fazendo desenhos em grande escala, diretamente nas paredes dos galpões abandonados, interagindo com as pichações existentes e criando uma marcação com mastros coloridos no terreno em torno das plantas identificadas.
Em 1998, recebe o Prêmio Mário Pedrosa, da Associação Brasileira de Críticos de Arte/APCA, por sua mostra Monotipias do Pantanal: Pinturas Recentes, no MAM-SP. Em setembro, participa da exposição Poéticas da Cor, no Centro Cultural Light (RJ) com a instalação Limonita “minério encharcado”. Realiza a individual Os Viajantes, no Paço Imperial. Em novembro de 1999, a Pinacoteca do Estado de São Paulo organiza a mostra antológica Carlos Vergara 89/99, apresentando desde suas primeiras monotipias sobre lona crua até as telas nas quais a intervenção do artista, com materiais como dolomita e tintas, apaga quase completamente os sinais da primeira impressão que deu origem aos trabalhos.
Anos 2000
Em 2000, participa das coletivas Brasil + 500 Mostra do Redescobrimento, Fundação Bienal (SP); Século 20: Arte do Brasil, Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa); no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão (Lisboa); e Situações: Arte Brasileira Anos 70, na Fundação Casa França-Brasil (RJ).
Em junho do ano seguinte, realiza individual na Galeria Nara Roesler (SP). Para o catálogo, o artista escreve o texto “Pequena bula”, em que explica o processo de elaboração dos trabalhos apresentados:
“São pinturas que começam com uma monotipia (...) Esta impressão se dá em áreas escolhidas, já cobertas pela poeira depositada pela atividade da indústria na moagem dos pigmentos que produz (...) de forma que a impressão capture os desenhos e as tensões gráficas dessas áreas. Um repertório de formas são utilizadas, como um alfabeto que constrói aos poucos, e por partes, o discurso do trabalho. Essas formas podem ser recortes em papelão, tecido, madeira, metais, borracha (...) materiais que obedecem e materiais que não obedecem docilmente (...)”
Realiza individual na Silvia Cintra Galeria de Arte (RJ).
Em 2002, é convidado a fazer parte do projeto Artecidadezonaleste (SP), para o qual cria uma intervenção na praça da estação Brás do metrô. Nas palavras de Nelson Brissac Peixoto, curador do evento, o trabalho de Vergara é:
“(...) uma intervenção sobre esta situação aparentemente inerte, uma ação que eventualmente detone um processo de ocupação deste vazio, inibido pelo rígido programa preestabelecido pelo planejamento urbano. (...) consiste em instalar no local um conjunto de barracas, do tipo usado pelos camelôs. As barracas, feitas de vergalhões de ferro, aparecem intencionalmente inconclusas, um esqueleto que pode ser completado com tampas e toldos ou utilizado para outros fins. Essa estrutura inacabada não obedece às bases de concreto existentes no local para disciplinar sua ocupação por camelôs, deixando em aberto a configuração urbana resultante (...)”
Em dezembro, tem sala especial na mostra ArteFoto, no Centro Cultural Banco do Brasil (RJ), com curadoria de Ligia Canongia, e seu trabalho Cacique de Ramos: Iguais Diferentes ganha destaque. Na ocasião, mostra fotografias realizadas entre 1972 e 1975 e plotagens recentes a partir do mesmo material.
A partir de maio de 2003, apresenta a primeira grande retrospectiva de seu trabalho, no Santander Cultural (POA), no Instituto Tomie Ohtake (SP) e no Museu Vale do Rio Doce, Vila Velha (ES), com curadoria de Paulo Sergio Duarte.
Textos Críticos
BIENNALE DI VENEZIA '80
DESENHO é planejamento e recolhimento de material bruto recolhido e posto em estado bruto: segundo vergara é memória e projeção: o cigarro que queima fumaça de cor expressionista que acaba no desenho como foto-decalque da infância: um outro q já projeta decalque de foto-CARNAVAL: anotação e antecipação: cerne-espinha do q vem a explodir em seguida em forma de projetos maiores: não considerá-los por isso mesmo menores:
continuarão a emergir e o devem:
pre-vêem:
os superdesenhos crescem das caixas-estruturas-cenários caligarianos: espalham-se pelo chão, desenham-se-recortam-se: folhagens de papel barato: moitam-se-desgarram-se: invadem, por seu turno, o ambiente - colher os cantos-recantos brasis que os teóricos academizantes não conseguem: brasil sensível, não cultural – tudo terá que desembocar fatalmente em estruturas mais gerais, em proposições que crescem em ambição: em algo que seja mais importante que galerias e museus: que prescinda delas para a sobrevivência – a consciência de que essa face pra ser face, deva ser exportável, assim como o fizeram os americanos (warhol, p. ex., mais do que oldenburg que se resume mais a uma “imagem-america – warhol realmente criou o que se poderia se chamar de face-america) – tirar do saco o que deve ser tirado, o que interessa – vergara quer ser a consciência vigilante dessas instân (cias) (tes) mas geral que a moda e a forma: o lugar e o tempo, só cabem a ele construir: e ambos são fundamentais aqui: a busca do tempo-lugar perdidos no subdesenvolvimento-selva: as perguntas, as respostas, as questões: validade delas: de onde abordar a conceituação de valor? Nem a “arte” nem a “cultura” importam aqui: muito mais: o comportamento como uma forma viva das opções criativas – vivatuante, vigilante: uma consciência.
vergara quer construir em bloco uma instância: um instante brasil – a face – mesmo que para isso tenha que se apegar aos restos, às proposições antigas, que aparecem aqui para formar este bloco: sua facilidade em desenhar, em decorar, recortar, enriquecer o ambiente etc; não interessam aqui coisas como “mensagens” anedóticas, sem eficácia: a ambição de criar este bloco-face brasil absorvendo tudo, deixando de lado certos pudores esteticistas; nisso reside sua coerência: e ao final, sem sobras
a cabeça
a máscara: o recorte da cabeça q está em aberto pra receber a máscara
mascarar-se: escolher identidade." — Hélio Oiticica
ATRAVÉS DA ORDEM
"A trama é estritamente pictórica. A sua construção e a sua palpitação remetem apenas a si mesmas, A premência e a urgência da pintura, da vontade de pintura, se tornam flagrantes pela falta de qualquer mediação entre o próprio ato de pintar e a coisa pintada. A trama é exatamente o que se trama, tudo o que se trama. Dispersão e fragmento se relacionam aqui com vistas à construção de uma Totalidade que será necessariamente precária. A tela pronta se busca ainda, pulsa inquieta e escapa a seu método. Metonímia só, sem remissão a um todo conhecido. Esses quadros são, com toda certeza, partes, mas, reunidos todos, não organizaram um conjunto – claro, não formam um círculo, tramam.
E, ainda assim, não. O trabalho não é um puro esforço fenomenológico de elaboração de uma pictórica. Talvez seja esse o seu problemático horizonte; possivelmente esse é o seu passado recalcado e irresolvido. Mas, visivelmente, a trama aponta para uma divisão, um lá e cá, um antes e depois. Um percurso e uma oposição. Porque, no caso, a trama também é figura, e aí surpreendemos talvez a verdade do trabalho, o seu conflito de origem. De uma maneira explícita, essas telas assumem um lugar paradoxal – o seu estar entre. Entre o passado literário e a procura de uma auto-suficiência visual, uma irredutível inteligência perceptiva. Estaríamos assim diante de um processo de abstração, uma determinação em construir uma linguagem visual substantiva. Mas, por favor, nela podem aparecer quaisquer imagens, inclusive as chamadas figurativas: o que caracteriza o grau de abstração de uma linguagem é a exigência de auto-legislação formal, a recusa em se apoiar sobre referências externas ao processo do trabalho, sejam elas empíricas, geométricas ou escatológicas.
O que interessa, imediatamente, é que esse entre é – existe e vibra, se faz sentir diretamente no olhar. A estrutura do quadro acolhe e nega a sua carga de temporalidade literária – os losangos que se combinam e dispersam insinuam uma cena ao mesmo tempo em que parecem se resumir, a articular e desarticular limites, sentidos pictóricos intraduzíveis. As cores, a rigor inseparáveis do processo de estruturação, sustentam ainda um caráter metafórico – possuem uma certa intimidade, uma certa memória afetiva que resiste à uma estrita participação interativa.
Entre a pressão de uma estrutura, com a demanda de um raciocínio pictórico cada vez mais complexo, e a força recorrente de seu imaginário figurativo, o trabalho vive o seu dilema básico, a sua ambigüidade fundamental. Note-se porém: os dois momentos aparecem no e do trabalho, emergem de sua operação específica. A vontade de se livrar de conteúdos dados, da figuração imediata que o dominava, corresponde a uma volta às questões de origem. Visivelmente: o chamado fundo passa agora a primeiro plano; as cenas e figuras se diluem e dissolvem nas cores e formas e apenas impregnam afetivamente o quadro. Daí a realidade da trama – é a sua ação que segura os dois espaços opostos e consegue relacioná-los. Em contrapartida é o embate entre esses espaços, em busca de um lugar, o que faz pulsar a rede e promove deslocamentos e condensações. A estrutura se impõe à figura, como fantasma, freqüenta a estrutura.
E, no caso, não há como ser maniqueísta. A decisão estrutural precisa incorporar o imaginário figurativo para se realizar – em última instância é a poética do trabalho o que está em jogo. Impossível negar as cores, linhas e formas a sua história; é possível, no entanto, levá-las a um nível de pensamento superior. Abstraindo as conotações mundanas, reencontrá-las como fundamentos de uma pura inteligência visual. É possível, assim, pensá-las mais próximas de si mesmas e, aí sim,digamos, poetizá-las. E com esta manobra o ato de pintar adquire outro estatuto – o de um saber artístico autônomo, diverso do verbo, com uma lógica de reprocessamento singular.
Por isto, premência da trama: para sair de um impasse,ou antes, para ativar e repotencializar o próprio impasse. Mais, muito mais do que com aparências, a simples troca de figuras empíricas por figuras geométricas, o trabalho está às voltas com uma transformação de medida – um salto no vazio. Inenarrável em outra língua, a pintura só vai existir, fazendo-se, e só pode se fazer atravessando o desconhecido. Graus de incerteza, graus de estranheza passam a ser as marcas do processo – como mostra a trama, o tema do trabalho é a sua própria realização – a sua ambígua, incerta e imprevisível realização. E o prazer do olhar é sentir esse formigamento agindo e construindo. A rede se lançando, palpitando e organizando.
Agora há portanto o drama da pintura com a pintura. E a dúvida do trabalho diante dele mesmo o leva, desculpem o contra senso, de volta para frente. Cruzando em sentido inverso o Novo Realismo dos anos 60, na qual se formou, ele retoma o Expressionismo-Abstrato para uma interrogação radical sobre o fato e o desejo da pintura. No momento em que tudo parece permitido, todas as facilidades, toda espécie de mistificação e contrafação; numa conjuntura em que vários tipos de neo-naturalismos pretendem canonizar ou ultrapassar (SIC) a modernidade, o trabalho assume decididamente a questão moderna. Quer dizer: no mínimo, o compromisso com uma poética irremissível a qualquer ordem prévia – porque, em última instância, este não é mais o Mundo de Deus e o Real se tornou um problema e um projeto.
É sintomática e esclarecedora, assim, a atração do artista pela estrita imaginação pictórica de Mark Rothko. A pintura construindo uma cena que é a própria pintura, onde figura e fundo se debatem e multiplicam até a vertigem; onde espaço e tempo se confundem, indecidíveis, numa trama que se expande e contrai incessantemente. Há por certo uma imaginação romântica em Rothko, mas da ordem da pele: é o corpo, o nosso corpo, que se engaja diferente no mundo a partir da tela – experiência de alheamento e imersão numa atmosfera densa e rarefeita. É essa pulsação rigorosa e indefinida da obra de Rothko que vai seduzir o trabalho através do tema mais constante em toda sua história: o limite entre a ordem e o caos.
Mas se, nesse sentido, por exemplo, a série Carnaval estava ligada à série dos Caramujos, na esfera da reflexão abstrata, ilustradas ambas por obras isoladas, os novos quadros trazem a questão na própria pele – não refletem a idéia de oscilação entre a ordem e o caos, procuram ser esse movimento, produzir imediatamente essa conversão no olhar. Abstraindo o jogo das aparências, o trabalho tenta organizar uma estrutura-carnaval, uma volúvel estrutura em progresso, precária e ambivalente. Por isso, podemos desde logo poupar e esses quadros nossos indefectíveis adjetivos e, ao invés, acompanhá-los em seu ininterrupto esforço de estruturação. Certo filósofo disse uma vez que, ao contrário da suposição comum, o círculo é a festa do pensamento. No caso, uma rede pode ser a festa do olhar." — Ronaldo Britto, dezembro de 1982.
ACONTECIMENTOS PICTÓRICOS
O que esta série de pinturas nos revelam são acontecimentos, situações, instáveis organizações. Elas mantém um grau de imprevisibilidade, uma deliberada margem de gratuidade e espontaneidade. A princípio poderia prevalecer a sensação de que, antes de tudo, é o sentimento do prazer que as impulsiona num movimento contínuo e irrefletido de plena entrega ao fluxo dos impulsos. Antes de nos indagarmos se isto é humanamente possível, percebemos que aqui não se trata propriamente da matéria bruta do prazer, do seu conteúdo, mas da sua forma. A matéria prima é inevitável e necessária, porém é a forma da vivência que se quer que permaneça e possa ser repetida, reexperimentada, para não se dissipar na transitoriedade no momento sem ser conhecida, que não se introjete na culpa e possa persistir como experiência conquistada e a cada vez renovada, vivida na sua antecipação e realização. Trata-se antes do sentido do prazer do que o prazer.
A tela é o lugar de um acontecimento, o lugar onde algo acontece: as possibilidades de uma pintura. Creio que esse acontecimento pictórico não diverge, em essência, de nenhum outro; circunstância onde cruzam certezas e dúvidas, acaso e destino, encontros e desencontros; campo onde circulam forças de diversas intensidades e direções às quais ora resistimos ora nos submetemos. Situação que exige um ato através do qual nos colocamos tal como somos ou pensamos ser, onde mesmo na dúvida ou na incerteza podemos nos lançar em direção a um fim. Momento de uma unidade apenas aparente. Onde a princípio parecia existir uma entrega ao fluxo, simples deixar-se levar, reconhecemos uma dimensão que assume e mantém o conflito. A vontade permanece a única garantia; a garantia de manter a coesão no dilaceramento, sustentar opostos na mesma decisão. Este não é simplesmente o sentido do prazer, é o drama da vontade. Um esforço contínuo e a cada momento posto a prova, uma intenção determinada a se expor e se revelar.
Encontramos nessa pintura movimentos simultâneos e divergentes. Cada tela é uma fonte de emissões que se comportam diferentemente. Flutuam na superfície, emergem no interior, mergulham. As diferentes modalidades com que a superfície é impregnada alterna graus de pulsação, ressonâncias, altera proximidade e distanciamento.A maior ou menor irradiação de energia não está na força do gesto que imprimiu a sua marca, está na sutil diferenciação de emissões. Acompanhamos essas diferenciações nos movimentos simultâneos de sinais opostos, nas sugestões de pontuações e nos ritmos, nas ambivalências cromáticas, no pulsar que faz e desfaz uma cena onde permanece onde permanece a intensidade e a integridade originária. Estamos entre a abstrata organização da vontade e a urgente desorganização dos impulsos, diante da tentativa de manter essa fluída ordem, onde a convivência seja possível, na qual a vontade não seja esquecimento de uma adesão e a urgência da adesão não imponha a presença do irrefletido. Uma vontade que ante as dúvidas e a imprevisibilidade do momento confia na realização e desdobra no sentimento do prazer.
A forma com que o fluxo dessa experiência se configura alterna condensações de ordem e caos. A repetição, às vezes constante, de um elemento, a obsessão por um determinado gesto, procura isolar cada uma dessas experiências específicas, identificá-las e reconhecê-las na indiferenciação inicial. Existe quase uma necessidade de torná-las íntimas e reconhecíveis, para que possam ser repetidas enquanto experiências vividas. Hábito que não cansa; ter o familiar sempre renovado, nunca esgotado. Desejo de prolongar a permanência do que é momentâneo, trazê-lo imediatamente para si, evitar a estranheza e os mal-entendidos. Há nessas telas um pressuposto de conviviabilidade, tornar tudo próximo, acessível, comunicável. Este o desejo possivelmente utópico dessa pintura, o horizonte no qual se projetam figuras e fórmulas do encantamento.
Acima de tudo há nessa vontade que experimenta o conflito, ainda que confiante na realização, e por causa disto, uma dimensão ética; a procura de uma grandeza sóbria, autodimensionada. Essa confiança na realização não encontra seu sentido na reflexão, exprime a experiência da ação e do fazer, que só se revela e só se faz sentido através dela mesma, no momento próprio do trabalho, na consciência da atividade, no reprocessar constante que mesmo realizado por um só dá sentido a todos. Nessas direções conflitantes que se aproximam, da ação que reconhece seu sentido e seu fim nela mesma, nos impasses e soluções que encontra, vai se impondo uma satisfação esclarecida, intensamente realizada.
O percurso dessa pintura exprime em certo sentido os modos de se relacionar com a pintura, ou melhor, os modos como ela se relaciona com a pintura. Em outro momento podemos reconhecer um determinado modelo, certas influências e certos procedimentos. Passagens solitárias que exprimem menos um programa do que um ambiente, um contexto. São possibilidades de convivência que se colocam e sugerem níveis e intensidades de envolvimento. Se essa pintura não segue um programa rigorosamente calculado, mantém uma coerência na instabilidade do afeto. Pois aqui a pintura se organizada segundo a dinâmica do afeto. Esta é sua ordem positiva, sua modalidade de existência, seu avançar, retroceder, continuar. Talvez assim possa correr o risco da instabilidade ou da superficialidade, entretanto, a cada momento e a cada situação, sabe encontrar a espessura correta da experiência, a medida adequada, a intensidade apropriada.
Assumindo os mais diversos riscos, a pintura de Vergara apresenta mesmo em seus momentos mais erráticos e incertos uma força de convencimento. Em cada uma de suas etapas transparece o empenho e o entusiasmo que convive espontaneamente com dúvidas e incertezas. Existe nela a presença constante de uma inquietude, de uma urgência, que se combina com a insistência na execução, sempre surpreendendo com si mesma e com a aventura que é a Pintura. Exercício de entrega à pintura: misto de satisfação e temeridade" — Paulo Venâncio Filho, setembro de 1989
UMA NOITE MATRIZ DO DIA
Toda crítica cai, em algum momento, na tentação da metáfora. Tarefa nem sempre nobre, de encontrar analogias que substituindo o percurso real de uma obra possam potencializar, através de condensações, a produção de sentido que estaria depositada no seu objeto. Se este se estende no percurso de algumas décadas, essa tarefa está, parcialmente, facilitada. O leitor pode julgar, observando o desenvolvimento e transformações, a dose de arbítrio contida na crítica. Mas se nosso hipotético leitor tem diante de si apenas os resultados mais recentes de uma produção – e este é o caso da exposição de Vergara -, essa espécie de correção de rumo se complica. O poema ou uma narrativa na página, o evento plástico, o acontecimento na tela, são apenas o resultado final de um percurso. Mas é este resultado que é a própria arte e é isto que faz que toda obra de arte seja, importando um termo caro aos economistas, auto-sustentável. A razão do texto crítico estaria, então, em acelerar processos de comunicação, permitindo, pela sua intimidade com a obra, um acesso a aspectos do conhecimento particular e específico de sua poética. Mas a construção da metáfora é, no entanto, da ordem da censura e isto não apenas pela passagem, no caso da arte, da esfera visual para a literária, mas também pelo caráter seletivo de um modelo. Toda metáfora tem a pretensão de modelo de seu objeto. E nunca é demais lembrar que a consciência da culpa não exime o culpado.
O processo de trabalho de Vergara se encontra num momento onde sua pintura se expande, ao mesmo tempo, em duas direções diametralmente opostas. De um lado, o elogio da transparência na comemoração do fato plástico, de outro, uma expressividade impregnada a partir da própria matéria que na sua opacidade sombria apresenta um drama. Estamos diante de duas manifestações de uma mesma linguagem pictórica. A linguagem é o lugar onde se materializa e se instala, em qualquer trabalho de arte, sua poética. Estamos, portanto, diante de dois pólos de uma mesma poética. Para descobrirmos o corpo que reúne e integra esses extremos é preciso não nos cegarmos pela sua generosidade plástica: pela luminosidade de uns e pela teatralidade expressiva de outros. A astúcia dos procedimentos pode nos enganar e encontrarmos um falso fio condutor que levaria à identidade dos opostos no jogo entre ordem e acaso. Este embate está em ambos extremos, mas sob controlo, rebaixado ao nível de seu artesanato. E não podia ser de outra forma, Vergara não é ingênuo e conhece a história da pintura, sabe a que limites esse problema foi explorado na arte do século XX, como crítica ou reação ao mundo industrial na sua racionalização totalitária da vida.
Sem dúvida, os trabalhos possuem e expõem os elementos que os unificam. Entre estes se encontra o fato dos dois pólos se constituírem a partir de uma estrutural pré-estabelecida que organiza a superfície. Mas aí cessa a semelhança.
Num extremo, o artista realiza uma operação gráfica de caráter geométrico que antecede o trabalho propriamente pictórico. Esta divisão do território da tela vai permitir o jogo das oposições cromáticas que seria sustentado por uma trama estática, caso não houvesse a intervenção do elemento aparentemente fora de controle, aleatório: esse elemento gestual, que contradiz a sua origem instintiva, já objeto de cálculo e de controle, introduz o movimento, dinamiza a totalidade da superfície, quebra a rigidez, e, aliado à transparência, libera finalmente o signo de seus resquícios puramente gráficos. Paradoxalmente, a intervenção programada, indispensável e refletida, aparece como índice de acaso.
Mas, se num pólo a estrutura pré-existente, o ponto de partida de sua organização interna é traçada na superfície da tela, no outro ela se encontra no exterior, num ambiente onde se recolhe, em Minas Gerais, pigmentos de óxido de ferro para a indústria de tintas. Num extremo, o sentido gráfico construtivista será acrescido de elementos expressivos, cujo jogo cromático e a substituição da clareza da linha pela imprecisão do contorno, somados à luminosidade transparente, serão o evento plástico, aquilo que Paulo Venâncio Filho definiu com “acontecimentos pictóricos”. No outro extremo um cenário está dado e, digamos, energizado por uma história mítica da técnica da pintura. O trabalho ganha sua configuração inicial ali onde sua matéria-prima privilegiada, o pigmento, é extraída in natura. Mas não existe uma simbologia, algo que se passaria fora e distante da superfície do trabalho: existe a consciência de que essa narrativa que se justapõe como anedota inibiria o essencial da experiência.
Essa grandes telas impregnadas das imagens e figuras, impressas no local, podem trazer a presença do acaso como memória distante, como a surpresa no ato da execução. Mas, ainda aqui, o aleatório estará submetido a sucessivos procedimentos que o transformam de acaso em ordem. Um sutil jogo de inversões se estabelece quando observamos os dois pólos de sua poética, cuja potência reside menos na identidade de elementos constitutivos em cada extremo e mais no universo relacional das diferenças, oposições e trocas de sinal.
O procedimento de impressão num cenário onde todas as possibilidades estão previamente definidas preserva aquele momento de acaso no instante de sua descoberta, as intervenções sucessivas só cessarão quando esse elemento aleatório governado pela intenção alcançar o resultado pretendido, o seu contrário. Sua expressividade marcada como lembrança da passagem e troca entre superfícies, evoca, em suas tonalidades sombrias, uma pintura noturna, mas ao contrário dessa tradição, sua escala não é intimista. Irradia e se constitui através de uma espacialidade estranha ao alcance do olhar noturno. Sua dimensão cênica e dramática, ao mesmo tempo, quer evidenciar, antes de qualquer metáfora do mundo, o elogio de um grau zero da pintura que, com procedimentos mínimos e uma economia conquista um grau máximo de expressão. O quê de melancolia que este pólo do trabalho de Vergara pode evocar na sua totalidade e nos fragmentos de figuras – resquícios do mundo exterior com os quais esteve literalmente em contato durante sua realização – surge antes como exigência da própria matéria, como este encontro com a origem tivesse que ser preservado de qualquer euforia, reafirmando, na sua evidência física, a consciência da época na qual vai se inscrever como obra de arte.
Observando as dimensões da linguagem que se estendem nos dois extremos, talvez possamos encontrar o mínimo divisor comum dessa pesquisa que aparentemente se divide e se bifurca em caminhos opostos. Não se trata do gesto aleatório em jogo com um esquema prévio organizador. Aqui, estaríamos reduzindo e confundido método com procedimentos. O que se anuncia nos dois extremos é o elogio do aparecer da pintura no próprio ato pictórico, buscando-os nos limites dados pela transparência que reduz a cor ao mínimo necessário para a sua apresentação em movimento, e no silencioso habitat da pintura reconstituída nas telas impressas. Essa morada dilacerada nas imagens fragmentadas e nas sombras é, no entanto, estável e serena, como se mesmo criadas posteriormente do ponto de vista cronológico, fosse a descoberta de uma camada geológica que antecede e na qual se apoiam as otimistas telas em transparências coloridas. Uma noite matriz do dia" — Paulo Sergio Duarte, setembro de 1990.
ORAÇÃO A UM MUNDO QUE, IMPOSSÍVEL DE SER RESTAURADO, PODE AMANHECER NA LEMBRANÇA
"Em confronto com as recentes telas luminosas e monumentais, ainda no atelier, que sintetizam a experiência desenvolvida nos dois pólos do trabalho de Vergara nos últimos anos, estas, diante de nós, são a passagem, o caminho do meio. O centro pode não ser, portanto, a sábia e pusilânime fuga do abismo e dos extremos, mas o ponto necessário em direção a um objetivo, seguramente não apontado, antes inventado no próprio percurso. Esta visão a posteriori de um processo de trabalho criativo sempre traz o ranço da simplificação, da facilidade daquela que, observando à distância, traça no mapa o percurso da aventura que não realizou.
O que foi acrescentado e transformado nesse conjunto de telas que vão lhe diferenciar da longa série anterior de impressões com pigmentos in natura, que às vezes recebiam uma intervenção cromática em tons azuis, amarelos ou vermelhos, em forte oposição às cores sombrias de terras queimadas das paredes da pequena indústria de pigmentos no interior de Minas Gerais?
Não é uma série aberta, mas um conjunto fechado, uma totalidade que se diferencia da anterior, buscando apresentar-se de uma só vez, presentes começo, meio e fim. Antes nos encontrávamos diante de momentos sucessivos de um processo cujos limites, só agora, podem ser traçados. Se unem numa pequena coleção na busca de uma estruturação mais sistematizada e outro tratamento da luz, ou melhor, outro diálogo com a luz.
Essa organização interna mais evidente não constrange a presença de todo o processo anterior, porque manifesta-se pelo artifício da justaposição de um elemento estranho à superfície pictórica. Digamos que a vontade construtiva não violentou os elementos que evocavam a primitiva manifestação do gesto de impressão das marcas dos pigmentos. Para construir esta arquitetura, o círculo e a elipse, elementos escultóricos, atravessam todas as peças como uma invariante estrutural do conjunto. Desdobram o trabalho, lhe dão uma existência espacial, paradoxalmente, negando-lhe volume, como se insistissem na memória de sua origem: as telas. Isto, além de sustentar a idéia da interdependência entre os diversos trabalhos, ajuda a realçar sutilmente, as diferenças.
Mas há na pintura um jogo a mais, um problema acrescentado na oposição entre a opacidade e a transparência, entre a espessura das camadas pictóricas – seus atributos de absorção de luz pelas terras que se distribuem em marcas, quase ícones das diversas impressões – e o suporte.
Um dia na sua história, a pintura se despregou dos muros, foi para as madeiras e, mais tarde, para as telas. Essa conquista, muito além de seus aspectos técnicos e sociais, contribuiu para mudanças de linguagem e até mesmo para acelerar processos produtivos, com consequências para todo o pensamento pictórico posterior à sua introdução. Num jogo especular com os elementos da história, Vergara inverte essa dimensão, trazendo para as telas – o suporte por excelência desde a Renascença – as marcas do suporte ancestral, o muro. Esses elementos já estavam presentes em todas as séries anteriores. Mas, agora, à força do contraste entre a opacidade da superfície impressa e a luz que atravessa a semi-transparência das telas, a oposição se materializa de modo mais evidente: sem o chassi convencional e expostas com as vértebras à mostra, círculos e elipses, se opondo à sua forma quadrada. Adquirem uma espécie de fragilidade construída para que o elogio do muro e do pigmento se manifeste de um modo esclarecedor.
São paredes de um claustro dilacerado pela laicização da vida e pelo rebaixamento das atividades que exigem destreza. Expostas numa capela ou numa sala, solicitam o silêncio, não de uma cerimônia, mas da oração a um mundo que, impossível de ser restaurado, pode amanhecer na lembrança" — Paulo Sergio Duarte, maio de 1993.
ESTRANHA PROXIMIDADE
"Num país onde boa parte da arte contemporânea se relaciona de modo direto ou indireto, interagindo ou reagindo, com o capítulo construtivista que marcou e ainda marca a sua arte, a pintura de Carlos Vergara vem desenvolvendo desde 1989 produz certa estranheza. Essa diferenciação se realiza pela forma como ele incorpora questões locais. Paradoxalmente, é estranha pelo fato de ser uma pintura brasileira sem se ligar a estereótipos da província. Quando recusamos os ícones que uma certa figuração explorou criando imagens exóticas de si mesma, passamos a admitir o esforço reflexivo dos trabalhos construtivistas e pós-construtivistas que se orientam por uma ordem conceitual onde qualquer elemento local se encontra mediado por tantas instâncias que passa desapercebido. Mas de que modo essa pintura pode se dizer portadora de uma estranha proximidade? Lembro-me de um pequeno texto de Walter Benjamim, entre os muitos textos curtos que narram seus sonhos, onde a ansiedade se assemelha à sensação que certos brasileiros experimentam diante dessas telas. No sonho ele se encontrava junto a um imenso muro de pedra, tão próximo que não permitia que ele visse o restante da construção; sua angústia crescia porque ele sabia que aquela pedra do muro era a Notre Dame. Estava junto à catedral e não podia vê-la porque não era possível recuar para ver o todo. Um verdadeiro pesadelo. Se não me falha a memória, Maurice de Candillac traduziu o título dessa pequena narrativa como Proche, trop proche.
Esta pintura de Vergara carrega esta proximidade excessiva. De início, seu procedimento sublinha seu caráter imediato: a monotipia das paredes de uma pequena fábrica de pigmentos de óxido de ferro, na cidade de Rio Acima, a meio caminho entre Belo Horizonte e Ouro Preto, se escolhermos pequenas estradas do interior, no estado de Minas Gerais. A presença desses tons pertence à paisagem dessa imensa região onde o ferro aflora no solo e nas encostas das montanhas. A população ali convive com essas cores da mesma forma que aqueles que vivem na Amazônia convivem com diversos tons de verde. Por razões históricas esses pigmentos se encontram, também, presentes na origem da pintura no Brasil, se excluímos as manifestações artísticas dos índios, de interesse estético-antropólogico. Encontramos estes pigmentos já na pintura do início do século XIX , na obra do Mestre Atayde nas igrejas dessa região. Há, portanto,essa presença cromática imediata da paisagem e da própria história da pintura.
A cor e o caráter imediato do procedimento não bastam para compreender essas pinturas, há a escala e uma inteligente inversão. Visualmente os tons terra, ferruginoso, ocre, vermelhão do óxido de ferro não são suficientes para transportar uma significativa parte do Brasil para essas telas. A generosidade de suas dimensões e o caráter propositalmente artificial, postiço, das estruturas em elipse que participam de sua sustentação, como vértebras expostas, também têm algo familiar e que temos dificuldade de aceitar como constituindo a nós mesmos: essa grandeza frágil. Falamos da paisagem mas as telas nos sugerem, evidentemente, um interior. Duplo movimento carregado de sentido: trazer para o lugar da arte como cena interior os valores cromáticos e a extensão do exterior. E evocar que valores objetivos ainda residem, incertos, como uma nebulosa subjetividade na consciência cultural do país.
Encontramos no passado e no presente estes valores dispersos em diversas obras de arte no Brasil, mas me parece que raramente reunidos num só trabalho. Há um investimento romântico nessa pintura de Vergara que parece acreditar que ali no fragmento, no pedaço de parede, pode estar o todo e que esse encontro não pode ser perturbado por uma racionalidade inibidora, mas capturado no instante mesmo da impressão das telas. Atual, o sublime aqui não pressupõe nenhuma transcendência, ao contrário, dirige na penumbra dessas telas o olhar para esse território onde nos encontramos de tal forma mergulhados que não o vemos" — Paulo Sergio Duarte, maio de 1995.
CARLOS VERGARA NO MAM
"Um dos principais artistas de sua geração, Carlos Vergara vem caracterizando sua produção mais recente por uma indagação muito particular sobre os limites do código pictórico, tendo como elemento propulsor não à circunscrição de seu fazer aos limites do atelier – com as ferramentas tradicionais do pintor – mas, pelo contrário, preferindo o embate direto com a natureza física e cultural do país de onde extrai seus registros, índices de sua existência real, distante do circuito institucionalizado da arte.
Um neoromântico de volta à natureza para descrevê-la e interpretá-la ao seus moldes, por exemplo, dois antigos pintores-viajantes? Felizmente não ou, pelo menos, não de todo. Embora romântico na essência, o movimento de Vergara rumo à natureza não visa interpretá-la mas sim deixar que ela se registre por si mesma, contando com artista apenas como uma espécie de “acesso”.
Sobre suporte prévia ou posteriormente trabalhado pelo artista, a natureza contamina o campo plástico através de índices de si mesma: fuligem, marcas de plantas, pegadas de animais... sinais de uma vida alheia à arte que, transportado para os espaços das galerias e museus, passam a interagir com o universo alto-centrado da busca da forma-pura, embora em nenhum momento deixem de sugerir suas origens mais remotas...
Estranhas na complexidade formal que as caracteriza, inquietantes em suas viagens e na configuração final que assumem quando trazidas para o campo institucional da arte, essas pinturas e monotipias de Carlos Vergara precisam ser vistas pelo público paulistano, que agora pode contemplá-las no espaço no Museu de Arte Moderna de São Paulo" — Museu de Arte Moderna de São Paulo.
CONVERSA ENTRE CARLOS VERGARA E LUIZ CAMILO OSORIO
1
Luiz Camilo Osorio: Ultimamente virou moda da tradição construtiva da arte brasileira, como se ela fosse responsável por qualquer ortodoxia poética que tive inibido a novidade e a invenção criativa. Ao invés de ver naquele momento, e nos seus desdobramentos posteriores, a realização de obras fundamentais para nossa história da arte, de um padrão de qualidade a ser seguido, atualizado e desenvolvido, tomam-no apenas segundo uma retórica formalista, que existiu, mas que é o que menos interessa. Como você, que veio de uma geração imediatamente posterior, que retomou a figuração – o grupo do Opinião 65 – mais que perseguiu um caminho próprio e corajoso na pintura nestes últimos 30 anos, percebe este passado recente e esta polêmica em torno da tradição construtiva? Mesmo que você não queira responder, acho importante começar com esta minha ressalva de que te colocaria, junto com a “Nova Figuração” de meados dos anos 60, vinculado à abertura experimental do neo-concretismo. E faço isto só para recusar certas “leituras” que cismam em desprezar o papel formador da nossa tradição construtiva. Dito isto, passemos para outros assuntos.
Li recentemente um texto do historiador Hubert Damish em que ele falava algo do tipo, ou a pintura mostra a sua necessidade no interior de nossa cultura contemporânea, ou considere-se historicamente superada, ou seja, não se trata apenas de pegar o pincel, as tintas e a tela, e pronto, há a pintura, mais de atualizar uma necessidade história dentro de uma cultura como a nossa, inflacionada de imagens. Como você, que é um pintor obstinado, vê está declaração? Desde a Bienal de 89 sua pintura tomou uma direção específica, lidando com pigmentos naturais, com procedimentos de impressão e impregnação que vão maturando na tela uma experiência pictórica que é, digamos, retirada do mundo e não inventada pelo pintor. Será que é isto mesmo, que é oferecido pela sua pintura é mais um deixar ver uma pele essencial do mundo do que o criar uma experiência pictural autônoma?
Carlos Vergara: Em 1989 meu trabalho não tomou sozinho uma nova direção, eu decidi dar nova direção por estar seguro que havia esgotado a série começada em 1980, onde abandono a figura e mergulho numa figura que tinha como procedimento uma “medição com cor” do espaço e da tela, dividindo com diagonais paralelas, formando uma grade. Havia chegado a exaustão; continuar seria me condenar a não ter mais a sensação de descoberta e tornar tudo burocrático. Só artesanato.
Em 1989 propus para mim, com desapego, me colocar num marco zero da pintura e olhar para fora e para dentro.
Fazer pintura significa aceitar o peso histórico de uma atividade que só não é anacrônica se contiver uma aventura, que supere a questão da imagem, que mexa com procedimento e tenha um projeto, mesmo assim a pintura de sempre que o suporte determina. Portanto é preciso “ler” o projeto e procedimento para saber se não é só mímica, historicamente superada.
Durante viagem, em 1995, quando “refizemos” parte da expedição Langsdorff, pelo interior do Brasil viajou conosco Michael Fahres, músico alemão que compunha com sons coletado da natureza, e ele havia gravado na costa da Espanha, cujas rochas tinham longuíssimas perfurações, onde as idas e vindas das ondas soavam como a respiração do planeta e era um som que tinha a idade do tempo e uma vertiginosa capacidade de te tocar em áreas obscuras, a não ser que fosses surdo do ouvido ou da alma.
Esse “Ready Made” natural deslocado e manipulado era e é pra mim pura música. Será que esse “deixar ver uma pelo essencial do mundo”, que você diz, e que é parte da minha pintura atual, não é uma experiência pictórica autônoma?
Do ponto de vista do planeta, da trajetória do planeta no universo, da idéia de tempo e tamanho desse universo, as questões da arte não têm importância. Já do ponto de vista do ser humano que vive neste planeta e neste universo, têm importância por ensinar a ver e imaginar e a imaginar e ver e capacitar a entender este planeta, sua trajetória no universo etc e etc.
A pintura quando deixa de ser enigma, catalizadora de áeras mais sutis do teu ser, deixa de ser necessária. Só é necessária uma arte que, por ser mobilizadora, justifique sua existência. É essa capacidade expressiva que lhe dá razão de ser.
Estou falando do ponto de vista do pintor. Para falar do ponto de vista do público deveríamos falar sobre as inúmeras formas de cegueira e insensibilidade.
LCO: Vergara, quanto à sua indagação se o “ready-made natural deslocado e manipulado”que é “pura música”não pode ser uma experiência pictórica autônoma, é claro que eu acho que sim, não obstante o fato de ele trazer para dentro desta experiência um resquício, do mundo, da referência, que é retrabalhada e resignificada. Portanto, é esta tenção entre ser algo que se sustente enquanto acontecimento pictórico e ser algo que te remeta simultaneamente para fora da pintura, o que mas me interessa nestes trabalhos. Desculpe trazer um dado pessoal para nossa discussão, mais parece-me pertinente. O meu pai, que não tem nenhuma proximidade com artes plásticas, viu uma pintura sua impregnada do chão e das cores ferruginosas de Minas e imediatamente interessou-se por ela. A sua alma itabirana, que é 90% ferro, foi tocada sem que nada fosse dito quanto ao procedimento ou à feitura do trabalho. Ele foi enviado para sua memória, o seu tempo, as suas cores, o seu mundo.
2
LCO: Mais de uma vez vi você falando de uma especificidade cultural, para usar um termo perigoso mas que não deve ser evitado, de uma brasilidade, relacionada à sua pintura. Sabendo-se que não se trata nem de uma nostalgia nacionalista, nem de uma apelação narrativa ligada às excentricidades do mercado, como esta questão aparece para você?
CV: No momento, essa questão de uma “brasilidade” no trabalho, eu vejo às vezes como inevitável. Não acho, porém, que seja importante.
Certa vez o saudoso Sergio Camargo falava de uma hipótese que ele levantava, se essas pequenas decorações geométricas dos frontões ou certas platibandas decoradas com argamassa nas casas de subúrbio e do interior, uma certa compulsão decorativa da arquitetura popular, não teria origem no sangue mouro misturado na Península Ibérica.
Aquela coisa geométrica do arabesco, talvez fosse uma atávica tendência construtiva nossa.
Se fosse andar por São Paulo, com o olho atento nos grafiti nas ruas, vai perceber diferenças gráficas bem claras em relação ao Rio; um “gótico” paulista com ângulos agudos e um “barroco” carioca de curvas e sinuosidades. O teu olho está empregnado da maneira e da luz do teu lugar e teu trabalho pode devolver isto, e se não filtrar o teu discurso dessa “cor local” em demasia pode até extrapolar e trabalhar contra. O que acho é que em certos momentos vem à superfície alguma coisa que poderia “localizar” o trabalho, e isso não pode tirar a força expressiva; ao contrário, fornecer um viés especial de uma questão universal. Kiefer é um exemplo, Serra outro.
Podem fazer parte dos mecanismos da experimentação, entre outras coisas, uma ritualização da repetição, uma palheta escolhida com critério, opções de escala específica, e essas seriam maneiras de passar uma informação subjacente que cria um campo especial para leitura do trabalho e isso pode ser exacerbado até ao uso de miçangas mais aí já é outra conversa...
Alguns artistas bem sei, filtram isso até o ponto onde o trabalho parece não ter origem e são coisas que me interessam muitíssimo, mas creio que outros não conseguem esconder a bandeira ou o esforço para escondê-la tornaria o trabalho por demais racional. Essa também é uma velha discussão.
LCO: Acho esse tema da identidade nacional dos mais instigantes e difíceis da arte no século XX. Sabemos muito bem o tipo de descaminho que a radicalização da questão nacional pode tomar; Por outro lado, recusá-la pura e simplesmente não me parece a resposta mais interessante para o desafio. Como tratá-la sem reducionismo, fazendo com que o mais próprio de uma cultura, de uma tradição cultural, possa integrar o outro, falar para além de si mesma, universalizar-se? Está é uma longa história desde o modernismo. Quem deu um tratamento dos mais geniais a isto foi o Guimarães Rosa; Em uma entrevista famosa com o critíco alemão, o Günter Lorenz, ele disse que a brasilidade é “die Sprache des Unaussprechlichen”, assim mesmo em alemão apesar da entrevista ter sido em português. Traduzindo do alemão teríamos algo como que a brasilidade é a expressão do inexpressível, ou linguagem do indizível, ou seja, algo que não se mostra diretamente, mas que está lá, que pulsa na obra. Porque será que ele usou a expressão em alemão? Logo ele, o gênio maior da língua?
Acho que esta pergunta deve ficar no ar, acreditando no fato de que seja lá o que for e como se expresse, a brasilidade não é nacionalista – em seguida ele mesmo diz que ela é um sentir-pensar. Fiquemos por ora com isso: um sentir-pensar.
Mudando para as artes plásticas, onde o tema fica ainda mais complicado, acho que discutir a brasilidade a partir de uma atávica tendência construtiva, que vem de nossa origem ibérica, mediterrânea, é um caminho interessante, sendo que não podemos esquecer, como você salientou, algo que vem do barroco e que tomou direções as mais variadas, chegando às vezes a confundir-se com mau gosto ou kitsch, o que é um absurdo. O Mario Pedrosa é que disse que fomos inventados pelo Barroco, que era a “vanguarda” no século XVI e por isso estávamos condenados ao moderno, a um olhar que não se volta para trás pois não existe nada lá, tudo está por fazer, a experimentação é nosso destino. É claro que toda essa especulação não resolve o problema dos modos de atualizar artisticamente esta questão. Isto vai acontecer sempre caso a caso, e independente do valor artístico.
Acho interessante esta sua afirmação da “ritualização da repetição”, afinal um rito sem mito instaura-se como ritmo, já disse o Argan a respeito do Pollock. E este ritmo não te parece similar a um sentir-pensar, que vai impregnar-se na visualidade, constituindo certas especificidades poéticas? Lembro sempre do Fabro escrevendo “entendo Shakespeare, posso até participar, mais não falo como Dante”. Acabei divagando mais do que queria, será que você pode falar mais sobre este tema, sobre a ritualização da repetição?
3
LCO: Gostaria de entrar na questão da técnica. Será que se você fizesse tudo no atelier, se não houvesse a impregnação do chão e dos fornos, o resultado da experiência pictórica seria a mesma? Não te parece que sem ser uma “documentação” ou “ilustração” de algo externo, este procedimento, que se entranha no trabalho, na pintura, cria uma certa tenção perceptiva que te faz ver o que não é pintura, ou seja, uma memória de mundo perdida e reencontrada?
Por falar em memória, como você vê e pensa a questão nestes trabalhos?
Você não acha que as tuas últimas pinturas, estas em que você entra com a Dolomita- que eu estou apanhando à beça- elas perdem uma certa temporalidade, são mais diretas, menos contemplativas? Será que dá pra se dizer que estes trabalhos conseguem ser pop e teatrais (dramáticos) simultaneamente?
Uma última questão relativa à técnica: depois de 10 anos trabalhando nas bocas de forno, quanto é acidente e quanto é intencional? O que te leva a entrar com cor no atelier depois de uma impregnação?
CV: Você me pergunta se fazendo tudo no atelier o resultado seria o mesmo: As monotipias feitas fora, seja nos fornos, em viagem ou com qualquer matriz, se estruturam no atelier. Quando são deslocados no contexto da impressão, recebem chassis, além das eventuais intervenções posteriores, com cor ou simplesmente como uma fixação mais rigorosa com resina, aí sim elas ganham corpo e densidade suficiente.
Não se esqueça que muitas das pinturas que você viu, não tem mais nem sinais da primeira impressão que deu origem ao trabalho. Em outros casos, a simples documentação de um momento de calor e fumaça são suficientemente eloquentes e justificam sua existência. Muitas vezes eu preciso entrar com uma cor ou outra ação, que tensione o trabalho e o faça funcionar.
Eu não tenho controle total das impregnações. Nem quero. É risco e chance. Uma escolha. Um acidente intencionalmente provocado.
Quanto ao tema da brasilidade, a mim interessa, como não interessa a outros, usar um idioma peculiar, que mesmo sendo, assim dizendo, erudito eu cuide do Brasil sem me ufanar – aliás porque não há tantos motivos. Nesse bem simbólico que é a pintura, quero que você se reconheça com bem ou mal estar. Esse meu prazer pessoal já disse, não acho de suma importância, nem mesmo formador de valor. Me preocupo mais com o que o discurso ultrapasse isso mantendo um sabor, uma temperatura, que mostre uma tradição sem que ela exista organizada.
Quanto à questão do tempo, há um tempo evocado pela construção da imagem, há um tempo que a própria pintura pede para poder ser lida, há um tempo físico que a secagem exige para cada ataque à tela. Há também um tempo de outra ordem, relativo ao momento da ação. Um tempo ligado ao gesto que só acontece intuído e com mensuração impossível.
A Dolomita me ajuda, nisso. É pó de mármore aplicado na tela com adesivo e é por si só um material expressivo e imediato.
Quantos aos trabalhos serem “pop” e teatrais, simultaneamente, eu não sei. Pop me enche o saco, mais acho que a Dolomita me dá um branco direto que apaga o que veio antes e que tem capilaridade para receber impregnação de outras cores e comente a própria criação do pintor e esculpe enquanto pinta e tem uma presença teatral que me intriga e talvez isso seja pop.
Cada tela é um cadinho de idéias de pintura e sobre pintura. Vou pensando sobre o que estou fazendo enquanto estou fazendo, e me coloco aberto para as contradições que surgem. Não tenho nenhuma tese para provar. Acho que daí vem às diferenças que existem entre as séries dos trabalhos que produzo. Não entro em pânico e até me agrada se o trabalho seguinte não se parecer com o anterior.
4
LCO: Tentando organizar um pouco mais nosso diálogo. De um modo geral, acho que nossas posições são coincidentes, quanto à questão do tempo, da brasilidade, da técnica, da autonomia do fenômeno pictórico. Neste último ponto, só tentei matizar um pouco a relação abstração/referencialidade através do procedimento das impregnações, que se dá fora do ateliê trazendo fisicamente o mundo para a tela. Não há, em função dos seus procedimentos, o tal “virar as costas para a natureza” do Mondrian, não é?
Você tem razão quanto ao fato da pintura ter de se sustentar por si só, por outro lado, acho que do mesmo modo que as colagens cubistas traziam um mundo real para o plano pictórico, criando certas tensões entre realidade e ficção, estes seus trabalhos criam passagens e isto, por mais escondido que fique, é interessante.
Não podemos ficar reticentes quanto a este tema da brasilidade pelo fato dele ser difícil e delicado. Temos que assumi-lo e pensá-lo, sem resolvê-lo, é claro. E demos alguns passos, por mais hesitantes para as diferentes tonalidades de nossas abordagens. A sua geração sofreu demais com esta questão do nacional-popular via CPC; já eu, com os meus parcos 36 anos, fiquei fora desta, para o bem ou para mal, depende da perspectiva. Por isto, o meu interesse é arqueológico e não ideológico; de pensar uma origem e um destino, e não de constituir ou “bandeiras” ideológicas – que já foram muito válidas, diga-se de passagem.
Nesta última resposta você menciona sua relação, a cada pincelada, com a história da pintura. Isto é bom e acho que a sua variedade poética tem a ver com isto. Naquele nosso último encontro em Macacú, no seu ateliê, fiquei surpreso, vendo tudo aquilo junto, com a quantidade de “acessos” e referências que seus trabalhos permitem. Tem momentos que sou transportado para Renascença – com umas diagonais do Uccello e alguns azuis venezianos – ou para momentos mais recentes. E nunca isto é feito para esgotar o trabalho mas para estabelecer diálogos. Nisto acho que tem algo do Frank Stella na sua poética. Eu também estou de saco cheio da pop, mas ela existe e ainda não foi suficientemente compreendida.
Por favor, não confunda estas considerações com nenhuma tese; artista ou critico com teses não dá muito certo, o que não quer dizer, muito pelo contrário, que não haja idéias, estas são sempre fundamentais, é o que move o pincel!
Você já acabou aquele trabalho “extraído” das ruas do Rio? Ele estava prometendo!
CV: Voltando à questão da repetição, o que eu quis dizer é que acho possível adensar o trabalho, adicionar mais sentido com a ritualização da repetição e não esvaziar de sentido se essa repetição for só mecânica. Da viagem à Índia que fiz, me lembro da forma de venerar Hanuman, uma deidade macaco importante personagem que ajudou Rhama a atravessar a floresta no épico Ramayana. As imagens representando um macaco são untadas com óleo e pigmento laranja a séculos, e já não tem mais forma, são só um impressionante acumulo alaranjado com dois olhinhos lá no fundo. Você só vê um monte alaranjado e sabe que lá dentro esta Hanuman. E esse alaranjado vai se espalhando entorno do lugar com as marcas das mãos que as pessoas deixam ao limpá-las da tinta que lhes sobrou.
A revisita que faço às Minas Gerais dos óxidos nestes 10 últimos anos posso dizer que tem sido um ritual que a cada vez renova o sentir-pensar.
Pode parecer um contracenso mas a repetição ajuda a refletir esvaziando de pensamento premeditado. Se trata de produzir uma coisa elaboradamente simples. Há uma diferença energética nisso.
No tempo em que a pintura era feita só por adição e escultura só por subtração, isso era mais fácil de se perceber
De 23 de agosto de 1999 a 4 de setembro de 1999
Fonte: Ateliê Carlos Vergara. Consultado pela última vez em 27 de fevereiro de 2023.
Crédito fotográfico: Wikipédia. Consultado pela última vez em 28 de fevereiro de 2023.
Carlos Augusto Caminha Vergara dos Santos (Santa Maria, Rio Grande do Sul, 1941), mais conhecido como Carlos Vergara, é um gravador, fotógrafo e pintor brasileiro. Distingue-se como um dos principais nomes das vanguardas neofigurativas das décadas de 1950 e 1960 e possui uma vasta produção artística. Vergara começou a trabalhar com cerâmica ainda jovem, um tempo depois, passou a dedicar-se ao artesanato de jóias de prata e cobre. Também atuou como pintor de murais, vitrais, cenógrafo e figurinista. Expôs extensivamente pelo Brasil e em outros países como Inglaterra, Japão, Portugal, Colômbia, Peru, entre outros. Além de suas exposições, Vergara também acumulou prêmios, como o prêmio Itamaraty, quando participou da IX Bienal de São Paulo. Entre outros, estão o prêmio ABCA - Prêmio Clarival do Prado Valladares; Prêmio Cultura do Estado do Rio de Janeiro; Prêmio ABCA Mario Pedrosa; Prêmio Henrique Mindlin - IAB/RJ; Prêmio Affonso Eduardo Reidy - IAB/GB; e o primeiro de pintura no I Salão de Pintura Jovem de Quitandinha, em Petrópolis - RJ.
Biografia – Itaú Cultural
Carlos Augusto Caminha Vergara dos Santos (Santa Maria, Rio Grande do Sul, 1941). Gravador, fotógrafo, pintor. Distingue-se como um dos principais nomes das vanguardas neofigurativas das décadas de 1950 e 1960 e possui uma vasta produção artística.
Ainda jovem, Carlos Vergara começa a trabalhar com cerâmica. Na década de 1950, transfere-se para o Rio de Janeiro, e, paralelamente à atividade de analista de laboratório, dedica-se ao artesanato de jóias de prata e cobre. Treze dessas peças são expostas na 7ª Bienal Internacional de São Paulo, em 1963. Nesse mesmo ano, volta-se para o desenho e a pintura, realizando estudos com Iberê Camargo (1914-1994).
Em 1965, participa da mostra Opinião 65 com três trabalhos: O general (1965), Vote (1965) e A patronesse e mais uma campanha paliativa (1965). A partir de 1966, Vergara incorpora ícones gráficos e elementos da arte pop à sua base expressionista. Ele faz seus primeiros trabalhos de arte aplicada, como o mural para a Escola de Saúde Pública de Manguinhos e a cenografia para o grupo de teatro Tablado, ambos no Rio de Janeiro, em 1966. Participa também da mostra Opinião 66, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM/Rio). Até 1967, produz pinturas figurativas, com pinceladas ágeis e traço caricatural, além de um tratamento expressionista. O crítico de arte Paulo Sérgio Duarte (1946) compara esses trabalhos às pinturas do grupo CoBrA, de artistas como Acir Juram (1914-1973) e Karel Appel (1921-2006), pelo "culto à liberdade expressiva, apropriação do desenho infantil, elogio do primitivo e do louco".
Também em 1967, organiza ao lado de colegas a mostra Nova Objetividade Brasileira, que procura fazer um balanço da vanguarda brasileira. Atua ainda como cenógrafo e figurinista de peças teatrais. Nesse período, produz pinturas figurativas, que revelam afinidades com o expressionismo e a arte pop.
Em 1968, passa a pintar sobre superfícies de acrílico, fazendo desaparecer as marcas artesanais de sua prática pictórica. No mesmo ano, explora novas linguagens e mostra o ambiente Berço esplêndido (1968), na Galeria Art Art, em São Paulo. O trabalho combina as investigações sensoriais de artistas como Hélio Oiticica (1937-1980) com a denúncia política.
Durante a década de 1970, utiliza a fotografia e filmes Super-8 para estabelecer reflexões sobre a realidade. O carnaval passa a ser também objeto de sua pesquisa. Atua ainda em colaboração com arquitetos, realizando painéis para diversos edifícios, empregando materiais e técnicas do artesanato popular.
Em 1972, publica o caderno de desenhos Texto em branco, pela editora Nova Fronteira. Durante os anos 1980, volta à pintura, produzindo quadros abstratos geométricos, nos quais explora, principalmente, tramas de losangos que determinam campos cromáticos. Utiliza em seus trabalhos pigmentos naturais, retirados de minérios, materiais que também usa na produção de monotipias, muitas delas realizadas em ambientes naturais, como o pantanal mato-grossense. Em 1997, realiza a série Monotipias do Pantanal, na qual explora o contato direto com o meio natural, transferindo para a tela texturas de pedras ou folhas, entre outros procedimentos.
Carlos Vergara tem uma produção artística contundente desde a década de 1950 e explora uma série de suportes distintos desde a gravura até a fotografia e a pintura.
Críticas
"A afirmação inicial do trabalho de Carlos Vergara prova o quanto 1964 foi divisor de águas na sociedade e na arte brasileira. (...) A marca do mestre (Iberê Camargo) refletia-se na disposição de dissolver a figura em constelações tanto nebulosas quanto rigorosas, densas e emblemáticas, no fio de prumo do abstrato. Mas os desenhos seguintes, entre 1964 e 1965, bastam para nos garantir que Vergara soubera também absorver as peripécias do sublevado ambiente em torno (...). Quando eram verticais as durezas de 1968, Vergara, ao mesmo tempo que ampliava o arsenal de seus materiais, associando-os ao suporte convencional, tornou mais óbvia a referência ao Brasil. A bandeira, as palmeiras, as bananeiras, o arco-íris, o índio e o verde-amarelo tomaram assento prolongado ali, como indícios de um olhar inquieto e crítico dirigido para um alvo preciso. Mas, logo adiante, à maneira de projeto, instantâneos da idéia indo e vindo, memória misturada à manobra, os trabalhos, particularmente os desenhos, assumiram rumo conceitual inequívoco" — Roberto Pontual (PONTUAL, Roberto. Entre dois séculos: arte brasileira do século XX na coleção Gilberto Chateaubriand. Prefácio de Gilberto Allard Chateaubriand e Antônio Houaiss. Apresentação de M. F. do Nascimento Brito. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 1987).
"Num país onde boa parte da arte contemporânea se relaciona de modo direto ou indireto, interagindo ou reagindo, com o capítulo construtivista que marcou e ainda marca a sua arte, a pintura que Carlos Vergara vem desenvolvendo desde 1989 produz certa estranheza. Essa diferenciação se realiza pela forma como ele incorpora questões locais. Paradoxalmente, é estranha pelo fato de ser uma pintura brasileira sem se ligar aos estereótipos da província. Quando recusamos os ícones que uma certa figuração explorou criando imagens exóticas de si mesma, passamos a admitir o esforço reflexivo dos trabalhos construtivistas e pós-construtivistas que se orientam por uma ordem conceitual onde qualquer elemento local se encontra mediado por tantas instâncias que passa desapercebido.
(...)
Há um investimento romântico nessa pintura de Vergara que parece acreditar que ali no fragmento, no pedaço de parede, pode estar o todo e que esse encontro não pode ser perturbado por uma racionalidade inibidora, mas capturado no instante mesmo da impressão das telas. Atual, o sublime aqui não pressupõe nenhuma transcendência, ao contrário, dirige na penumbra dessas telas o olhar para esse território onde nos encontramos de tal forma mergulhados que não o vemos" — Paulo Sérgio Duarte
DUARTE, Paulo Sérgio. "Estranha Proximidade". http:// www. carlosvergara.com. br/sobreframe. htm, 1995.
"(...) A obra atual de Vergara faz dele um dos mais inquietos artistas de sua geração. Recusando-se a restringir-se ao mero prazer de um formalismo esteticista, ele vai mais fundo em sua busca formal, ao traduzir através dela, com talento e originalidade, uma vontade de transformação que faz do próprio ato de pintar um gesto contínuo de prazer, expressão de um processo natural que emana da vida mesma. Como quem respira, ele arranca à própria vida a força de unir esse gesto à natureza, de onde extrai seus pigmentos de cor e uma energia que age como um halo que perpassa suas telas e que nelas une forma, cor, luz, calor, matéria, ação e inação.
Com isso Vergara se revela um pintor à procura de uma brasilidade reconhecível no que poderia haver de mais brasileiro, a terra, o pigmento da terra, a cor da terra. A textura que vem dessa terra, com que ele pinta como quem extrai das entranhas da natureza o mineral mais precioso, constrói uma impressionante gama de cores terrosas que acrescenta uma notável dose de dramaticidade à sua obra.
Essa carga dramática é a chave para se explicar seu lado barroco, esse claro-escuro que atravessa suas pinturas e as torna barrocas não só pelo sentido religioso com que elas acabam por impregnar-se, mas também quando ele apela para os sentidos como um chamamento imperioso. Isso se vê, por exemplo, nas grandes monotipias, que ele imprime como num ato lúdico, jogando com o pigmento, a cor e a textura que vêm dessa terra, para construir uma nova forma de expressão que faz da própria pintura um gesto de interpretação da vida. Correndo como um veio poderoso por suas obras, esse gesto a elas se incorpora como força material, uma força vital" — Emanoel Araujo (ARAUJO, Emanoel. Carlos Vergara: à procura da cor brasileira. In: Carlos Vergara: 89/99. São Paulo: Pinacoteca, 1999, p. 3).
Depoimentos
"Em 1989, meu trabalho não tomou sozinho uma nova direção, eu decidi dar uma nova direção por estar seguro que havia esgotado a série começada em 1980, onde abandono a figura e mergulho numa pintura que tinha como procedimento uma 'medição com cor' do espaço da tela, dividindo com diagonais paralelas, formando uma grade. Havia chegado à exaustão; continuar seria me condenar a não ter mais a sensação de descoberta e tornar tudo burocrático. Só artesanato.
Em 1989, propus para mim, com desapego, me colocar num marco zero da pintura e olhar para fora e para dentro.
Fazer pintura significa aceitar o peso histórico de uma atividade que só não é anacrônica se contiver uma aventura, que supere a questão da imagem, que mexa com o procedimento e tenha um projeto, mesmo assim a pintura de sempre que o suporte determina. Portanto, é preciso 'ler' o projeto e o procedimento para saber se não é só mímica, historicamente superada. (...)
A pintura, quando deixa de ser enigma, catalisadora de áreas mais sutis do teu ser, deixa de ser necessária. Só é necessária uma arte que, por ser mobilizadora, justifique sua existência. É essa capacidade expressiva que lhe dá razão de ser.
Estou falando do ponto de vista do pintor. Para falar do ponto de vista do público, deveríamos falar sobre as inúmeras formas de cegueira e insensibilidade. (...)
Quanto ao tema da brasilidade, a mim interessa, como não interessa a outros, usar um idioma peculiar, que mesmo sendo, assim dizendo, erudito, eu cuide do Brasil sem me ufanar - aliás, porque não há tantos motivos. Nesse bem simbólico que é a pintura, quero que você se reconheça com bem ou mal estar. Esse meu prazer pessoal, já disse, não acho de suma importância, nem mesmo formador de valor. Me preocupo mais com que o discurso ultrapasse isso mantendo um sabor, uma temperatura, que mostre uma tradição sem que ela exista organizada.
Quanto à questão do tempo, há um tempo evocado pela construção da imagem, há um tempo que a própria pintura pede para poder ser lida, há um tempo físico que a secagem exige para cada ataque à tela. Há também um tempo de outra ordem, relativo ao momento da ação. Um tempo ligado ao gesto, que só acontece intuído e com mensuração impossível. (...)
Cada tela é um cadinho de idéias de pintura e sobre pintura. Vou pensando sobre o que estou fazendo enquanto estou fazendo, e me coloco aberto para as contradições que surgem. Não tenho nenhuma tese para provar. Acho que daí vêm as diferenças que existem entre as séries dos trabalhos que produzo. Não entro em pânico e até me agrada se o trabalho seguinte não se parecer com o anterior. (...)
Voltando à questão da repetição, o que eu quis dizer é que acho possível adensar o trabalho, adicionar mais sentido com a ritualização da repetição, e não esvaziar de sentido se essa repetição for só mecânica. Da viagem à India que fiz, me lembro da forma de venerar Hanuman, uma deidade-macaco, importante personagem que ajudou Rhama a atravessar a floresta no épico Ramayana. As imagens representando um macaco são untadas com óleo e pigmento laranja há séculos, e já não têm mais forma, são só um impressionante acúmulo alaranjado com dois olhinhos lá no fundo. Você só vê um monte alaranjado e sabe que lá dentro está Hanuman. E esse alaranjado vai se espalhando em torno do lugar com as marcas das mãos que as pessoas deixam, ao limpá-las da tinta que lhes sobrou.
A revisita que faço às Minas Gerais dos óxidos nestes 10 últimos anos posso dizer que tem sido um ritual que a cada vez renova o sentir-pensar.
Pode parecer um contrasenso, mas a repetição ajuda a refletir, esvaziando de pensamento premeditado. Trata-se de produzir uma coisa elaboradamente simples. Há uma diferença energética nisso.
No tempo em que pintura era feita só por adição e escultura só por subtração, isso era mais fácil de se perceber". — Carlos Vergara (VERGARA, Carlos & OSORIO, Luiz Camilo. "Conversa entre Carlos Vergara e Luiz Camilo Osorio". In: Carlos Vergara: 89/99. São Paulo: Pinacoteca, 1999, p. 5-6, 21-22, 32).
Exposições Individuais
1966 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Fátima Arquitetura
1966 - Rio de Janeiro RJ - Individual, no MAM/RJ
1967 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Petite Galerie
1968 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Art Art
1969 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Petite Galerie
1972 - Paris (França) - Individual, na Air France
1972 - Rio de Janeiro RJ - Individual, no MAM/RJ
1973 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Paulo Bittencourt e Luiz Buarque de Holanda
1975 - Rio de Janeiro RJ - Individual com trabalhos da Coleção Gilberto Chateaubriand, na Galeria Maison de France
1978 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Petite Galerie
1978 - São Paulo SP - Carlos Vergara: desenho, pinturas, fotografias, na Galeria Arte Global
1980 - Rio de Janeiro RJ - Anotações sobre o Carnaval, na Galeria Hotel Méridien
1981 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Monica Filgueiras
1983 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Thomas Cohn
1983 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1984 - Londres (Inglaterra) - Individual, na Brazilian Centre Gallery
1984 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1985 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1987 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1988 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Thomas Cohn
1989 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1990 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria de Arte Ipanema
1990 - Rio de Janeiro RJ - Individual, no Paço Imperial
1991 - Belo Horizonte MG - Individual, no Itaú Cultural
1991 - Belo Horizonte MG - Individual, no Palácio das Artes
1991 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1992 - Lisboa (Portugal) - Obras Recentes 1989-1991, no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian
1992 - São Paulo SP - Individual, na Capela do Morumbi
1993 - Antuérpia (Bélgica) - Individual, na Galeria Francis Van Hoof
1993 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Goudar
1993 - Rio de Janeiro RJ - Individual, no CCBB
1993 - São Paulo SP - Carlos Vergara, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1994 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1995 - Paris (França) - Individual, na Galeria Debret
1995 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Paulo Fernandes
1997 - Rio de Janeiro RJ - Carlos Vergara: gravuras, na Fundação Castro Maia
1997 - São Paulo SP - Monotipias do Pantanal e Pinturas Recentes, no MAM/SP
1998 - Rio de Janeiro RJ - Carlos Vergara: trabalhos sobre papel, na GB Arte
1998 - Rio de Janeiro RJ - Os Viajantes, no Paço Imperial
1999 - São Paulo SP - Carlos Vergara 89/99, na Pinacoteca do Estado
2001 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Silvia Cintra Galeria de Arte
2001 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Nara Roesler
2003 - Porto Alegre RS - Carlos Vergara Viajante: obras de 1965 a 2003, no Santander Cultural
2003 - São Paulo SP - Carlos Vergara Viajante: obras de 1965 a 2003, no Instituto Tomie Ohtake
2003 - Vila Velha ES - Individual, no Museu Vale do Rio Doce
2004 - São Paulo SP - Carlos Vergara, na Monica Filgueiras Galeria de Arte
Exposições Coletivas
1963 - Lima (Peru) - Pintura Latinoamericana, no Instituto de Arte Contemporâneo
1963 - São Paulo SP - 7ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal
1965 - Paris (França) - Salon de La Jeune Peinture, no Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris
1965 - Rio de Janeiro RJ - Opinião 65, no MAM/RJ
1965 - Rio de Janeiro RJ - 14º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/RJ
1965 - São Paulo SP - 2ª Exposição do Jovem Desenho Nacional, no MAC/USP
1965 - São Paulo SP - Propostas 65, na Faap
1966 - Belo Horizonte MG - Vanguarda Brasileira, na UFMG. Reitoria
1966 - Lima (Peru) - Pintura Latino-Americana
1966 - Rio de Janeiro RJ - Opinião 66, no MAM/RJ
1966 - Rio de Janeiro RJ - Pare, na Galeria G4
1966 - Rio de Janeiro RJ - 1º Salão de Abril, no MAM/RJ
1966 - Rio de Janeiro RJ - 15º Salão Nacional de Arte Moderna
1966 - Salvador BA - 1ª Bienal Nacional de Artes Plásticas
1966 - São Paulo SP - 8 Artistas, no Atrium
1967 - Belo Horizonte MG - 22º Salão de Belas Artes da Cidade de Belo Horizonte, no MAP
1967 - Petrópolis RJ - 1º Salão Nacional de Pintura Jovem, no Hotel Quitandinha
1967 - Rio de Janeiro RJ - Nova Objetividade Brasileira, no MAM/RJ
1967 - Rio de Janeiro RJ - 3º O Rosto e a Obra, na Galeria Ibeu Copacabana
1967 - Rio de Janeiro RJ - Salão das Caixas, na Petite Galerie - prêmio O.C.A.
1967 - Rio de Janeiro RJ - 16º Salão Nacional de Arte Moderna
1967 - São Paulo SP - 9ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal - prêmio aquisição
1968 - Rio de Janeiro RJ - 17º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/RJ
1968 - Rio de Janeiro RJ - 6º Resumo de Arte JB, no MAM/RJ - Prêmio Resumo JB de Objeto
1968 - Rio de Janeiro RJ - Bandeiras na Praça, na Praça General Osório
1968 - Rio de Janeiro RJ - 1ª Feira de Arte do Rio de Janeiro, no MAM/RJ
1968 - Rio de Janeiro RJ - O Artista Brasileiro e a Iconografia de Massa, na Esdi
1968 - Rio de Janeiro RJ - O Rosto e a Obra, na Galeria Ibeu Copacabana
1969 - Rio de Janeiro RJ - 18º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/RJ - prêmio isenção de júri
1969 - Rio de Janeiro RJ - Salão da Bússola, no MAM/RJ
1970 - Belo Horizonte MG - Objeto e Participação, no Palácio das Artes
1970 - Medellín (Colômbia) - 2ª Bienal de Arte Medellín, no Museo de Antioquia
1970 - Rio de Janeiro RJ - 19º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/RJ
1970 - Rio de Janeiro RJ - 8º Resumo de Arte JB, no MAM/RJ - Prêmio Resumo JB de Desenho
1970 - Rio de Janeiro RJ - Pintura Contemporânea Brasileira, no MAM/RJ
1970 - São Paulo SP - 2º Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM/SP
1971 - Rio de Janeiro RJ - 9ª Premiação do IAB/RJ
1971 - Rio de Janeiro RJ - Exposição de Múltiplos, na Petite Galeria
1972 - Rio de Janeiro RJ - 10ª Premiação do IAB/RJ
1972 - Rio de Janeiro RJ - Domingos de Criação, no MAM/RJ
1972 - Rio de Janeiro RJ - Exposição, no MAM/RJ
1972 - São Paulo SP - Arte/Brasil/Hoje: 50 anos depois, na Galeria da Collectio
1973 - Rio de Janeiro RJ - Indagação sobre a Natureza: significado e função da obra de arte, na Galeria Ibeu Copacabana
1973 - São Paulo SP - Expo-Projeção 73, no Espaço Grife
1974 - Campinas SP - 9º Salão de Arte Contemporânea de Campinas, no MACC
1975 - Campinas SP - (Arte), no MACC
1975 - Campinas SP - Waltercio Caldas, Rubens Gerchman, Carlos Vergara, José Resende, no MACC
1975 - Rio de Janeiro RJ - A Comunicação segundo os Artistas Plásticos, na Rede Globo
1975 - Rio de Janeiro RJ - Mostra de Arte Experimental de Filmes Super-8, Audiovisual e Video Tape, na Galeria Maison de France
1976 - Salvador BA - Arte Brasileira dos Anos 60/70 na Coleção Gilberto Chateaubriand, no MAM/BA
1977 - Brasília DF - Arte Brasileira dos Anos 60/70 na Coleção Gilberto Chateaubriand, na Fundação Cultural do Distrito Federal
1977 - Recife PE - Arte Brasileira dos Anos 60/70 na Coleção Gilberto Chateaubriand, no Casarão de João Alfredo
1978 - São Paulo SP - O Objeto na Arte: Brasil anos 60, no MAB/Faap
1980 - Milão (Itália) - Quasi Cinema, no Centro Internazionale di Brera
1980 - Veneza (Itália) - 40ª Bienal de Veneza
1981 - Rio de Janeiro RJ - Do Moderno ao Contemporâneo: Coleção Gilberto, no MAM/RJ
1981 - Rio de Janeiro RJ - Universo do Carnaval: imagens e reflexões, na Acervo Galeria de Arte
1982 - Lisboa (Portugal) - Brasil 60 Anos de Arte Moderna: Coleção Gilberto Chateaubriand, no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão
1982 - Lisboa (Portugal) - Do Moderno ao Contemporâneo: Coleção Gilberto Chateaubriand, na Fundação Calouste Gulbenkian
1982 - Londres (Reino Unido) - Brasil 60 Anos de Arte Moderna: Coleção Gilberto Chateaubriand, na Barbican Art Gallery
1982 - Rio de Janeiro RJ - Contemporaneidade: homenagem a Mário Pedrosa, no MAM/RJ
1983 - Rio de Janeiro RJ - 13 Artistas/13 Obras, na Galeria Thomas Cohn
1983 - Rio de Janeiro RJ - 3 x 4 Grandes Formatos, no Centro Empresarial Rio
1983 - Rio de Janeiro RJ - A Flor da Pele: pintura e prazer, no Centro Empresarial Rio
1983 - Rio de Janeiro RJ - Auto-Retratos Brasileiros, na Galeria de Arte Banerj
1983 - São Paulo SP - Imaginar o Presente, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1984 - Londres (Inglaterra) - Portraits of a Country: brazilian modern art from the Gilberto Chateaubriand Collection, na Barbican Art Gallery
1984 - Rio de Janeiro RJ - Antonio Dias, Carlos Vergara, Roberto Magalhães e Rubens Gerchman, na Galeria do Centro Empresarial Rio
1984 - São Paulo SP - Coleção Gilberto Chateaubriand: retrato e auto-retrato da arte brasileira, no MAM/SP
1984 - São Paulo SP - Tradição e Ruptura: síntese de arte e cultura brasileiras, na Fundação Bienal
1985 - Brasília DF - Brasilidade e Independência, no Teatro Nacional de Brasília/Fundação Cultural de Brasília
1985 - Porto Alegre RS - Iberê Camargo: trajetória e encontros, no Margs
1985 - Rio de Janeiro RJ - Ciclo de Exposições sobre Arte no Rio de Janeiro/Opinião 65, na Galeria de Arte Banerj
1985 - Rio de Janeiro RJ - Opinião 65, Galeria de Arte Banerj
1985 - São Paulo SP - 18ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal
1985 - São Paulo SP - Arte Novos Meios/Multimeios: Brasil 70/80, no MAB/SP
1985 - São Paulo SP - Destaques da Arte Contemporânea Brasileira, no MAM/SP
1986 - Brasília DF - Iberê Camargo: trajetória e encontros, no Teatro Nacional de Brasília
1986 - Rio de Janeiro RJ - 1ª Mostra Christian Dior de Arte Contemporânea: pintura, no Paço Imperial
1986 - Rio de Janeiro RJ - Iberê Camargo: trajetória e encontros, no MAM/RJ
1986 - Rio de Janeiro RJ - Mostra Christian Dior de Arte Contemporânea: pintura, no Paço Imperial
1986 - São Paulo SP - Coletiva, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1986 - São Paulo SP - Iberê Camargo: trajetória e encontros, no Masp
1987 - Rio de Janeiro RJ - Ao Colecionador: homenagem a Gilberto Chateaubriand, no MAM/RJ
1987 - Rio de Janeiro RJ - Nova Figuração Rio/Buenos Aires, na Galeria do Instituto Cultural Brasil-Argentina
1988 - Rio de Janeiro RJ - O Eterno é Efêmero, na Petite Galerie
1988 - São Paulo SP - 63/66 Figura e Objeto, na Galeria Millan
1989 - São Paulo SP - 20ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal
1989 - São Paulo SP - Pintura Brasil Século XIX e XX: obras do acervo Banco Itaú, na Itaugaleria
1990 - Brasília DF - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte
1990 - Rio de Janeiro RJ - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte Contemporânea
1990 - São Paulo SP - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte Contemporânea, na Fundação Brasil-Japão
1990 - Tóquio (Japão) - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte Contemporânea
1990 - Atami (Japão) - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte Contemporânea
1990 - Sapporo (Japão) - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte Contemporânea, na Fundação Brasil-Japão
1991 - Curitiba PR - 48º Salão Paranaense, no MAC/PR
1991 - Rio de Janeiro RJ - Imagem sobre Imagem, no Espaço Cultural Sérgio Porto
1992 - Paris (França) - Diversité Latino Americaine, na Galerie 1900/2000
1992 - Rio de Janeiro RJ - 1º A Caminho de Niterói: Coleção João Sattamini, no Paço Imperial
1992 - Rio de Janeiro RJ - Brazilian Contemporary Art, na EAV/Parque Lage
1992 - Rio de Janeiro RJ - Coca-Cola 50 Anos com Arte, no MAM/RJ
1992 - Rio de Janeiro RJ - ECO Art, no MAM/RJ
1992 - Rio de Janeiro RJ e São Paulo SP - Coca-Cola 50 Anos com Arte, no MAM/RJ e no MAM/SP
1992 - Santo André SP - Litogravura: métodos e conceitos, no Paço Municipal
1992 - São Paulo SP - Anos 60/70: Coleção Gilberto Chateubriand - MAM/RJ, na Galeria de Arte do Sesi
1992 - São Paulo SP - Coca-Cola 50 Anos com Arte (1992 : São Paulo, SP) - Museu de Arte Moderna (Ibirapuera, São Paulo, SP)
1993 - Rio de Janeiro RJ - Arte Erótica, no MAM/RJ
1993 - Rio de Janeiro RJ - Brasil, 100 Anos de Arte Moderna, no Mnba
1993 - Rio de Janeiro RJ - Emblemas do Corpo: o nu na arte moderna brasileira, no CCBB
1993 - São Paulo SP - O Desenho Moderno no Brasil: Coleção Gilberto Chateaubriand, na Galeria de Arte do Sesi
1994 - Penápolis SP - O Efêmero na Arte Brasileira: anos 60/70, na Itaugaleria
1994 - Rio de Janeiro RJ - O Desenho Moderno no Brasil: Coleção Gilberto Chateubriand, no MAM/RJ
1994 - Rio de Janeiro RJ - Trincheiras: arte e política no Brasil, no MAM/RJ
1994 - São Paulo SP - Bienal Brasil Século XX, na Fundação Bienal
1994 - São Paulo SP - O Efêmero na Arte Brasileira: anos 60/70, no Itaú Cultural
1995 - Rio de Janeiro RJ - Libertinos/Libertários
1995 - Rio de Janeiro RJ - Limites da Pintura, no Conjunto Cultural da Caixa
1995 - Rio de Janeiro RJ - Opinião 65: 30 anos, no CCBB
1995 - São Paulo SP - O Brasil de Hoje no Espelho do Século XIX: artistas alemães e brasileiros refazem a Expedição Langsdorff, no Masp
1996 - Brasília DF - Coletiva, na Galeria Referência
1996 - Brasília DF - O Efêmero na Arte Brasileira: anos 60/70, na Itaugaleria
1996 - Goiânia GO - Coletiva, na Fundação Jaime Câmara
1996 - Niterói RJ - Arte Contemporânea Brasileira na Coleção João Sattamini, no MAC/Niterói
1996 - Palmas TO - Exposição Inaugural do Espaço Cultural de Palmas, no Espaço Cultural de Palmas
1996 - Rio de Janeiro RJ - Coletiva, na Galeria Tolouse
1996 - Rio de Janeiro RJ - O Brasil de Hoje no Espelho do Século XIX: artistas alemães e brasileiros refazem a Expedição Langsdorff, no Fundação Casa França-Brasil
1996 - Rio de Janeiro RJ - Petite Galerie 1954-1988, Uma Visão da Arte Brasileira, no Paço Imperial
1996 - São Paulo SP - Coletiva, na Galeria A Estufa
1997 - Porto Alegre RS - 1ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul, na Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul
1997 - Porto Alegre RS - Vertente Cartográfica, na Usina do Gasômetro
1997 - Rio de Janeiro RJ - Petite Galerie 1954-1988: uma visão da arte brasileira, no Paço Imperial
1997 - Rio de Janeiro RJ - Uma Conversa com Rugendas, nos Museus Castro Maya
1997 - São Paulo SP - Arte Cidade: a cidade e suas histórias, na Estação da Luz, nas Indústrias Matarazzo e no Moinho Central
1997 - São Paulo SP - Arte Cidade: percurso
1997 - São Paulo SP - Bar des Arts: leilão nº 1, na Aldeia do Futuro
1997 - São Paulo SP - Galeria Brito Cimino Arte Contemporânea e Moderna
1998 - Niterói RJ - Espelho da Bienal, no MAC/Niterói
1998 - Rio de Janeiro RJ - Arte Brasileira no Acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo: doações recentes 1996-1998, no CCBB
1998 - Rio de Janeiro RJ - Poéticas da Cor, no Centro Cultural Light
1998 - Rio de Janeiro RJ - Terra Incógnita, no CCBB
1998 - Rio de Janeiro RJ - Trinta Anos de 68, no CCBB
1998 - São Paulo SP - Fronteiras, no Itaú Cultural
1998 - São Paulo SP - O Moderno e o Contemporâneo na Arte Brasileira: Coleção Gilberto Chateaubriand - MAM/RJ, no Masp
1999 - Curitiba PR - Coletiva, na Galeria Fraletti e Rubbo
1999 - Rio de Janeiro RJ - Cotidiano/Arte. Objeto Anos 60/90, no MAM/RJ
1999 - Rio de Janeiro RJ - Mostra Rio Gravura: Coleção Armando Sampaio: gravura brasileira, no Centro de Artes Calouste Gulbenkian
1999 - Rio de Janeiro RJ - Mostra Rio Gravura: Gravura Moderna Brasileira: acervo Museu Nacional de Belas Artes, no MNBA
1999 - São Paulo SP - Cotidiano/Arte. O Consumo - Metamorfose do Consumo, no Itaú Cultural
1999 - São Paulo SP - Cotidiano/Arte. O Consumo - Beba Mona Lisa, no Itaú Cultural
1999 - São Paulo SP - Litografia: fidelidade e memória, no Espaço de Artes Unicid
1999 - São Paulo SP - Cotidiano/Arte. O Objeto - Anos 60/90, no Itaú Cultural
2000 - Brasília DF - Exposição Brasil Europa: encontros no século XX, no Conjunto Cultural da Caixa
2000 - Lisboa (Portugal) - Século 20: arte do Brasil, na Fundação Calouste Gulbenkian. Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão
2000 - Niterói RJ - Pinturas na Coleção João Sattamini, no MAC/Niterói
2000 - Rio de Janeiro RJ - Antonio Dias, Carlos Vergara, Roberto Magalhães, Rubens Gerchman, na GB Arte
2000 - Rio de Janeiro RJ - Situações: arte brasileira anos 70, na Fundação Casa França-Brasil
2000 - São Paulo SP - Brasil + 500 Mostra do Redescobrimento, na Fundação Bienal
2001 - Belo Horizonte MG - Do Corpo à Terra: um marco radical na arte brasileira, no Itaú Cultural
2001 - Goiânia GO - 1º Salão Nacional de Arte de Goiás, no Flamboyant Shopping Center
2001 - Rio de Janeiro RJ - A Imagem do Som de Antônio Carlos Jobim, no Paço Imperial
2001 - São Paulo SP - Anos 70: Trajetórias, no Itaú Cultural
2002 - Niterói RJ - Coleção Sattamini: modernos e contemporâneos, no MAC/Niterói
2002 - Niterói RJ - Diálogo, Antagonismo e Replicação na Coleção Sattamini, no MAC/Niterói
2002 - Passo Fundo RS - Gravuras: Coleção Paulo Dalacorte, no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider
2002 - Porto Alegre RS - Gravuras: Coleção Paulo Dalacorte, no Museu do Trabalho
2002 - Rio de Janeiro RJ - Artefoto, no CCBB
2002 - Rio de Janeiro RJ - Caminhos do Contemporâneo 1952-2002, no Paço Imperial
2002 - Rio de Janeiro RJ - Caminhos do Contemporâneo 1952-2002, no Paço Imperial
2002 - Rio de Janeiro RJ - Identidades: o retrato brasileiro na Coleção Gilberto Chateaubriand, no MAM/RJ
2002 - São Paulo SP - 4º Artecidadezonaleste, no Sesc/Belenzinho
2002 - São Paulo SP - Mapa do Agora: arte brasileira recente na Coleção João Sattamini do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, no Instituto Tomie Ohtake
2002 - São Paulo SP - Portão 2, na Galeria Nara Roesler
2003 - Brasília DF - Artefoto, no CCBB
2003 - Rio de Janeiro RJ - Autonomia do Desenho, no MAM/RJ
2003 - Rio de Janeiro RJ - Bandeiras do Brasil, no Museu da República
2003 - Rio de Janeiro RJ - Projeto em Preto e Branco, na Silvia Cintra Galeria de Arte
2003 - São Paulo SP - A Subversão dos Meios, no Itaú Cultural
2003 - São Paulo SP - Arte e Sociedade: uma relação polêmica, no Itaú Cultural
2003 - Vila Velha ES - O Sal da Terra, no Museu Vale do Rio Doce
2004 - Rio de Janeiro RJ - 30 Artistas, no Mercedes Viegas Escritório de Arte
2004 - São Paulo SP - Arte Contemporânea no Ateliê de Iberê Camargo, no Centro Universitário Maria Antonia
2004 - São Paulo SP - O Preço da Sedução: do espartilho ao silicone, no Itaú Cultural
Fonte: CARLOS Vergara. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2023. Acesso em: 27 de fevereiro de 2023. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7
---
Biografia – Wikipédia
Carlos Augusto Caminha Vergara dos Santos (Santa Maria, 29 de novembro de 1941) é um gravador, fotógrafo e pintor brasileiro, conhecido como um dos principais representantes do movimento artístico da Nova Figuração no Brasil. Aos 2 anos de idade muda-se para São Paulo, na ocasião da transferência de seu pai, reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Em 1954 mudou-se para o Rio de Janeiro.
Anos 60
Estuda química e em 1959 ingressa por concurso na Petrobrás. Paralelamente à atividade de analista de laboratório, dedica-se ao artesanato de jóias, cujo resultado expõe em 1963, na VII Bienal Internacional de São Paulo. No mesmo ano tornou-se aluno de Iberê Camargo no Instituto de Belas Artes do Rio de Janeiro. Logo torna-se seu assistente. Em 1964 o Vergara casou-se com a atriz Marieta Severo. Em 1965 o casamento já estava acabando quando, por intermédio do ator Hugo Carvana, Marieta seria apresentada junto com Carlos Vergara ao músico Chico Buarque, com quem se casaria mais tarde, separando-se de Vergara.
Em 1965 participa da mostra Opinião 65 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A exposição é considerada um marco na história da arte brasileira, ao evidenciar a postura crítica de jovens artistas diante da realidade social e política do momento.
No ano seguinte ganha o concurso para execução de um mural da Escola Nacional de Saúde Pública no Rio de Janeiro, projeto que inicia sua aproximação à arquitetura; participa da exposição Opinião 66, executa seus primeiros trabalhos como cenógrafo e faz também sua primeira exposição individual. Em 1967 foi um dos organizadores da mostra Nova Objetividade Brasileira no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
Em 1969 é um dos artistas selecionados para a X Bienal de São Paulo, conhecida como a Bienal do Boicote, quando em reprovação ao Ato Institucional n. 5, diversos artistas recusaram-se a participar. No mesmo ano faria parte de uma exposição organizada pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde os artistas que boicotaram a X Bienal seriam exibidos. Esta exposição foi fechada pelo Departamento Cultural do Ministério de Relações Exteriores apenas algumas horas antes da abertura. Vergara foi um dos fundadores do braço brasileiro da Associação Internacional de Artistas Plásticos (AIAP), aniquilado pela censura do governo militar.
Anos 70
A década de 70 marca a mudança de foco na arte de Carlos Vergara, que passa a utilizar a fotografia e filmes Super-8 em sua obra, ao mesmo tempo que volta sua pesquisa para o carnaval de rua do Rio de Janeiro, sendo seu principal objeto o Bloco Cacique de Ramos. Também não deixa de lado os trabalhos decorrentes da sua experimentação com materiais industriais, especialmente o papelão.
Intensifica seu trabalho em conjunto com arquitetos, desenvolvendo projetos para edifícios públicos, bancos e lojas. Destacam-se os premiados painéis feitos para as agências da Varig em Paris e São Paulo, além de outros feitos para as lojas da Cidade do México, Nova York, Miami, Madrid, Montreal, Genebra, Joanesburgo e Tóquio. Começa então a empregar materiais e técnicas do artesanato popular brasileiro.
Em 1972, no lugar de uma exposição individual prevista para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, posiciona-se criticamente à realidade política brasileira vivida na época, propondo uma mostra coletiva que exibe trabalhos de Hélio Oiticica, Roberto Magalhães, Caetano Veloso, Ivan Cardoso, Waltércio Caldas, dentre diversos outros artistas.
Em 1973 inaugura ateliê com amigos arquitetos e fotógrafos que mais tarde se torna um escritório de arquitetura e arte, com atuação centrada em projetos de arquitetura teatral e shopping centers.
Em 1975 figura no conselho editorial da revista Malasartes, em 77 participa da fundação da Associação Brasileira de Artistas Plásticos Profissionais e em 78 a Funarte edita o livro Carlos Vergara, como parte da coleção Arte Brasileira Contemporânea.
Anos 80
Em junho de 1980 participa da 39ª Bienal de Veneza, onde expõe um desenho de grandes dimensões, com o qual parece encerrar seu trabalho de documentação do carnaval.
Os anos 80 marcam a retomada da pintura pelo artista, quando trabalham formas geométricas que derivam da sua pesquisa sobre o carnaval, iniciada na década anterior.
Em 1988 monta atelier em Cachoeiras de Macacu, município do estado do Rio de Janeiro, onde passa maior parte do tempo. Em 1989 passa a trabalhar com pigmentos naturais e minérios e a utilizar técnicas de monotipia sobre diferentes matrizes. Participa da 20ª Bienal de São Paulo com grandes painéis pintados com óxido de ferro.
Anos 90
No início dos anos 90 realiza diversas mostras individuais, dentre elas Obras Recentes 1989 - 1991 na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa.
Em 1992 monta instalação na Capela do Morumbi, em São Paulo. No ano seguinte, a instalação foi montada novamente no Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro.
Em 94 participa da Bienal Brasil Século XX. É convidado pelo Instituto Goethe a integrar o grupo de artistas brasileiros e alemães a refazer parte do percurso da Expedição Langsdorff. O resultado da expedição foi exposto em exposição na Casa França Brasil, Rio de Janeiro.
Entre 1996 e 1997 realiza a série Monotipias do Pantanal, premiada em 1998 pela Associação Brasileira de Críticos de Arte. Em 99 a Pinacoteca do Estado de São Paulo organiza mostra antológica Carlos Vergara 88/99.
Anos 2000
Participa em 2000 da coletiva Brasil + 500: Mostra do Redescobrimento na Fundação Bienal e Século 20: Arte do Brasil no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, Lisboa.
Em 2002 cria uma intervenção na praça da estação do metrô do Brás, em São Paulo, no projeto Arte/Cidade Zona Leste. No mesmo ano tem sala especial na mostra ArteFoto no Centro Cultural Banco do Brasil onde sua série Cacique de Ramos: Iguais Diferentes ganha destaque.
Em 2003 a primeira grande retrospectiva de seu trabalho é apresentada no Santander Cultural, Porto Alegre, seguindo para o Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo e Museu Vale do Rio Doce, em Vila Velha.
No ano de 2008 lança o livro Carlos Vergara com ensaio fotográfico realizado entre 1972 e 1976, com registros do carnaval do Rio de Janeiro.
Anos 2010
Em 2010 participa de sua 10ª Bienal. No ano de 2012 apresenta a exposição Liberdade, no Memorial da Resistência de São Paulo, cujo artista reflete sobre a implosão do Complexo Penitenciário Frei Caneca, no Rio de Janeiro. Em 2014 apresentou a exposição Sudário, seguida de lançamento de livro.
Bienais
2011 - 8ª Bienal do Mercosul – Além Fronteiras, Porto Alegre
2010 - 29 ª Bienal de São Paulo, Fundação Bienal de São Paulo
1997 - 1ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul, na Fundação Bienal de Artes Visuais do MERCOSUL, Porto Alegre
1994 - Bienal Brasil Século XX, Fundação Bienal, São Paulo
1989 - 20ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal, São Paulo
1985 - 18ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal, São Paulo
1980 - 40ª Bienal de Veneza, Veneza - Itália
1970 - 2ª Bienal de Arte Medellín, Medellín - Colômbia
1967 - 9ª Bienal Internacional de São Paulo, Fundação Bienal - Prêmio aquisição, São Paulo
1963 - 7ª Bienal Internacional de São Paulo, Fundação Bienal, São Paulo
Prêmios
Ano - Prêmio
2014 - Prêmio ABCA - Prêmio Clarival do Prado Valladares
2009 - Prêmio Cultura do Estado do Rio de Janeiro
1997 - Prêmio ABCA Mario Pedrosa
1972 - Prêmio Henrique Mindlin - IAB/RJ
1971 - Prêmio Affonso Eduardo Reidy - IAB/GB
1967 - Prêmio Itamaraty
1967 - Primeiro Prêmio de Pintura no I Salão de Pintura Jovem de Quitandinha, Petrópolis - RJ
1966 - Concurso para execução de um mural no auditório da Escola Nacional de Saúde Pública - RJ
1966 - Prêmio Piccola Galeria - Instituto Italiano de Cultura
Fonte: Wikipédia. Consultado pela última vez em 27 de fevereiro de 2023.
---
Biografia – Ateliê Carlos Vergara
Nascido na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 1941, Carlos Vergara iniciou sua trajetória nos anos 60, quando a resistência à ditadura militar foi incorporada ao trabalho de jovens artistas. Em 1965, participou da mostra Opinião 65, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, um marco na história da arte brasileira, ao evidenciar essa postura crítica dos novos artistas diante da realidade social e política da época. A partir dessa exposição se formou a Nova Figuração Brasileira, movimento que Vergara integrou junto com outros artistas, como Antônio Dias, Rubens Gerchmann e Roberto Magalhães, que produziram obras de forte conteúdo político. Nos anos 70, seu trabalho passou por grandes transformações e começou a conquistar espaço próprio na história da arte brasileira, principalmente com fotografias e instalações. Desde os anos 80, pinturas e monotipias têm sido o cerne de um percurso de experimentação. Novas técnicas, materiais e pensamentos resultam em obras contemporâneas, caracterizadas pela inovação, mas sem perder a identidade e a certeza de que o campo da pintura pode ser expandido. Em sua trajetória, Vergara realizou mais de 180 exposições individuais e coletivas de seu trabalho.
Anos 60
CARLOS Augusto Caminha VERGARA dos Santos nasceu em Santa Maria (RS), em 29 de novembro de 1941. Aos 2 anos de idade, muda-se para São Paulo, por força da transferência de seu pai, reverendo da Igreja Anglicana Episcopal do Brasil. Naquela cidade, estudou no Colégio Mackenzie e, em 1954, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro.
Completa o ginásio no Colégio Brasileiro de Almeida e lá é estimulado à experimentação de várias atividades criativas, além de receber orientação profissional. Estuda química e, em 1959, ingressa por concurso na Petrobras, onde permanece até 1966 como analista de laboratório. Ainda no colégio, inicia o artesanato de jóias em cobre e prata, cujo resultado expõe em 1963, na VII Bienal Internacional de São Paulo. Nessa época, além do trabalho na Petrobras, sua atividade principal era o voleibol, tendo disputado pelo Clube Fluminense vários torneios.
A aceitação de suas jóias na Bienal leva-o a considerar a arte como atividade mais permanente. Nesse mesmo ano, tornou-se aluno do pintor Iberê Camargo, também gaúcho, no Instituto de Belas Artes (RJ). Passa, em seguida, a ser assistente do artista, trabalhando em seu ateliê.
Em maio de 1965, participa do XIV Salão Nacional de Arte Moderna (RJ). Conhece o artista Antonio Dias, integrante do mesmo Salão, que o apresenta ao marchand Jean Boghici. Este o convida a participar da mostra Opinião 65, que organiza com Ceres Franco no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Inaugurada em 12 de agosto, a exposição se torna importante marco na história da arte brasileira, ao evidenciar a postura crítica de jovens artistas diante da realidade social e política do momento. Em dezembro do mesmo ano, integra a mostra Propostas 65, na Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo, com as obras Eleição, Discussão sobre Racismo e O General. Participa ainda do Salon de la Jeune Peinture, no Musée d’Arte Moderne de la Ville de Paris, com Antonio Dias e Rubens Gerchman.
Em março de 1966, com o apoio técnico dos arquitetos André Lopes e Eduardo Oria, vence o concurso para execução de um mural no auditório da Escola Nacional de Saúde Pública, em Manguinhos (RJ), com projeto de painel realizado com tubos de PVC, medindo 4m de altura por 18m de comprimento. O júri é composto por Flávio de Aquino, Lygia Clark e Lygia Pape. Este projeto inicia sua aproximação à arquitetura, atividade paralela ao processo artístico, presente até hoje em sua vida.
Em abril, recebeu o Prêmio Piccola Galeria, do Instituto Italiano de Cultura, destinado aos jovens destaques brasileiros nas artes plásticas. Participa do evento de inauguração da Galeria G4, na rua Dias da Rocha 52 (RJ), espaço projetado pelo arquiteto Sérgio Bernardes e dirigido pelo fotógrafo norte-americano David Zingg. Nesse dia, Vergara, Antonio Dias, Pedro Escosteguy, Rubens Gerchman e Roberto Magalhães realizam um happening com ampla repercussão na cidade. Sobre seu trabalho na exposição, Vergara comenta:
“Nesse happening eu chegava de carro e descia com uma pasta de executivo. Eu havia preparado uma parede no fundo da galeria e, por trás dela, tinha deixado uma frase pronta e um recorte fotográfico de dois olhos muito severos olhando para a frente. Eu abria a pasta e tirava uma máquina de furar. Desenhava um ponto a 80cm do chão e escrevia ‘Olhe aqui’. As pessoas se abaixavam e olhavam pelo buraco. Lá dentro estava escrito: ‘O que é que você está fazendo nessa posição ridícula, olhando por um buraquinho, incapaz de olhar à sua volta, alheio a tudo o que está acontecendo?"
Ainda em 1966, integra a coletiva Pare: Vanguarda Brasileira, organizada por Frederico Morais, na Reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais. No cartaz da exposição, Frederico escreve: “Para Vergara, o quadro deixou de ser um deleite, prazer ocioso ou egoístico, para transformar-se numa denúncia. Não foge nem esconde esta contingência – faz uma pintura em situação.”
No mesmo impresso, Vergara declara, ainda:
“Todos são obrigados a tomar uma posição. Será possível ficar calado diante de uma realidade onde uns poucos oprimem a muitos? Será possível voltar os olhos enquanto os valores se invertem e ficar procurando formas de divagação? Essa é uma posição que não me agrada (...) A condição de premência em que se vive me obriga a ser mais conseqüente, mais objetivo e às vezes mais temporal dentro de minha arte. Só repudiar uma estética convencional é repudiar ser inconseqüente. Repudiar, porém, essa estética convencional é para sacudir os espectadores e pedir deles também uma atitude nova; é colocar o problema em questão. (...) Arte é comunicação. Esse jogo não tem regras.”
Em agosto, faz parte da mostra Opinião 66, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, organizada por Carmen Portinho, Ceres Franco e Jean Boghici, com a obra Meu Sonho aos 18 Anos. No mesmo mês, a revista Realidade publica artigo assinado por Vera e Mário Pedrosa sobre os jovens artistas atuantes no Rio de Janeiro Antonio Dias, Vergara, Gerchman, Magalhães e Escosteguy, com ensaio fotográfico de David Zingg. Em outubro, estréia a peça teatral Andócles e o Leão, de Bernard Shaw, montada pelo Grupo O Tablado, com direção de Roberto de Cleto, cenários de Vergara e figurinos de Thereza Simões. Esta é sua primeira participação como cenógrafo, atividade que continuará a desenvolver durante a década de 1960.
Encerra o ano com exposição individual na Fátima Arquitetura Interiores (RJ), onde apresenta desenhos realizados entre 1964 e 1966, como Le Bateau ou A Caixa dos Sozinhos, uma referência à boate Le Bateau, frequentada pela juventude carioca na época. Por ocasião da mostra, o crítico Frederico Morais aponta:
“(...) Da solidão e do medo, dois temas do homem de hoje; do desenho requintado e luxuriante às inovadoras e fascinantes pesquisas com plástico (...) Como em certas pesquisas da pintura atual, Vergara está incorporando a própria moldura e também o suporte no desenho fazendo do plástico não uma bolsa para o papel, mas algo que gradativamente vai adquirindo sua própria expressividade. (...) Seus últimos trabalhos são na verdade objetos virtuais, quase objetos.”
Em março de 1967, recebe o Primeiro Prêmio de Pintura no I Salão de Pintura Jovem de Quitandinha, Petrópolis (RJ), com a obra Sonho aos 18 Anos e, no mês seguinte, o prêmio aquisição O.C.A. no Concurso de Caixas, evento promovido pela Petite Galerie (RJ), que seleciona exclusivamente obras concebidas em formato de caixa. A exposição, inaugurada em 2 de maio, tem o convite desenhado por Vergara.
Em abril, é um dos organizadores, juntamente com um grupo de artistas liderados por Hélio Oiticica, da mostra Nova Objetividade Brasileira, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que procura fazer um balanço da vanguarda brasileira produzida no país. Assina a “Declaração de princípios básicos da vanguarda” e, nessa mostra, participa com os trabalhos Indícios do Medo, Minha Herança São os Plásticos e Auto-retrato, todas de 1967.
Em setembro, participa da IX Bienal de São Paulo, quando obteve o Prêmio Itamaraty. Em 9 de outubro, realiza mostra individual na Petite Galerie. Nesta exposição, Vergara apresenta obras realizadas com materiais industriais. Seu convívio com a indústria e, sobretudo, sua familiaridade com o desenvolvimento de novos materiais plásticos, graças a seu trabalho na Petrobras, foram decisivos para seu processo criativo e tornaram possível seu desejo de aproximar indústria e arte. Sobre esta relação, o artista acrescenta:
“(...) para mim, só há uma razão para a arte: ela ser consumida, passar a ser um elemento importante na vida do homem. Uma escultura que fosse também uma geladeira seria uma experiência válida. (...) Estou certo de que uma das funções do artista no Brasil é despertar a indústria para a utilização da arte.”
Algumas obras da exposição foram realizadas com a colaboração de técnicos da indústria Plasticolor. Na mesma mostra, o artista também apresenta Berço Esplêndido, seu primeiro trabalho tridimensional, do qual o público é convidado a participar, sentando-se em seis pequenos bancos com a inscrição “sente-se e pense”, em torno de uma figura deitada coberta com as cores da bandeira do Brasil.
Em 1968, realiza sua primeira mostra individual em São Paulo, na Galeria Art Art, apresentando, entre outros trabalhos, o resultado de suas recentes experiências: caixas feitas com papelão de embalagem, deslocando das próprias pilhas de embalagens da fábrica para os então sacralizados espaços de museus e galerias, transformando-as em esculturas. A exposição tem texto de apresentação de Hélio Oiticica, que escreve:
“(...) Vergara constrói caixas não requintadas, puro papelão, papelá, bandeira, bandeiramonumento, Brasília verdeamarela, mas papelão, que se encaixa, na caixa, na sombra e na luz, no cheiro – é a secura das fábricas, sonho de morar, viver o fabricado preconsumitivo, antes de ser às feras atirado – Seca, viva, a estrutura é cada vez mais aberta – ao ato, ao pensar, à imaginação que morde, demole, constrói o Brasil, fora e longe do conformismo (...)”
Ainda em 1968, realiza cenários e figurinos das peças Jornada de um imbecil até o entendimento, de Plínio Marcos, montada pelo Grupo Opinião, com direção geral de João das Neves, música de Denoy de Oliveira e letras de Ferreira Gullar, e Juventude em crise, de Bruchner, juntamente com o artista Gastão Manuel Henrique, apresentada no Teatro Gláucio Gil (RJ).
Em maio de 1969, é selecionado para a X Bienal de São Paulo. No mesmo mês é escolhido, junto com Antonio Manuel, Humberto Espíndola e Evandro Teixeira, para representar o Brasil na Bienal de Jovens, em Paris. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro organiza uma mostra dos artistas que participariam dessa bienal, mas algumas horas antes a exposição é fechada por ordem do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores. Em novembro, realiza nova mostra individual na Petite Galerie. Interessado em investigar as relações entre arte e indústria, trabalhando na fábrica de embalagens Klabin, expõe trabalhos em papelão: figuras empilhadas, sem rosto, e objetos-módulos, criados para a Feira de Embalagem, além de desenhos e objetos moldados em poliestireno. Sobre esta mostra, o artista comenta:
“Eu me preocupo com uma linguagem brasileira para a arte moderna. Encontrei no papelão – pobre, frágil, descolorido – um material coerente com a nossa realidade (...) barato, perecível, o papelão significa para mim a possibilidade de fazer minhas obras (...).”
É um dos fundadores da seção brasileira da Associação Internacional de Artistas Plásticos (Aiap), que tem ampla atividade política, até ser aniquilada pela Censura.
Anos 70
Na década de 1970, ocorre uma mudança de atitude na arte e na cultura brasileiras. A Censura, a violência e o fim das garantias constitucionais, determinadas pelo Ato Institucional n. 5, de 1968, não permitem a indiferença. Muitos artistas e intelectuais, entre os quais Hélio Oiticica, Antonio Dias e Gerchman, saem do Brasil. Outros, como Vergara, mudam o foco de seu trabalho. Segundo o próprio artista: “(...) a gente começa a ter uma atitude mais reflexiva, mesmo. Eu começo a usar fotografia e fazer uma espécie de averiguação mais antropológica do real (...)”. Essa busca de linguagens reflexivas se traduz, na obra de Vergara, na extensa pesquisa sobre o carnaval e na realização de filmes super-8, sem deixar de lado os trabalhos decorrentes de sua experimentação com materiais industriais, sobretudo o papelão.
Participa, em 1970, da 2ª Bienal de Medellín, Colômbia, apresentando o trabalho América Latina, dois grandes desenhos no chão, com recortes e caixas de papelão – que foram extraviados em sua volta ao Brasil. Para Hélio Oiticica: “(...) os superdesenhos crescem das caixas-estruturas-cenários caligarianos: espalham-se pelo chão, desenham-se, recortam-se: as folhagens de papel barato: moitam-se-desgarram-se: invadem, por seu turno, o ambiente (...)”.
Nesta década, intensifica seu trabalho com arquitetos, principalmente Carlos Pini, realizando painéis para lojas, bancos e edifícios públicos. Entre os trabalhos mais importantes, destacam-se os painéis realizados para as lojas da Varig em Paris e Cidade do México (1971); Nova York e Miami (1972), Madri, Montreal, Genebra e Johanesburgo (1973), Tóquio (1974), entre outros.
Buscando criar uma atmosfera brasileira para estes trabalhos arquitetônicos, começa a utilizar materiais e técnicas do artesanato popular, como a cerâmica e os trabalhos com areias coloridas em garrafas, no interior do Ceará. Nos botequins do Nordeste, também se interessa por pequenos enfeites realizados com papel dobrado e recortado. Transpondo esse universo popular para a escala arquitetônica, alia sua experiência com papelão ondulado na fábrica Klabin, realizada desde os anos 1960, a trabalhos de recorte em grande escala.
Em 1971, recebe, com os arquitetos Guilherme Nunes e Carlos Pini, o Prêmio Affonso Eduardo Reidy, da Premiação Anual IAB/GB, pelos projetos das lojas Varig de Paris e São Paulo.
Em 1972, idealiza a mostra intitulada EX-posição, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Em lugar da individual que estava agendada, o artista organiza uma mostra coletiva, posicionando-se criticamente em relação à realidade política do país. Em suas palavras: “Era tão agoniante a situação que se vivia, que achava um absurdo fazer uma individual fingindo que não estava acontecendo nada. Era já uma postura política tentando abrir o espaço individual para uma coisa mais coletiva.” De Nova York, Hélio Oiticica envia para a mostra o projeto do Filtro, um penetrável que conduz o trajeto do público. A exposição abriga múltiplas linguagens, apresentando pinturas, desenhos, fotografias e filmes super-8 de muitos artistas, entre os quais Roberto Magalhães, Caetano Veloso, Chacal, Bina Fonyat, Glauco Rodrigues, Ivan Cardoso e Waltércio Caldas. Além de organizar a exposição, Vergara apresenta seu trabalho fotográfico sobre o carnaval e uma reportagem realizada com Fonyat no vilarejo de Povoação (ES). Também mostra seu filme Fome, em super-8, e o Texto em branco, publicado pela editora Nova Fronteira.
Em sua pesquisa sobre o Brasil, começa a registrar de forma sistemática o carnaval carioca. Interessa-se, principalmente,
“pelos rompimentos com os comportamentos cotidianos, pela sexualidade ostensiva, pelas inversões de comportamento, pelas intervenções sobre o corpo, pela tomada da rua, pela quebra da estrutura de controle do resto do ano e pelas novas hierarquias que se montam”.
Focaliza, sobretudo, a bloco de embalo Cacique de Ramos, por ser:
“um bloco formidável para uma reflexão (...) com sete mil integrantes, que resolvem se vestir iguais, numa festa onde seu predicado é o exercício e a exacerbação da individualidade. (...) A roupa do Cacique de Ramos é uma gravura feita em um metro de vinil. Você levava para casa uma gravura, recortava e botava sobre o corpo. Isso não é brincadeira. Só tem uma área de individualidade que é o rosto. Para mim era importantíssimo mostrar que, instintivamente, podem surgir na sociedade iguais diferentes, diferentes mas iguais.”
Ainda em 1972, ganha, com o arquiteto Marcos Vasconcellos, o Prêmio Henrique Mindlin da IAB/RJ, pelo projeto de uma capela, da qual Vergara idealiza os vitrais. Em 1973, realiza mostra individual inaugural da Galeria Luiz Buarque de Hollanda e Paulo Bittencourt (RJ). Participa da coletiva Expo-projeção 73, no espaço Grife (SP), onde apresenta seu filme Fome. No mesmo ano, criou um painel para a sede do Jornal do Brasil (RJ).
Em 1973, monta, com amigos arquitetos e fotógrafos, um ateliê coletivo do qual participam Marcos Flaksman, Carlos Pini, Manoel Ribeiro, Sebastião Lacerda, Bina Fonyat e Antonio Penido, que mais tarde se transformará na firma Flaksman Pini Vergara Arquitetura e Arte, com atuação centrada em projetos de arquitetura teatral e de shopping centers, como o Barra Shopping (RJ). Neste projeto, Vergara participa da concepção de todas as áreas dedicadas ao passeio, comércio e lazer do centro comercial, além da criação de uma capela ecumênica. Para o artista, “é interessante fazer uma coisa que está dissolvida no real. Não tem a pretensão do discurso individual do artista, mas é a atuação do artista que está dissolvida na vida das pessoas (...) onde você se sente bem sem saber por quê”.
Em 1975, integra o conselho editorial da revista Malasartes, publicação organizada por artistas e críticos de arte com o intuito de criar debates e reflexões sobre o meio de arte no Brasil.
Realiza, em 1976, dois novos painéis no Rio de Janeiro: um para o centro comercial na Praça Saens Peña, Zona Norte da cidade, projetado pelo arquiteto Bernardo de Figueiredo, e outro para o Rio Othon Palace Hotel, em Copacabana, na Zona Sul.
Em setembro de 1977, participa da fundação da Associação Brasileira de Artistas Plásticos Profissionais, chegando a ser presidente da entidade, criada para reivindicar a participação dos artistas nos debates e decisões das políticas culturais nas artes visuais.
Em junho de 1978, apresenta na Petite Galerie, individual a partir de seu trabalho sobre o carnaval carioca, quando mostra fotografias, pinturas em papel, desenhos e montagens com caramujos. Os moluscos têm, para o artista, interesse semelhante ao bloco Cacique de Ramos, em que todos parecem, à primeira vista, iguais, porém, sutis diferenças marcam sua individualidade. Em novembro, apresenta a mesma mostra na Galeria Arte Global (SP). O catálogo traz texto do próprio artista. Em dezembro, a Funarte edita o livro Carlos Vergara, como parte da Coleção Arte Brasileira Contemporânea, com textos de Hélio Oiticica e programação visual de Vera Bernardes, Sula Danowski e Ana Monteleone.
Em 1979, realiza, com Ruth Freinhoff, a programação visual da capa do disco Saudades do Brasil, de Elis Regina; com o cenógrafo Marcos Flaksman cria o cenário do show homônimo. No mesmo ano, assina a concepção visual da capa do disco Elis.
Anos 80
Em junho de 1980, participa, ao lado de Antonio Dias, Anna Bella Geiger e Paulo Roberto Leal, da 39ª Bienal de Veneza. Apresenta um desenho de 20m de comprimento e 2m de altura, que seria para o artista “uma espécie de catarse de desenho”, no qual parece encerrar seu trabalho de documentação do carnaval. O catálogo que acompanha sua participação traz texto de Hélio Oiticica.
Ainda nesse ano, integra a exposição Quasi Cinema, no Centro Internacional di Brera, Milão (Itália). No ano seguinte, mostra 17 desenhos e pinturas em papel e o painel realizado para a Bienal de Veneza na Galeria Mônica Filgueiras de Almeida (SP).
Na década de 1980, o artista retoma a pintura com telas que apresentam uma trama diagonal como estrutura. Apesar da ausência de referências exteriores à própria construção pictórica, essas telas ainda decorrem de seu trabalho fotográfico sobre o carnaval.
Segundo o artista:
“(...) as pinturas com as diagonais vêm do carnaval, não por causa da roupa do arlequim, mas por causa da grade de separação do público nos desfiles. Tenho uma série de fotografias das pessoas atrás da grade ou do carnaval atrás da grade. Aos poucos, a grade vai ficando como medição, as pessoas e as figuras vão saindo (...)”
Em maio de 1983, é inaugurada a Galeria Thomas Cohn (RJ) com individual de pinturas do artista. No catálogo, Ronaldo Brito escreve:
“A trama é estritamente pictórica. A sua construção e a sua palpitação remetem apenas a si mesmas. A premência e a urgência da pintura, da vontade de pintura, se tornam flagrantes pela falta de qualquer mediação entre o próprio ato de pintar e a coisa pintada (...) Mas, visivelmente, a trama aponta para uma divisão, um lá e cá, um antes e depois (...) de uma maneira explícita, essas telas assumem um lugar paradoxal – o seu estar entre. Entre o passado literário e a procura de uma auto-suficiência visual (...) Entre a pressão de uma estrutura, com a demanda de um raciocínio pictórico cada vez mais complexo, e a força decorrente do seu imaginário figurativo, o trabalho vive o seu dilema básico, a sua ambigüidade fundamental (...)”
Em 10 de dezembro, expõe pinturas no Gabinete de Arte Raquel Arnaud (SP). O texto de apresentação de Alberto Tassinari reafirma o caráter autônomo ali expresso:
“Nas suas telas o olhar imagina, e a imaginação olha. Cúmplices um do outro, colocam a questão: é possível olhar um quadro sem imaginá-lo? (...) O que está em jogo nessas telas é um dos fundamentos da pintura. A impossibilidade de sua transmutação absoluta de imagem em objeto (...) Sua ação pictórica não reveste a tela com fabulações do sentido. Está antes interessado na cuidadosa investigação de um problema fundamental da pintura: a transfiguração recíproca de olhar e imaginar.”
Ainda em 1983 é nomeado para o cargo de presidente do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural (RJ), ocupando a vaga do escritor Pedro Nava, recém-falecido. De 22 de janeiro a 22 de fevereiro de 1985, organiza individual no Brazilian Centre Gallery, em Londres, onde expõe pinturas em grandes formatos. É co-diretor, com Belisário França e Piero Mancini, do vídeo Carlos Vergara: uma pintura, que integra a Série RioArte Vídeo / Arte Contemporânea.
Em 1987, realiza mostra individual no Gabinete de Arte Raquel Arnaud e executa painel para a sede do Banco de Crédito Nacional/BCN, em Barueri (SP).
Monta ateliê em Cachoeiras de Macacu, município a 120km do Rio de Janeiro, às margens do rio de mesmo nome, onde passa a maior parte do tempo. Este novo espaço, de grandes dimensões, lhe permite trabalhar em várias obras simultaneamente.
Em março de 1988, inaugura exposição individual na Galeria Thomas Cohn, Rio de Janeiro, e apresenta dez telas. Além das tradicionais, Vergara passa a utilizar tintas industriais que
“em contraste com as outras, oferecem a oportunidade de ele montar ‘pequenas armadilhas para o olhar’, avanços progressivos na direção da inteligência da visão. Organizada ainda a partir das grades que abriram a nova fase pictórica, Vergara mantém ainda um sistema de divisão da tela com cordas que ficam marcadas na pintura. Mas a grade está ampliada, quase estourando (...) E a tinta, aplicada com as mãos ou com esponjas, aparece na tela como uma explosão líquida de cor, um splash que condensa em si o ato do pintor e seu pensamento.”
Nesse ano, além de realizar novo painel para a sede do Banco Itaú (SP) e escultura para um edifício residencial – projeto do arquiteto Paulo Casé, na rua Prudente de Moraes n. 756, em Ipanema (RJ) –, cria a abertura para a novela Olho por olho, da TV Manchete, emissora carioca.
Em 1989, ocorreu uma mudança importante em sua pintura. O artista passa a trabalhar com pigmentos naturais e minérios a partir dos quais realiza a base para trabalhos em superfícies diversas. Estes se tornam resultantes de um processo de impressão e impregnação de diferentes “matrizes”, como a própria boca dos fornos numa pequena fábrica de pigmentos de óxido de ferro em Rio Acima (MG), e de uma posterior intervenção do artista. Sobre a nova direção em seu trabalho Vergara declara:
“Em 1989 (...) decidi dar uma nova direção por estar seguro de que havia esgotado a série começada em 1980, quando abandono a figura e mergulho numa pintura que tinha como procedimento uma ‘mediação com cor’ do espaço da tela, dividindo com diagonais paralelas, formando uma grade (...) propus para mim, com desapego, me colocar num marco zero da pintura e olhar para fora e para dentro.”
Em outubro de 1989, participa da 20ª Bienal de São Paulo com grandes painéis impressos com cores extraídas do óxido de ferro. No centro da sala destinada ao seu trabalho, o artista coloca uma enorme caixa contendo um bloco do pigmento mineral. Inaugura, na mesma época, individual no Gabinete de Arte Raquel Arnaud, com 14 telas. O catálogo que acompanha as exposições traz o texto “Acontecimentos pictóricos”, do crítico Paulo Venancio Filho.
Anos 90
Em setembro de 1990, realizou mostras individuais no Paço Imperial (RJ), apresentando 20 telas de grandes dimensões, e na Galeria Ipanema (RJ). Por ocasião desta exposição, o crítico Paulo Sergio Duarte escreve o texto “Uma noite matriz do dia”, no qual se refere à dupla direção tomada pela pintura atual do artista:
“O processo de trabalho de Vergara se encontra num momento onde sua pintura se expande, ao mesmo tempo, em duas direções diametralmente opostas. De um lado, o elogio da transparência na comemoração do fato plástico, de outro, uma expressividade impregnada a partir da própria matéria que na sua opacidade sombria apresenta um drama. (...) Num extremo, o sentido gráfico construtivista será acrescido de elementos expressivos (...) No outro extremo, um cenário está dado e, digamos, energizado por uma história mítica da técnica da pintura (...) O que se anuncia, nos dois extremos, é o elogio do aparecer da pintura no próprio ato pictórico (...)”
Em abril de 1991, realiza mostra com telas sobre lona crua no Gabinete de Arte Raquel Arnaud. Em setembro, apresenta exposição individual no Grande Teatro do Palácio das Artes (BH), com 21 monotipias realizadas em Rio Acima e retrabalhadas no ateliê. Para o catálogo da exposição, promove-se uma conversa entre Ronaldo Brito, Paulo Sergio Duarte, Paulo Venancio Filho, Tunga e o próprio artista, em que se debate o atual estágio da trajetória artística de Vergara. Segundo Ronaldo Brito:
“O trabalho atual seria mais lento, mais reflexivo, mais dubitativo e que suscita, convida até a uma espécie de convívio estético mais indefinido, mais prolongado no tempo. Há uma demora para se impregnar com estes valores todos. É algo não para se contemplar, olhar de fora, mas para chegar perto e experimentar (...)”
No ano seguinte, realiza a individual Carlos Vergara, Obras Recentes 1989-1991, no Centro de Arte Moderna, Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), com a apresentação de 20 grandes monotipias e, na Capela do Morumbi (SP) monta uma instalação com quatro monotipias em papel de poliéster impregnado de resina adesiva, presas diretamente no teto, consideradas “pinturas fora do muro” pelo artista.
Em 1993, o Centro Cultural Cultural Banco do Brasil (RJ) organiza individual do artista, onde é remontada a Capela do Morumbi. Realiza outra exposição individual na Galeria Francis Van Hoof, Antuérpia.
No ano seguinte, faz mostra individual no Gabinete de Arte Raquel Arnaud e participa da Bienal Brasil Século XX, na Fundação Bienal (SP). Ainda em 1994, convidado pelo Instituto Goethe, faz parte da equipe de artistas brasileiros e alemães que realiza parte do percurso original da Expedição Langsdorff, viagem científica ocorrida entre 1822 e 1829 com o intuito de documentar a natureza e a sociedade do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Amazônia. Nesta viagem, Vergara produz telas e gravuras, como as monotipias dos pisos de Ouro Preto e Diamantina (MG). Em 1995, o resultado desta experiência é apresentado na mostra O Brasil de Hoje Espelho do Século 19 - Artistas Alemães e Brasileiros Refazem a Expedição Langsdorff, na Casa França-Brasil (RJ) e no Museu de Arte de São Paulo/Masp. No mesmo ano, realiza individuais na Galeria Debret (Paris) e na Galeria Paulo Fernandes (RJ), e cria painéis para o Morumbi Office Tower (SP).
Entre 1996 e 1997, realiza a série intitulada Monotipias do Pantanal, mostrada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, quando os registros da natureza, sejam intervenções de animais ou marcas de plantas, se imprimem nas telas, criando tanto sudários quanto estruturas gráficas para obras trabalhadas posteriormente no ateliê. Para o artista, esses trabalhos adquirem novo estatuto em que, “deslocados do contexto da impressão, recebem chassis, além das eventuais intervenções posteriores (...) aí sim, elas ganham corpo e densidade suficientes”.
No mesmo ano, apresenta individual de gravuras na Fundação Castro Maya (RJ). Integra a Bienal do Mercosul (POA). Convidado por Nelson Brissac Peixoto, participa do projeto Arte/Cidade 3, A Cidade e suas Histórias, nas Ruínas da Fábrica Matarazzo (SP). Na ocasião, Vergara realiza Farmácia Baldia, com a ajuda de botânicos da Universidade de São Paulo/USP e do arquiteto paisagista Oscar Bressane, intervenção resultante da localização e classificação de inúmeras plantas medicinais existentes nas imediações da fábrica, fazendo desenhos em grande escala, diretamente nas paredes dos galpões abandonados, interagindo com as pichações existentes e criando uma marcação com mastros coloridos no terreno em torno das plantas identificadas.
Em 1998, recebe o Prêmio Mário Pedrosa, da Associação Brasileira de Críticos de Arte/APCA, por sua mostra Monotipias do Pantanal: Pinturas Recentes, no MAM-SP. Em setembro, participa da exposição Poéticas da Cor, no Centro Cultural Light (RJ) com a instalação Limonita “minério encharcado”. Realiza a individual Os Viajantes, no Paço Imperial. Em novembro de 1999, a Pinacoteca do Estado de São Paulo organiza a mostra antológica Carlos Vergara 89/99, apresentando desde suas primeiras monotipias sobre lona crua até as telas nas quais a intervenção do artista, com materiais como dolomita e tintas, apaga quase completamente os sinais da primeira impressão que deu origem aos trabalhos.
Anos 2000
Em 2000, participa das coletivas Brasil + 500 Mostra do Redescobrimento, Fundação Bienal (SP); Século 20: Arte do Brasil, Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa); no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão (Lisboa); e Situações: Arte Brasileira Anos 70, na Fundação Casa França-Brasil (RJ).
Em junho do ano seguinte, realiza individual na Galeria Nara Roesler (SP). Para o catálogo, o artista escreve o texto “Pequena bula”, em que explica o processo de elaboração dos trabalhos apresentados:
“São pinturas que começam com uma monotipia (...) Esta impressão se dá em áreas escolhidas, já cobertas pela poeira depositada pela atividade da indústria na moagem dos pigmentos que produz (...) de forma que a impressão capture os desenhos e as tensões gráficas dessas áreas. Um repertório de formas são utilizadas, como um alfabeto que constrói aos poucos, e por partes, o discurso do trabalho. Essas formas podem ser recortes em papelão, tecido, madeira, metais, borracha (...) materiais que obedecem e materiais que não obedecem docilmente (...)”
Realiza individual na Silvia Cintra Galeria de Arte (RJ).
Em 2002, é convidado a fazer parte do projeto Artecidadezonaleste (SP), para o qual cria uma intervenção na praça da estação Brás do metrô. Nas palavras de Nelson Brissac Peixoto, curador do evento, o trabalho de Vergara é:
“(...) uma intervenção sobre esta situação aparentemente inerte, uma ação que eventualmente detone um processo de ocupação deste vazio, inibido pelo rígido programa preestabelecido pelo planejamento urbano. (...) consiste em instalar no local um conjunto de barracas, do tipo usado pelos camelôs. As barracas, feitas de vergalhões de ferro, aparecem intencionalmente inconclusas, um esqueleto que pode ser completado com tampas e toldos ou utilizado para outros fins. Essa estrutura inacabada não obedece às bases de concreto existentes no local para disciplinar sua ocupação por camelôs, deixando em aberto a configuração urbana resultante (...)”
Em dezembro, tem sala especial na mostra ArteFoto, no Centro Cultural Banco do Brasil (RJ), com curadoria de Ligia Canongia, e seu trabalho Cacique de Ramos: Iguais Diferentes ganha destaque. Na ocasião, mostra fotografias realizadas entre 1972 e 1975 e plotagens recentes a partir do mesmo material.
A partir de maio de 2003, apresenta a primeira grande retrospectiva de seu trabalho, no Santander Cultural (POA), no Instituto Tomie Ohtake (SP) e no Museu Vale do Rio Doce, Vila Velha (ES), com curadoria de Paulo Sergio Duarte.
Textos Críticos
BIENNALE DI VENEZIA '80
DESENHO é planejamento e recolhimento de material bruto recolhido e posto em estado bruto: segundo vergara é memória e projeção: o cigarro que queima fumaça de cor expressionista que acaba no desenho como foto-decalque da infância: um outro q já projeta decalque de foto-CARNAVAL: anotação e antecipação: cerne-espinha do q vem a explodir em seguida em forma de projetos maiores: não considerá-los por isso mesmo menores:
continuarão a emergir e o devem:
pre-vêem:
os superdesenhos crescem das caixas-estruturas-cenários caligarianos: espalham-se pelo chão, desenham-se-recortam-se: folhagens de papel barato: moitam-se-desgarram-se: invadem, por seu turno, o ambiente - colher os cantos-recantos brasis que os teóricos academizantes não conseguem: brasil sensível, não cultural – tudo terá que desembocar fatalmente em estruturas mais gerais, em proposições que crescem em ambição: em algo que seja mais importante que galerias e museus: que prescinda delas para a sobrevivência – a consciência de que essa face pra ser face, deva ser exportável, assim como o fizeram os americanos (warhol, p. ex., mais do que oldenburg que se resume mais a uma “imagem-america – warhol realmente criou o que se poderia se chamar de face-america) – tirar do saco o que deve ser tirado, o que interessa – vergara quer ser a consciência vigilante dessas instân (cias) (tes) mas geral que a moda e a forma: o lugar e o tempo, só cabem a ele construir: e ambos são fundamentais aqui: a busca do tempo-lugar perdidos no subdesenvolvimento-selva: as perguntas, as respostas, as questões: validade delas: de onde abordar a conceituação de valor? Nem a “arte” nem a “cultura” importam aqui: muito mais: o comportamento como uma forma viva das opções criativas – vivatuante, vigilante: uma consciência.
vergara quer construir em bloco uma instância: um instante brasil – a face – mesmo que para isso tenha que se apegar aos restos, às proposições antigas, que aparecem aqui para formar este bloco: sua facilidade em desenhar, em decorar, recortar, enriquecer o ambiente etc; não interessam aqui coisas como “mensagens” anedóticas, sem eficácia: a ambição de criar este bloco-face brasil absorvendo tudo, deixando de lado certos pudores esteticistas; nisso reside sua coerência: e ao final, sem sobras
a cabeça
a máscara: o recorte da cabeça q está em aberto pra receber a máscara
mascarar-se: escolher identidade." — Hélio Oiticica
ATRAVÉS DA ORDEM
"A trama é estritamente pictórica. A sua construção e a sua palpitação remetem apenas a si mesmas, A premência e a urgência da pintura, da vontade de pintura, se tornam flagrantes pela falta de qualquer mediação entre o próprio ato de pintar e a coisa pintada. A trama é exatamente o que se trama, tudo o que se trama. Dispersão e fragmento se relacionam aqui com vistas à construção de uma Totalidade que será necessariamente precária. A tela pronta se busca ainda, pulsa inquieta e escapa a seu método. Metonímia só, sem remissão a um todo conhecido. Esses quadros são, com toda certeza, partes, mas, reunidos todos, não organizaram um conjunto – claro, não formam um círculo, tramam.
E, ainda assim, não. O trabalho não é um puro esforço fenomenológico de elaboração de uma pictórica. Talvez seja esse o seu problemático horizonte; possivelmente esse é o seu passado recalcado e irresolvido. Mas, visivelmente, a trama aponta para uma divisão, um lá e cá, um antes e depois. Um percurso e uma oposição. Porque, no caso, a trama também é figura, e aí surpreendemos talvez a verdade do trabalho, o seu conflito de origem. De uma maneira explícita, essas telas assumem um lugar paradoxal – o seu estar entre. Entre o passado literário e a procura de uma auto-suficiência visual, uma irredutível inteligência perceptiva. Estaríamos assim diante de um processo de abstração, uma determinação em construir uma linguagem visual substantiva. Mas, por favor, nela podem aparecer quaisquer imagens, inclusive as chamadas figurativas: o que caracteriza o grau de abstração de uma linguagem é a exigência de auto-legislação formal, a recusa em se apoiar sobre referências externas ao processo do trabalho, sejam elas empíricas, geométricas ou escatológicas.
O que interessa, imediatamente, é que esse entre é – existe e vibra, se faz sentir diretamente no olhar. A estrutura do quadro acolhe e nega a sua carga de temporalidade literária – os losangos que se combinam e dispersam insinuam uma cena ao mesmo tempo em que parecem se resumir, a articular e desarticular limites, sentidos pictóricos intraduzíveis. As cores, a rigor inseparáveis do processo de estruturação, sustentam ainda um caráter metafórico – possuem uma certa intimidade, uma certa memória afetiva que resiste à uma estrita participação interativa.
Entre a pressão de uma estrutura, com a demanda de um raciocínio pictórico cada vez mais complexo, e a força recorrente de seu imaginário figurativo, o trabalho vive o seu dilema básico, a sua ambigüidade fundamental. Note-se porém: os dois momentos aparecem no e do trabalho, emergem de sua operação específica. A vontade de se livrar de conteúdos dados, da figuração imediata que o dominava, corresponde a uma volta às questões de origem. Visivelmente: o chamado fundo passa agora a primeiro plano; as cenas e figuras se diluem e dissolvem nas cores e formas e apenas impregnam afetivamente o quadro. Daí a realidade da trama – é a sua ação que segura os dois espaços opostos e consegue relacioná-los. Em contrapartida é o embate entre esses espaços, em busca de um lugar, o que faz pulsar a rede e promove deslocamentos e condensações. A estrutura se impõe à figura, como fantasma, freqüenta a estrutura.
E, no caso, não há como ser maniqueísta. A decisão estrutural precisa incorporar o imaginário figurativo para se realizar – em última instância é a poética do trabalho o que está em jogo. Impossível negar as cores, linhas e formas a sua história; é possível, no entanto, levá-las a um nível de pensamento superior. Abstraindo as conotações mundanas, reencontrá-las como fundamentos de uma pura inteligência visual. É possível, assim, pensá-las mais próximas de si mesmas e, aí sim,digamos, poetizá-las. E com esta manobra o ato de pintar adquire outro estatuto – o de um saber artístico autônomo, diverso do verbo, com uma lógica de reprocessamento singular.
Por isto, premência da trama: para sair de um impasse,ou antes, para ativar e repotencializar o próprio impasse. Mais, muito mais do que com aparências, a simples troca de figuras empíricas por figuras geométricas, o trabalho está às voltas com uma transformação de medida – um salto no vazio. Inenarrável em outra língua, a pintura só vai existir, fazendo-se, e só pode se fazer atravessando o desconhecido. Graus de incerteza, graus de estranheza passam a ser as marcas do processo – como mostra a trama, o tema do trabalho é a sua própria realização – a sua ambígua, incerta e imprevisível realização. E o prazer do olhar é sentir esse formigamento agindo e construindo. A rede se lançando, palpitando e organizando.
Agora há portanto o drama da pintura com a pintura. E a dúvida do trabalho diante dele mesmo o leva, desculpem o contra senso, de volta para frente. Cruzando em sentido inverso o Novo Realismo dos anos 60, na qual se formou, ele retoma o Expressionismo-Abstrato para uma interrogação radical sobre o fato e o desejo da pintura. No momento em que tudo parece permitido, todas as facilidades, toda espécie de mistificação e contrafação; numa conjuntura em que vários tipos de neo-naturalismos pretendem canonizar ou ultrapassar (SIC) a modernidade, o trabalho assume decididamente a questão moderna. Quer dizer: no mínimo, o compromisso com uma poética irremissível a qualquer ordem prévia – porque, em última instância, este não é mais o Mundo de Deus e o Real se tornou um problema e um projeto.
É sintomática e esclarecedora, assim, a atração do artista pela estrita imaginação pictórica de Mark Rothko. A pintura construindo uma cena que é a própria pintura, onde figura e fundo se debatem e multiplicam até a vertigem; onde espaço e tempo se confundem, indecidíveis, numa trama que se expande e contrai incessantemente. Há por certo uma imaginação romântica em Rothko, mas da ordem da pele: é o corpo, o nosso corpo, que se engaja diferente no mundo a partir da tela – experiência de alheamento e imersão numa atmosfera densa e rarefeita. É essa pulsação rigorosa e indefinida da obra de Rothko que vai seduzir o trabalho através do tema mais constante em toda sua história: o limite entre a ordem e o caos.
Mas se, nesse sentido, por exemplo, a série Carnaval estava ligada à série dos Caramujos, na esfera da reflexão abstrata, ilustradas ambas por obras isoladas, os novos quadros trazem a questão na própria pele – não refletem a idéia de oscilação entre a ordem e o caos, procuram ser esse movimento, produzir imediatamente essa conversão no olhar. Abstraindo o jogo das aparências, o trabalho tenta organizar uma estrutura-carnaval, uma volúvel estrutura em progresso, precária e ambivalente. Por isso, podemos desde logo poupar e esses quadros nossos indefectíveis adjetivos e, ao invés, acompanhá-los em seu ininterrupto esforço de estruturação. Certo filósofo disse uma vez que, ao contrário da suposição comum, o círculo é a festa do pensamento. No caso, uma rede pode ser a festa do olhar." — Ronaldo Britto, dezembro de 1982.
ACONTECIMENTOS PICTÓRICOS
O que esta série de pinturas nos revelam são acontecimentos, situações, instáveis organizações. Elas mantém um grau de imprevisibilidade, uma deliberada margem de gratuidade e espontaneidade. A princípio poderia prevalecer a sensação de que, antes de tudo, é o sentimento do prazer que as impulsiona num movimento contínuo e irrefletido de plena entrega ao fluxo dos impulsos. Antes de nos indagarmos se isto é humanamente possível, percebemos que aqui não se trata propriamente da matéria bruta do prazer, do seu conteúdo, mas da sua forma. A matéria prima é inevitável e necessária, porém é a forma da vivência que se quer que permaneça e possa ser repetida, reexperimentada, para não se dissipar na transitoriedade no momento sem ser conhecida, que não se introjete na culpa e possa persistir como experiência conquistada e a cada vez renovada, vivida na sua antecipação e realização. Trata-se antes do sentido do prazer do que o prazer.
A tela é o lugar de um acontecimento, o lugar onde algo acontece: as possibilidades de uma pintura. Creio que esse acontecimento pictórico não diverge, em essência, de nenhum outro; circunstância onde cruzam certezas e dúvidas, acaso e destino, encontros e desencontros; campo onde circulam forças de diversas intensidades e direções às quais ora resistimos ora nos submetemos. Situação que exige um ato através do qual nos colocamos tal como somos ou pensamos ser, onde mesmo na dúvida ou na incerteza podemos nos lançar em direção a um fim. Momento de uma unidade apenas aparente. Onde a princípio parecia existir uma entrega ao fluxo, simples deixar-se levar, reconhecemos uma dimensão que assume e mantém o conflito. A vontade permanece a única garantia; a garantia de manter a coesão no dilaceramento, sustentar opostos na mesma decisão. Este não é simplesmente o sentido do prazer, é o drama da vontade. Um esforço contínuo e a cada momento posto a prova, uma intenção determinada a se expor e se revelar.
Encontramos nessa pintura movimentos simultâneos e divergentes. Cada tela é uma fonte de emissões que se comportam diferentemente. Flutuam na superfície, emergem no interior, mergulham. As diferentes modalidades com que a superfície é impregnada alterna graus de pulsação, ressonâncias, altera proximidade e distanciamento.A maior ou menor irradiação de energia não está na força do gesto que imprimiu a sua marca, está na sutil diferenciação de emissões. Acompanhamos essas diferenciações nos movimentos simultâneos de sinais opostos, nas sugestões de pontuações e nos ritmos, nas ambivalências cromáticas, no pulsar que faz e desfaz uma cena onde permanece onde permanece a intensidade e a integridade originária. Estamos entre a abstrata organização da vontade e a urgente desorganização dos impulsos, diante da tentativa de manter essa fluída ordem, onde a convivência seja possível, na qual a vontade não seja esquecimento de uma adesão e a urgência da adesão não imponha a presença do irrefletido. Uma vontade que ante as dúvidas e a imprevisibilidade do momento confia na realização e desdobra no sentimento do prazer.
A forma com que o fluxo dessa experiência se configura alterna condensações de ordem e caos. A repetição, às vezes constante, de um elemento, a obsessão por um determinado gesto, procura isolar cada uma dessas experiências específicas, identificá-las e reconhecê-las na indiferenciação inicial. Existe quase uma necessidade de torná-las íntimas e reconhecíveis, para que possam ser repetidas enquanto experiências vividas. Hábito que não cansa; ter o familiar sempre renovado, nunca esgotado. Desejo de prolongar a permanência do que é momentâneo, trazê-lo imediatamente para si, evitar a estranheza e os mal-entendidos. Há nessas telas um pressuposto de conviviabilidade, tornar tudo próximo, acessível, comunicável. Este o desejo possivelmente utópico dessa pintura, o horizonte no qual se projetam figuras e fórmulas do encantamento.
Acima de tudo há nessa vontade que experimenta o conflito, ainda que confiante na realização, e por causa disto, uma dimensão ética; a procura de uma grandeza sóbria, autodimensionada. Essa confiança na realização não encontra seu sentido na reflexão, exprime a experiência da ação e do fazer, que só se revela e só se faz sentido através dela mesma, no momento próprio do trabalho, na consciência da atividade, no reprocessar constante que mesmo realizado por um só dá sentido a todos. Nessas direções conflitantes que se aproximam, da ação que reconhece seu sentido e seu fim nela mesma, nos impasses e soluções que encontra, vai se impondo uma satisfação esclarecida, intensamente realizada.
O percurso dessa pintura exprime em certo sentido os modos de se relacionar com a pintura, ou melhor, os modos como ela se relaciona com a pintura. Em outro momento podemos reconhecer um determinado modelo, certas influências e certos procedimentos. Passagens solitárias que exprimem menos um programa do que um ambiente, um contexto. São possibilidades de convivência que se colocam e sugerem níveis e intensidades de envolvimento. Se essa pintura não segue um programa rigorosamente calculado, mantém uma coerência na instabilidade do afeto. Pois aqui a pintura se organizada segundo a dinâmica do afeto. Esta é sua ordem positiva, sua modalidade de existência, seu avançar, retroceder, continuar. Talvez assim possa correr o risco da instabilidade ou da superficialidade, entretanto, a cada momento e a cada situação, sabe encontrar a espessura correta da experiência, a medida adequada, a intensidade apropriada.
Assumindo os mais diversos riscos, a pintura de Vergara apresenta mesmo em seus momentos mais erráticos e incertos uma força de convencimento. Em cada uma de suas etapas transparece o empenho e o entusiasmo que convive espontaneamente com dúvidas e incertezas. Existe nela a presença constante de uma inquietude, de uma urgência, que se combina com a insistência na execução, sempre surpreendendo com si mesma e com a aventura que é a Pintura. Exercício de entrega à pintura: misto de satisfação e temeridade" — Paulo Venâncio Filho, setembro de 1989
UMA NOITE MATRIZ DO DIA
Toda crítica cai, em algum momento, na tentação da metáfora. Tarefa nem sempre nobre, de encontrar analogias que substituindo o percurso real de uma obra possam potencializar, através de condensações, a produção de sentido que estaria depositada no seu objeto. Se este se estende no percurso de algumas décadas, essa tarefa está, parcialmente, facilitada. O leitor pode julgar, observando o desenvolvimento e transformações, a dose de arbítrio contida na crítica. Mas se nosso hipotético leitor tem diante de si apenas os resultados mais recentes de uma produção – e este é o caso da exposição de Vergara -, essa espécie de correção de rumo se complica. O poema ou uma narrativa na página, o evento plástico, o acontecimento na tela, são apenas o resultado final de um percurso. Mas é este resultado que é a própria arte e é isto que faz que toda obra de arte seja, importando um termo caro aos economistas, auto-sustentável. A razão do texto crítico estaria, então, em acelerar processos de comunicação, permitindo, pela sua intimidade com a obra, um acesso a aspectos do conhecimento particular e específico de sua poética. Mas a construção da metáfora é, no entanto, da ordem da censura e isto não apenas pela passagem, no caso da arte, da esfera visual para a literária, mas também pelo caráter seletivo de um modelo. Toda metáfora tem a pretensão de modelo de seu objeto. E nunca é demais lembrar que a consciência da culpa não exime o culpado.
O processo de trabalho de Vergara se encontra num momento onde sua pintura se expande, ao mesmo tempo, em duas direções diametralmente opostas. De um lado, o elogio da transparência na comemoração do fato plástico, de outro, uma expressividade impregnada a partir da própria matéria que na sua opacidade sombria apresenta um drama. Estamos diante de duas manifestações de uma mesma linguagem pictórica. A linguagem é o lugar onde se materializa e se instala, em qualquer trabalho de arte, sua poética. Estamos, portanto, diante de dois pólos de uma mesma poética. Para descobrirmos o corpo que reúne e integra esses extremos é preciso não nos cegarmos pela sua generosidade plástica: pela luminosidade de uns e pela teatralidade expressiva de outros. A astúcia dos procedimentos pode nos enganar e encontrarmos um falso fio condutor que levaria à identidade dos opostos no jogo entre ordem e acaso. Este embate está em ambos extremos, mas sob controlo, rebaixado ao nível de seu artesanato. E não podia ser de outra forma, Vergara não é ingênuo e conhece a história da pintura, sabe a que limites esse problema foi explorado na arte do século XX, como crítica ou reação ao mundo industrial na sua racionalização totalitária da vida.
Sem dúvida, os trabalhos possuem e expõem os elementos que os unificam. Entre estes se encontra o fato dos dois pólos se constituírem a partir de uma estrutural pré-estabelecida que organiza a superfície. Mas aí cessa a semelhança.
Num extremo, o artista realiza uma operação gráfica de caráter geométrico que antecede o trabalho propriamente pictórico. Esta divisão do território da tela vai permitir o jogo das oposições cromáticas que seria sustentado por uma trama estática, caso não houvesse a intervenção do elemento aparentemente fora de controle, aleatório: esse elemento gestual, que contradiz a sua origem instintiva, já objeto de cálculo e de controle, introduz o movimento, dinamiza a totalidade da superfície, quebra a rigidez, e, aliado à transparência, libera finalmente o signo de seus resquícios puramente gráficos. Paradoxalmente, a intervenção programada, indispensável e refletida, aparece como índice de acaso.
Mas, se num pólo a estrutura pré-existente, o ponto de partida de sua organização interna é traçada na superfície da tela, no outro ela se encontra no exterior, num ambiente onde se recolhe, em Minas Gerais, pigmentos de óxido de ferro para a indústria de tintas. Num extremo, o sentido gráfico construtivista será acrescido de elementos expressivos, cujo jogo cromático e a substituição da clareza da linha pela imprecisão do contorno, somados à luminosidade transparente, serão o evento plástico, aquilo que Paulo Venâncio Filho definiu com “acontecimentos pictóricos”. No outro extremo um cenário está dado e, digamos, energizado por uma história mítica da técnica da pintura. O trabalho ganha sua configuração inicial ali onde sua matéria-prima privilegiada, o pigmento, é extraída in natura. Mas não existe uma simbologia, algo que se passaria fora e distante da superfície do trabalho: existe a consciência de que essa narrativa que se justapõe como anedota inibiria o essencial da experiência.
Essa grandes telas impregnadas das imagens e figuras, impressas no local, podem trazer a presença do acaso como memória distante, como a surpresa no ato da execução. Mas, ainda aqui, o aleatório estará submetido a sucessivos procedimentos que o transformam de acaso em ordem. Um sutil jogo de inversões se estabelece quando observamos os dois pólos de sua poética, cuja potência reside menos na identidade de elementos constitutivos em cada extremo e mais no universo relacional das diferenças, oposições e trocas de sinal.
O procedimento de impressão num cenário onde todas as possibilidades estão previamente definidas preserva aquele momento de acaso no instante de sua descoberta, as intervenções sucessivas só cessarão quando esse elemento aleatório governado pela intenção alcançar o resultado pretendido, o seu contrário. Sua expressividade marcada como lembrança da passagem e troca entre superfícies, evoca, em suas tonalidades sombrias, uma pintura noturna, mas ao contrário dessa tradição, sua escala não é intimista. Irradia e se constitui através de uma espacialidade estranha ao alcance do olhar noturno. Sua dimensão cênica e dramática, ao mesmo tempo, quer evidenciar, antes de qualquer metáfora do mundo, o elogio de um grau zero da pintura que, com procedimentos mínimos e uma economia conquista um grau máximo de expressão. O quê de melancolia que este pólo do trabalho de Vergara pode evocar na sua totalidade e nos fragmentos de figuras – resquícios do mundo exterior com os quais esteve literalmente em contato durante sua realização – surge antes como exigência da própria matéria, como este encontro com a origem tivesse que ser preservado de qualquer euforia, reafirmando, na sua evidência física, a consciência da época na qual vai se inscrever como obra de arte.
Observando as dimensões da linguagem que se estendem nos dois extremos, talvez possamos encontrar o mínimo divisor comum dessa pesquisa que aparentemente se divide e se bifurca em caminhos opostos. Não se trata do gesto aleatório em jogo com um esquema prévio organizador. Aqui, estaríamos reduzindo e confundido método com procedimentos. O que se anuncia nos dois extremos é o elogio do aparecer da pintura no próprio ato pictórico, buscando-os nos limites dados pela transparência que reduz a cor ao mínimo necessário para a sua apresentação em movimento, e no silencioso habitat da pintura reconstituída nas telas impressas. Essa morada dilacerada nas imagens fragmentadas e nas sombras é, no entanto, estável e serena, como se mesmo criadas posteriormente do ponto de vista cronológico, fosse a descoberta de uma camada geológica que antecede e na qual se apoiam as otimistas telas em transparências coloridas. Uma noite matriz do dia" — Paulo Sergio Duarte, setembro de 1990.
ORAÇÃO A UM MUNDO QUE, IMPOSSÍVEL DE SER RESTAURADO, PODE AMANHECER NA LEMBRANÇA
"Em confronto com as recentes telas luminosas e monumentais, ainda no atelier, que sintetizam a experiência desenvolvida nos dois pólos do trabalho de Vergara nos últimos anos, estas, diante de nós, são a passagem, o caminho do meio. O centro pode não ser, portanto, a sábia e pusilânime fuga do abismo e dos extremos, mas o ponto necessário em direção a um objetivo, seguramente não apontado, antes inventado no próprio percurso. Esta visão a posteriori de um processo de trabalho criativo sempre traz o ranço da simplificação, da facilidade daquela que, observando à distância, traça no mapa o percurso da aventura que não realizou.
O que foi acrescentado e transformado nesse conjunto de telas que vão lhe diferenciar da longa série anterior de impressões com pigmentos in natura, que às vezes recebiam uma intervenção cromática em tons azuis, amarelos ou vermelhos, em forte oposição às cores sombrias de terras queimadas das paredes da pequena indústria de pigmentos no interior de Minas Gerais?
Não é uma série aberta, mas um conjunto fechado, uma totalidade que se diferencia da anterior, buscando apresentar-se de uma só vez, presentes começo, meio e fim. Antes nos encontrávamos diante de momentos sucessivos de um processo cujos limites, só agora, podem ser traçados. Se unem numa pequena coleção na busca de uma estruturação mais sistematizada e outro tratamento da luz, ou melhor, outro diálogo com a luz.
Essa organização interna mais evidente não constrange a presença de todo o processo anterior, porque manifesta-se pelo artifício da justaposição de um elemento estranho à superfície pictórica. Digamos que a vontade construtiva não violentou os elementos que evocavam a primitiva manifestação do gesto de impressão das marcas dos pigmentos. Para construir esta arquitetura, o círculo e a elipse, elementos escultóricos, atravessam todas as peças como uma invariante estrutural do conjunto. Desdobram o trabalho, lhe dão uma existência espacial, paradoxalmente, negando-lhe volume, como se insistissem na memória de sua origem: as telas. Isto, além de sustentar a idéia da interdependência entre os diversos trabalhos, ajuda a realçar sutilmente, as diferenças.
Mas há na pintura um jogo a mais, um problema acrescentado na oposição entre a opacidade e a transparência, entre a espessura das camadas pictóricas – seus atributos de absorção de luz pelas terras que se distribuem em marcas, quase ícones das diversas impressões – e o suporte.
Um dia na sua história, a pintura se despregou dos muros, foi para as madeiras e, mais tarde, para as telas. Essa conquista, muito além de seus aspectos técnicos e sociais, contribuiu para mudanças de linguagem e até mesmo para acelerar processos produtivos, com consequências para todo o pensamento pictórico posterior à sua introdução. Num jogo especular com os elementos da história, Vergara inverte essa dimensão, trazendo para as telas – o suporte por excelência desde a Renascença – as marcas do suporte ancestral, o muro. Esses elementos já estavam presentes em todas as séries anteriores. Mas, agora, à força do contraste entre a opacidade da superfície impressa e a luz que atravessa a semi-transparência das telas, a oposição se materializa de modo mais evidente: sem o chassi convencional e expostas com as vértebras à mostra, círculos e elipses, se opondo à sua forma quadrada. Adquirem uma espécie de fragilidade construída para que o elogio do muro e do pigmento se manifeste de um modo esclarecedor.
São paredes de um claustro dilacerado pela laicização da vida e pelo rebaixamento das atividades que exigem destreza. Expostas numa capela ou numa sala, solicitam o silêncio, não de uma cerimônia, mas da oração a um mundo que, impossível de ser restaurado, pode amanhecer na lembrança" — Paulo Sergio Duarte, maio de 1993.
ESTRANHA PROXIMIDADE
"Num país onde boa parte da arte contemporânea se relaciona de modo direto ou indireto, interagindo ou reagindo, com o capítulo construtivista que marcou e ainda marca a sua arte, a pintura de Carlos Vergara vem desenvolvendo desde 1989 produz certa estranheza. Essa diferenciação se realiza pela forma como ele incorpora questões locais. Paradoxalmente, é estranha pelo fato de ser uma pintura brasileira sem se ligar a estereótipos da província. Quando recusamos os ícones que uma certa figuração explorou criando imagens exóticas de si mesma, passamos a admitir o esforço reflexivo dos trabalhos construtivistas e pós-construtivistas que se orientam por uma ordem conceitual onde qualquer elemento local se encontra mediado por tantas instâncias que passa desapercebido. Mas de que modo essa pintura pode se dizer portadora de uma estranha proximidade? Lembro-me de um pequeno texto de Walter Benjamim, entre os muitos textos curtos que narram seus sonhos, onde a ansiedade se assemelha à sensação que certos brasileiros experimentam diante dessas telas. No sonho ele se encontrava junto a um imenso muro de pedra, tão próximo que não permitia que ele visse o restante da construção; sua angústia crescia porque ele sabia que aquela pedra do muro era a Notre Dame. Estava junto à catedral e não podia vê-la porque não era possível recuar para ver o todo. Um verdadeiro pesadelo. Se não me falha a memória, Maurice de Candillac traduziu o título dessa pequena narrativa como Proche, trop proche.
Esta pintura de Vergara carrega esta proximidade excessiva. De início, seu procedimento sublinha seu caráter imediato: a monotipia das paredes de uma pequena fábrica de pigmentos de óxido de ferro, na cidade de Rio Acima, a meio caminho entre Belo Horizonte e Ouro Preto, se escolhermos pequenas estradas do interior, no estado de Minas Gerais. A presença desses tons pertence à paisagem dessa imensa região onde o ferro aflora no solo e nas encostas das montanhas. A população ali convive com essas cores da mesma forma que aqueles que vivem na Amazônia convivem com diversos tons de verde. Por razões históricas esses pigmentos se encontram, também, presentes na origem da pintura no Brasil, se excluímos as manifestações artísticas dos índios, de interesse estético-antropólogico. Encontramos estes pigmentos já na pintura do início do século XIX , na obra do Mestre Atayde nas igrejas dessa região. Há, portanto,essa presença cromática imediata da paisagem e da própria história da pintura.
A cor e o caráter imediato do procedimento não bastam para compreender essas pinturas, há a escala e uma inteligente inversão. Visualmente os tons terra, ferruginoso, ocre, vermelhão do óxido de ferro não são suficientes para transportar uma significativa parte do Brasil para essas telas. A generosidade de suas dimensões e o caráter propositalmente artificial, postiço, das estruturas em elipse que participam de sua sustentação, como vértebras expostas, também têm algo familiar e que temos dificuldade de aceitar como constituindo a nós mesmos: essa grandeza frágil. Falamos da paisagem mas as telas nos sugerem, evidentemente, um interior. Duplo movimento carregado de sentido: trazer para o lugar da arte como cena interior os valores cromáticos e a extensão do exterior. E evocar que valores objetivos ainda residem, incertos, como uma nebulosa subjetividade na consciência cultural do país.
Encontramos no passado e no presente estes valores dispersos em diversas obras de arte no Brasil, mas me parece que raramente reunidos num só trabalho. Há um investimento romântico nessa pintura de Vergara que parece acreditar que ali no fragmento, no pedaço de parede, pode estar o todo e que esse encontro não pode ser perturbado por uma racionalidade inibidora, mas capturado no instante mesmo da impressão das telas. Atual, o sublime aqui não pressupõe nenhuma transcendência, ao contrário, dirige na penumbra dessas telas o olhar para esse território onde nos encontramos de tal forma mergulhados que não o vemos" — Paulo Sergio Duarte, maio de 1995.
CARLOS VERGARA NO MAM
"Um dos principais artistas de sua geração, Carlos Vergara vem caracterizando sua produção mais recente por uma indagação muito particular sobre os limites do código pictórico, tendo como elemento propulsor não à circunscrição de seu fazer aos limites do atelier – com as ferramentas tradicionais do pintor – mas, pelo contrário, preferindo o embate direto com a natureza física e cultural do país de onde extrai seus registros, índices de sua existência real, distante do circuito institucionalizado da arte.
Um neoromântico de volta à natureza para descrevê-la e interpretá-la ao seus moldes, por exemplo, dois antigos pintores-viajantes? Felizmente não ou, pelo menos, não de todo. Embora romântico na essência, o movimento de Vergara rumo à natureza não visa interpretá-la mas sim deixar que ela se registre por si mesma, contando com artista apenas como uma espécie de “acesso”.
Sobre suporte prévia ou posteriormente trabalhado pelo artista, a natureza contamina o campo plástico através de índices de si mesma: fuligem, marcas de plantas, pegadas de animais... sinais de uma vida alheia à arte que, transportado para os espaços das galerias e museus, passam a interagir com o universo alto-centrado da busca da forma-pura, embora em nenhum momento deixem de sugerir suas origens mais remotas...
Estranhas na complexidade formal que as caracteriza, inquietantes em suas viagens e na configuração final que assumem quando trazidas para o campo institucional da arte, essas pinturas e monotipias de Carlos Vergara precisam ser vistas pelo público paulistano, que agora pode contemplá-las no espaço no Museu de Arte Moderna de São Paulo" — Museu de Arte Moderna de São Paulo.
CONVERSA ENTRE CARLOS VERGARA E LUIZ CAMILO OSORIO
1
Luiz Camilo Osorio: Ultimamente virou moda da tradição construtiva da arte brasileira, como se ela fosse responsável por qualquer ortodoxia poética que tive inibido a novidade e a invenção criativa. Ao invés de ver naquele momento, e nos seus desdobramentos posteriores, a realização de obras fundamentais para nossa história da arte, de um padrão de qualidade a ser seguido, atualizado e desenvolvido, tomam-no apenas segundo uma retórica formalista, que existiu, mas que é o que menos interessa. Como você, que veio de uma geração imediatamente posterior, que retomou a figuração – o grupo do Opinião 65 – mais que perseguiu um caminho próprio e corajoso na pintura nestes últimos 30 anos, percebe este passado recente e esta polêmica em torno da tradição construtiva? Mesmo que você não queira responder, acho importante começar com esta minha ressalva de que te colocaria, junto com a “Nova Figuração” de meados dos anos 60, vinculado à abertura experimental do neo-concretismo. E faço isto só para recusar certas “leituras” que cismam em desprezar o papel formador da nossa tradição construtiva. Dito isto, passemos para outros assuntos.
Li recentemente um texto do historiador Hubert Damish em que ele falava algo do tipo, ou a pintura mostra a sua necessidade no interior de nossa cultura contemporânea, ou considere-se historicamente superada, ou seja, não se trata apenas de pegar o pincel, as tintas e a tela, e pronto, há a pintura, mais de atualizar uma necessidade história dentro de uma cultura como a nossa, inflacionada de imagens. Como você, que é um pintor obstinado, vê está declaração? Desde a Bienal de 89 sua pintura tomou uma direção específica, lidando com pigmentos naturais, com procedimentos de impressão e impregnação que vão maturando na tela uma experiência pictórica que é, digamos, retirada do mundo e não inventada pelo pintor. Será que é isto mesmo, que é oferecido pela sua pintura é mais um deixar ver uma pele essencial do mundo do que o criar uma experiência pictural autônoma?
Carlos Vergara: Em 1989 meu trabalho não tomou sozinho uma nova direção, eu decidi dar nova direção por estar seguro que havia esgotado a série começada em 1980, onde abandono a figura e mergulho numa figura que tinha como procedimento uma “medição com cor” do espaço e da tela, dividindo com diagonais paralelas, formando uma grade. Havia chegado a exaustão; continuar seria me condenar a não ter mais a sensação de descoberta e tornar tudo burocrático. Só artesanato.
Em 1989 propus para mim, com desapego, me colocar num marco zero da pintura e olhar para fora e para dentro.
Fazer pintura significa aceitar o peso histórico de uma atividade que só não é anacrônica se contiver uma aventura, que supere a questão da imagem, que mexa com procedimento e tenha um projeto, mesmo assim a pintura de sempre que o suporte determina. Portanto é preciso “ler” o projeto e procedimento para saber se não é só mímica, historicamente superada.
Durante viagem, em 1995, quando “refizemos” parte da expedição Langsdorff, pelo interior do Brasil viajou conosco Michael Fahres, músico alemão que compunha com sons coletado da natureza, e ele havia gravado na costa da Espanha, cujas rochas tinham longuíssimas perfurações, onde as idas e vindas das ondas soavam como a respiração do planeta e era um som que tinha a idade do tempo e uma vertiginosa capacidade de te tocar em áreas obscuras, a não ser que fosses surdo do ouvido ou da alma.
Esse “Ready Made” natural deslocado e manipulado era e é pra mim pura música. Será que esse “deixar ver uma pelo essencial do mundo”, que você diz, e que é parte da minha pintura atual, não é uma experiência pictórica autônoma?
Do ponto de vista do planeta, da trajetória do planeta no universo, da idéia de tempo e tamanho desse universo, as questões da arte não têm importância. Já do ponto de vista do ser humano que vive neste planeta e neste universo, têm importância por ensinar a ver e imaginar e a imaginar e ver e capacitar a entender este planeta, sua trajetória no universo etc e etc.
A pintura quando deixa de ser enigma, catalizadora de áeras mais sutis do teu ser, deixa de ser necessária. Só é necessária uma arte que, por ser mobilizadora, justifique sua existência. É essa capacidade expressiva que lhe dá razão de ser.
Estou falando do ponto de vista do pintor. Para falar do ponto de vista do público deveríamos falar sobre as inúmeras formas de cegueira e insensibilidade.
LCO: Vergara, quanto à sua indagação se o “ready-made natural deslocado e manipulado”que é “pura música”não pode ser uma experiência pictórica autônoma, é claro que eu acho que sim, não obstante o fato de ele trazer para dentro desta experiência um resquício, do mundo, da referência, que é retrabalhada e resignificada. Portanto, é esta tenção entre ser algo que se sustente enquanto acontecimento pictórico e ser algo que te remeta simultaneamente para fora da pintura, o que mas me interessa nestes trabalhos. Desculpe trazer um dado pessoal para nossa discussão, mais parece-me pertinente. O meu pai, que não tem nenhuma proximidade com artes plásticas, viu uma pintura sua impregnada do chão e das cores ferruginosas de Minas e imediatamente interessou-se por ela. A sua alma itabirana, que é 90% ferro, foi tocada sem que nada fosse dito quanto ao procedimento ou à feitura do trabalho. Ele foi enviado para sua memória, o seu tempo, as suas cores, o seu mundo.
2
LCO: Mais de uma vez vi você falando de uma especificidade cultural, para usar um termo perigoso mas que não deve ser evitado, de uma brasilidade, relacionada à sua pintura. Sabendo-se que não se trata nem de uma nostalgia nacionalista, nem de uma apelação narrativa ligada às excentricidades do mercado, como esta questão aparece para você?
CV: No momento, essa questão de uma “brasilidade” no trabalho, eu vejo às vezes como inevitável. Não acho, porém, que seja importante.
Certa vez o saudoso Sergio Camargo falava de uma hipótese que ele levantava, se essas pequenas decorações geométricas dos frontões ou certas platibandas decoradas com argamassa nas casas de subúrbio e do interior, uma certa compulsão decorativa da arquitetura popular, não teria origem no sangue mouro misturado na Península Ibérica.
Aquela coisa geométrica do arabesco, talvez fosse uma atávica tendência construtiva nossa.
Se fosse andar por São Paulo, com o olho atento nos grafiti nas ruas, vai perceber diferenças gráficas bem claras em relação ao Rio; um “gótico” paulista com ângulos agudos e um “barroco” carioca de curvas e sinuosidades. O teu olho está empregnado da maneira e da luz do teu lugar e teu trabalho pode devolver isto, e se não filtrar o teu discurso dessa “cor local” em demasia pode até extrapolar e trabalhar contra. O que acho é que em certos momentos vem à superfície alguma coisa que poderia “localizar” o trabalho, e isso não pode tirar a força expressiva; ao contrário, fornecer um viés especial de uma questão universal. Kiefer é um exemplo, Serra outro.
Podem fazer parte dos mecanismos da experimentação, entre outras coisas, uma ritualização da repetição, uma palheta escolhida com critério, opções de escala específica, e essas seriam maneiras de passar uma informação subjacente que cria um campo especial para leitura do trabalho e isso pode ser exacerbado até ao uso de miçangas mais aí já é outra conversa...
Alguns artistas bem sei, filtram isso até o ponto onde o trabalho parece não ter origem e são coisas que me interessam muitíssimo, mas creio que outros não conseguem esconder a bandeira ou o esforço para escondê-la tornaria o trabalho por demais racional. Essa também é uma velha discussão.
LCO: Acho esse tema da identidade nacional dos mais instigantes e difíceis da arte no século XX. Sabemos muito bem o tipo de descaminho que a radicalização da questão nacional pode tomar; Por outro lado, recusá-la pura e simplesmente não me parece a resposta mais interessante para o desafio. Como tratá-la sem reducionismo, fazendo com que o mais próprio de uma cultura, de uma tradição cultural, possa integrar o outro, falar para além de si mesma, universalizar-se? Está é uma longa história desde o modernismo. Quem deu um tratamento dos mais geniais a isto foi o Guimarães Rosa; Em uma entrevista famosa com o critíco alemão, o Günter Lorenz, ele disse que a brasilidade é “die Sprache des Unaussprechlichen”, assim mesmo em alemão apesar da entrevista ter sido em português. Traduzindo do alemão teríamos algo como que a brasilidade é a expressão do inexpressível, ou linguagem do indizível, ou seja, algo que não se mostra diretamente, mas que está lá, que pulsa na obra. Porque será que ele usou a expressão em alemão? Logo ele, o gênio maior da língua?
Acho que esta pergunta deve ficar no ar, acreditando no fato de que seja lá o que for e como se expresse, a brasilidade não é nacionalista – em seguida ele mesmo diz que ela é um sentir-pensar. Fiquemos por ora com isso: um sentir-pensar.
Mudando para as artes plásticas, onde o tema fica ainda mais complicado, acho que discutir a brasilidade a partir de uma atávica tendência construtiva, que vem de nossa origem ibérica, mediterrânea, é um caminho interessante, sendo que não podemos esquecer, como você salientou, algo que vem do barroco e que tomou direções as mais variadas, chegando às vezes a confundir-se com mau gosto ou kitsch, o que é um absurdo. O Mario Pedrosa é que disse que fomos inventados pelo Barroco, que era a “vanguarda” no século XVI e por isso estávamos condenados ao moderno, a um olhar que não se volta para trás pois não existe nada lá, tudo está por fazer, a experimentação é nosso destino. É claro que toda essa especulação não resolve o problema dos modos de atualizar artisticamente esta questão. Isto vai acontecer sempre caso a caso, e independente do valor artístico.
Acho interessante esta sua afirmação da “ritualização da repetição”, afinal um rito sem mito instaura-se como ritmo, já disse o Argan a respeito do Pollock. E este ritmo não te parece similar a um sentir-pensar, que vai impregnar-se na visualidade, constituindo certas especificidades poéticas? Lembro sempre do Fabro escrevendo “entendo Shakespeare, posso até participar, mais não falo como Dante”. Acabei divagando mais do que queria, será que você pode falar mais sobre este tema, sobre a ritualização da repetição?
3
LCO: Gostaria de entrar na questão da técnica. Será que se você fizesse tudo no atelier, se não houvesse a impregnação do chão e dos fornos, o resultado da experiência pictórica seria a mesma? Não te parece que sem ser uma “documentação” ou “ilustração” de algo externo, este procedimento, que se entranha no trabalho, na pintura, cria uma certa tenção perceptiva que te faz ver o que não é pintura, ou seja, uma memória de mundo perdida e reencontrada?
Por falar em memória, como você vê e pensa a questão nestes trabalhos?
Você não acha que as tuas últimas pinturas, estas em que você entra com a Dolomita- que eu estou apanhando à beça- elas perdem uma certa temporalidade, são mais diretas, menos contemplativas? Será que dá pra se dizer que estes trabalhos conseguem ser pop e teatrais (dramáticos) simultaneamente?
Uma última questão relativa à técnica: depois de 10 anos trabalhando nas bocas de forno, quanto é acidente e quanto é intencional? O que te leva a entrar com cor no atelier depois de uma impregnação?
CV: Você me pergunta se fazendo tudo no atelier o resultado seria o mesmo: As monotipias feitas fora, seja nos fornos, em viagem ou com qualquer matriz, se estruturam no atelier. Quando são deslocados no contexto da impressão, recebem chassis, além das eventuais intervenções posteriores, com cor ou simplesmente como uma fixação mais rigorosa com resina, aí sim elas ganham corpo e densidade suficiente.
Não se esqueça que muitas das pinturas que você viu, não tem mais nem sinais da primeira impressão que deu origem ao trabalho. Em outros casos, a simples documentação de um momento de calor e fumaça são suficientemente eloquentes e justificam sua existência. Muitas vezes eu preciso entrar com uma cor ou outra ação, que tensione o trabalho e o faça funcionar.
Eu não tenho controle total das impregnações. Nem quero. É risco e chance. Uma escolha. Um acidente intencionalmente provocado.
Quanto ao tema da brasilidade, a mim interessa, como não interessa a outros, usar um idioma peculiar, que mesmo sendo, assim dizendo, erudito eu cuide do Brasil sem me ufanar – aliás porque não há tantos motivos. Nesse bem simbólico que é a pintura, quero que você se reconheça com bem ou mal estar. Esse meu prazer pessoal já disse, não acho de suma importância, nem mesmo formador de valor. Me preocupo mais com o que o discurso ultrapasse isso mantendo um sabor, uma temperatura, que mostre uma tradição sem que ela exista organizada.
Quanto à questão do tempo, há um tempo evocado pela construção da imagem, há um tempo que a própria pintura pede para poder ser lida, há um tempo físico que a secagem exige para cada ataque à tela. Há também um tempo de outra ordem, relativo ao momento da ação. Um tempo ligado ao gesto que só acontece intuído e com mensuração impossível.
A Dolomita me ajuda, nisso. É pó de mármore aplicado na tela com adesivo e é por si só um material expressivo e imediato.
Quantos aos trabalhos serem “pop” e teatrais, simultaneamente, eu não sei. Pop me enche o saco, mais acho que a Dolomita me dá um branco direto que apaga o que veio antes e que tem capilaridade para receber impregnação de outras cores e comente a própria criação do pintor e esculpe enquanto pinta e tem uma presença teatral que me intriga e talvez isso seja pop.
Cada tela é um cadinho de idéias de pintura e sobre pintura. Vou pensando sobre o que estou fazendo enquanto estou fazendo, e me coloco aberto para as contradições que surgem. Não tenho nenhuma tese para provar. Acho que daí vem às diferenças que existem entre as séries dos trabalhos que produzo. Não entro em pânico e até me agrada se o trabalho seguinte não se parecer com o anterior.
4
LCO: Tentando organizar um pouco mais nosso diálogo. De um modo geral, acho que nossas posições são coincidentes, quanto à questão do tempo, da brasilidade, da técnica, da autonomia do fenômeno pictórico. Neste último ponto, só tentei matizar um pouco a relação abstração/referencialidade através do procedimento das impregnações, que se dá fora do ateliê trazendo fisicamente o mundo para a tela. Não há, em função dos seus procedimentos, o tal “virar as costas para a natureza” do Mondrian, não é?
Você tem razão quanto ao fato da pintura ter de se sustentar por si só, por outro lado, acho que do mesmo modo que as colagens cubistas traziam um mundo real para o plano pictórico, criando certas tensões entre realidade e ficção, estes seus trabalhos criam passagens e isto, por mais escondido que fique, é interessante.
Não podemos ficar reticentes quanto a este tema da brasilidade pelo fato dele ser difícil e delicado. Temos que assumi-lo e pensá-lo, sem resolvê-lo, é claro. E demos alguns passos, por mais hesitantes para as diferentes tonalidades de nossas abordagens. A sua geração sofreu demais com esta questão do nacional-popular via CPC; já eu, com os meus parcos 36 anos, fiquei fora desta, para o bem ou para mal, depende da perspectiva. Por isto, o meu interesse é arqueológico e não ideológico; de pensar uma origem e um destino, e não de constituir ou “bandeiras” ideológicas – que já foram muito válidas, diga-se de passagem.
Nesta última resposta você menciona sua relação, a cada pincelada, com a história da pintura. Isto é bom e acho que a sua variedade poética tem a ver com isto. Naquele nosso último encontro em Macacú, no seu ateliê, fiquei surpreso, vendo tudo aquilo junto, com a quantidade de “acessos” e referências que seus trabalhos permitem. Tem momentos que sou transportado para Renascença – com umas diagonais do Uccello e alguns azuis venezianos – ou para momentos mais recentes. E nunca isto é feito para esgotar o trabalho mas para estabelecer diálogos. Nisto acho que tem algo do Frank Stella na sua poética. Eu também estou de saco cheio da pop, mas ela existe e ainda não foi suficientemente compreendida.
Por favor, não confunda estas considerações com nenhuma tese; artista ou critico com teses não dá muito certo, o que não quer dizer, muito pelo contrário, que não haja idéias, estas são sempre fundamentais, é o que move o pincel!
Você já acabou aquele trabalho “extraído” das ruas do Rio? Ele estava prometendo!
CV: Voltando à questão da repetição, o que eu quis dizer é que acho possível adensar o trabalho, adicionar mais sentido com a ritualização da repetição e não esvaziar de sentido se essa repetição for só mecânica. Da viagem à Índia que fiz, me lembro da forma de venerar Hanuman, uma deidade macaco importante personagem que ajudou Rhama a atravessar a floresta no épico Ramayana. As imagens representando um macaco são untadas com óleo e pigmento laranja a séculos, e já não tem mais forma, são só um impressionante acumulo alaranjado com dois olhinhos lá no fundo. Você só vê um monte alaranjado e sabe que lá dentro esta Hanuman. E esse alaranjado vai se espalhando entorno do lugar com as marcas das mãos que as pessoas deixam ao limpá-las da tinta que lhes sobrou.
A revisita que faço às Minas Gerais dos óxidos nestes 10 últimos anos posso dizer que tem sido um ritual que a cada vez renova o sentir-pensar.
Pode parecer um contracenso mas a repetição ajuda a refletir esvaziando de pensamento premeditado. Se trata de produzir uma coisa elaboradamente simples. Há uma diferença energética nisso.
No tempo em que a pintura era feita só por adição e escultura só por subtração, isso era mais fácil de se perceber
De 23 de agosto de 1999 a 4 de setembro de 1999
Fonte: Ateliê Carlos Vergara. Consultado pela última vez em 27 de fevereiro de 2023.
Crédito fotográfico: Wikipédia. Consultado pela última vez em 28 de fevereiro de 2023.
Carlos Vergara
Carlos Augusto Caminha Vergara dos Santos (Santa Maria, Rio Grande do Sul, 1941), mais conhecido como Carlos Vergara, é um gravador, fotógrafo e pintor brasileiro. Distingue-se como um dos principais nomes das vanguardas neofigurativas das décadas de 1950 e 1960 e possui uma vasta produção artística. Vergara começou a trabalhar com cerâmica ainda jovem, um tempo depois, passou a dedicar-se ao artesanato de jóias de prata e cobre. Também atuou como pintor de murais, vitrais, cenógrafo e figurinista. Expôs extensivamente pelo Brasil e em outros países como Inglaterra, Japão, Portugal, Colômbia, Peru, entre outros. Além de suas exposições, Vergara também acumulou prêmios, como o prêmio Itamaraty, quando participou da IX Bienal de São Paulo. Entre outros, estão o prêmio ABCA - Prêmio Clarival do Prado Valladares; Prêmio Cultura do Estado do Rio de Janeiro; Prêmio ABCA Mario Pedrosa; Prêmio Henrique Mindlin - IAB/RJ; Prêmio Affonso Eduardo Reidy - IAB/GB; e o primeiro de pintura no I Salão de Pintura Jovem de Quitandinha, em Petrópolis - RJ.
MAM: Carlos Vergara | 2020
Carlos Vergara sobre cinema e arte | 2010
Artista Plástico: Carlos Vergara | 2020
O universo de Carlos Vergara | 2019
Parceria entre Carlos Vergara e Etel Interiores | 2017
Impressões de Carlos Vergara | 2014
MAM-Rio: "Prospectiva: Carlos Vergara" | 2019
Usina de Arte: Carlos Vergara | 2022
Studio Visit #3: Carlos Vergara | 2020
Biografia Carlos Vergara pt 1 | 2017
Biografia Carlos Vergara pt 2 | 2017
Biografia Carlos Vergara pt 3 | 2017
Entrevista Carlos Vergara | 2014
Biografia – Itaú Cultural
Carlos Augusto Caminha Vergara dos Santos (Santa Maria, Rio Grande do Sul, 1941). Gravador, fotógrafo, pintor. Distingue-se como um dos principais nomes das vanguardas neofigurativas das décadas de 1950 e 1960 e possui uma vasta produção artística.
Ainda jovem, Carlos Vergara começa a trabalhar com cerâmica. Na década de 1950, transfere-se para o Rio de Janeiro, e, paralelamente à atividade de analista de laboratório, dedica-se ao artesanato de jóias de prata e cobre. Treze dessas peças são expostas na 7ª Bienal Internacional de São Paulo, em 1963. Nesse mesmo ano, volta-se para o desenho e a pintura, realizando estudos com Iberê Camargo (1914-1994).
Em 1965, participa da mostra Opinião 65 com três trabalhos: O general (1965), Vote (1965) e A patronesse e mais uma campanha paliativa (1965). A partir de 1966, Vergara incorpora ícones gráficos e elementos da arte pop à sua base expressionista. Ele faz seus primeiros trabalhos de arte aplicada, como o mural para a Escola de Saúde Pública de Manguinhos e a cenografia para o grupo de teatro Tablado, ambos no Rio de Janeiro, em 1966. Participa também da mostra Opinião 66, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM/Rio). Até 1967, produz pinturas figurativas, com pinceladas ágeis e traço caricatural, além de um tratamento expressionista. O crítico de arte Paulo Sérgio Duarte (1946) compara esses trabalhos às pinturas do grupo CoBrA, de artistas como Acir Juram (1914-1973) e Karel Appel (1921-2006), pelo "culto à liberdade expressiva, apropriação do desenho infantil, elogio do primitivo e do louco".
Também em 1967, organiza ao lado de colegas a mostra Nova Objetividade Brasileira, que procura fazer um balanço da vanguarda brasileira. Atua ainda como cenógrafo e figurinista de peças teatrais. Nesse período, produz pinturas figurativas, que revelam afinidades com o expressionismo e a arte pop.
Em 1968, passa a pintar sobre superfícies de acrílico, fazendo desaparecer as marcas artesanais de sua prática pictórica. No mesmo ano, explora novas linguagens e mostra o ambiente Berço esplêndido (1968), na Galeria Art Art, em São Paulo. O trabalho combina as investigações sensoriais de artistas como Hélio Oiticica (1937-1980) com a denúncia política.
Durante a década de 1970, utiliza a fotografia e filmes Super-8 para estabelecer reflexões sobre a realidade. O carnaval passa a ser também objeto de sua pesquisa. Atua ainda em colaboração com arquitetos, realizando painéis para diversos edifícios, empregando materiais e técnicas do artesanato popular.
Em 1972, publica o caderno de desenhos Texto em branco, pela editora Nova Fronteira. Durante os anos 1980, volta à pintura, produzindo quadros abstratos geométricos, nos quais explora, principalmente, tramas de losangos que determinam campos cromáticos. Utiliza em seus trabalhos pigmentos naturais, retirados de minérios, materiais que também usa na produção de monotipias, muitas delas realizadas em ambientes naturais, como o pantanal mato-grossense. Em 1997, realiza a série Monotipias do Pantanal, na qual explora o contato direto com o meio natural, transferindo para a tela texturas de pedras ou folhas, entre outros procedimentos.
Carlos Vergara tem uma produção artística contundente desde a década de 1950 e explora uma série de suportes distintos desde a gravura até a fotografia e a pintura.
Críticas
"A afirmação inicial do trabalho de Carlos Vergara prova o quanto 1964 foi divisor de águas na sociedade e na arte brasileira. (...) A marca do mestre (Iberê Camargo) refletia-se na disposição de dissolver a figura em constelações tanto nebulosas quanto rigorosas, densas e emblemáticas, no fio de prumo do abstrato. Mas os desenhos seguintes, entre 1964 e 1965, bastam para nos garantir que Vergara soubera também absorver as peripécias do sublevado ambiente em torno (...). Quando eram verticais as durezas de 1968, Vergara, ao mesmo tempo que ampliava o arsenal de seus materiais, associando-os ao suporte convencional, tornou mais óbvia a referência ao Brasil. A bandeira, as palmeiras, as bananeiras, o arco-íris, o índio e o verde-amarelo tomaram assento prolongado ali, como indícios de um olhar inquieto e crítico dirigido para um alvo preciso. Mas, logo adiante, à maneira de projeto, instantâneos da idéia indo e vindo, memória misturada à manobra, os trabalhos, particularmente os desenhos, assumiram rumo conceitual inequívoco" — Roberto Pontual (PONTUAL, Roberto. Entre dois séculos: arte brasileira do século XX na coleção Gilberto Chateaubriand. Prefácio de Gilberto Allard Chateaubriand e Antônio Houaiss. Apresentação de M. F. do Nascimento Brito. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 1987).
"Num país onde boa parte da arte contemporânea se relaciona de modo direto ou indireto, interagindo ou reagindo, com o capítulo construtivista que marcou e ainda marca a sua arte, a pintura que Carlos Vergara vem desenvolvendo desde 1989 produz certa estranheza. Essa diferenciação se realiza pela forma como ele incorpora questões locais. Paradoxalmente, é estranha pelo fato de ser uma pintura brasileira sem se ligar aos estereótipos da província. Quando recusamos os ícones que uma certa figuração explorou criando imagens exóticas de si mesma, passamos a admitir o esforço reflexivo dos trabalhos construtivistas e pós-construtivistas que se orientam por uma ordem conceitual onde qualquer elemento local se encontra mediado por tantas instâncias que passa desapercebido.
(...)
Há um investimento romântico nessa pintura de Vergara que parece acreditar que ali no fragmento, no pedaço de parede, pode estar o todo e que esse encontro não pode ser perturbado por uma racionalidade inibidora, mas capturado no instante mesmo da impressão das telas. Atual, o sublime aqui não pressupõe nenhuma transcendência, ao contrário, dirige na penumbra dessas telas o olhar para esse território onde nos encontramos de tal forma mergulhados que não o vemos" — Paulo Sérgio Duarte
DUARTE, Paulo Sérgio. "Estranha Proximidade". http:// www. carlosvergara.com. br/sobreframe. htm, 1995.
"(...) A obra atual de Vergara faz dele um dos mais inquietos artistas de sua geração. Recusando-se a restringir-se ao mero prazer de um formalismo esteticista, ele vai mais fundo em sua busca formal, ao traduzir através dela, com talento e originalidade, uma vontade de transformação que faz do próprio ato de pintar um gesto contínuo de prazer, expressão de um processo natural que emana da vida mesma. Como quem respira, ele arranca à própria vida a força de unir esse gesto à natureza, de onde extrai seus pigmentos de cor e uma energia que age como um halo que perpassa suas telas e que nelas une forma, cor, luz, calor, matéria, ação e inação.
Com isso Vergara se revela um pintor à procura de uma brasilidade reconhecível no que poderia haver de mais brasileiro, a terra, o pigmento da terra, a cor da terra. A textura que vem dessa terra, com que ele pinta como quem extrai das entranhas da natureza o mineral mais precioso, constrói uma impressionante gama de cores terrosas que acrescenta uma notável dose de dramaticidade à sua obra.
Essa carga dramática é a chave para se explicar seu lado barroco, esse claro-escuro que atravessa suas pinturas e as torna barrocas não só pelo sentido religioso com que elas acabam por impregnar-se, mas também quando ele apela para os sentidos como um chamamento imperioso. Isso se vê, por exemplo, nas grandes monotipias, que ele imprime como num ato lúdico, jogando com o pigmento, a cor e a textura que vêm dessa terra, para construir uma nova forma de expressão que faz da própria pintura um gesto de interpretação da vida. Correndo como um veio poderoso por suas obras, esse gesto a elas se incorpora como força material, uma força vital" — Emanoel Araujo (ARAUJO, Emanoel. Carlos Vergara: à procura da cor brasileira. In: Carlos Vergara: 89/99. São Paulo: Pinacoteca, 1999, p. 3).
Depoimentos
"Em 1989, meu trabalho não tomou sozinho uma nova direção, eu decidi dar uma nova direção por estar seguro que havia esgotado a série começada em 1980, onde abandono a figura e mergulho numa pintura que tinha como procedimento uma 'medição com cor' do espaço da tela, dividindo com diagonais paralelas, formando uma grade. Havia chegado à exaustão; continuar seria me condenar a não ter mais a sensação de descoberta e tornar tudo burocrático. Só artesanato.
Em 1989, propus para mim, com desapego, me colocar num marco zero da pintura e olhar para fora e para dentro.
Fazer pintura significa aceitar o peso histórico de uma atividade que só não é anacrônica se contiver uma aventura, que supere a questão da imagem, que mexa com o procedimento e tenha um projeto, mesmo assim a pintura de sempre que o suporte determina. Portanto, é preciso 'ler' o projeto e o procedimento para saber se não é só mímica, historicamente superada. (...)
A pintura, quando deixa de ser enigma, catalisadora de áreas mais sutis do teu ser, deixa de ser necessária. Só é necessária uma arte que, por ser mobilizadora, justifique sua existência. É essa capacidade expressiva que lhe dá razão de ser.
Estou falando do ponto de vista do pintor. Para falar do ponto de vista do público, deveríamos falar sobre as inúmeras formas de cegueira e insensibilidade. (...)
Quanto ao tema da brasilidade, a mim interessa, como não interessa a outros, usar um idioma peculiar, que mesmo sendo, assim dizendo, erudito, eu cuide do Brasil sem me ufanar - aliás, porque não há tantos motivos. Nesse bem simbólico que é a pintura, quero que você se reconheça com bem ou mal estar. Esse meu prazer pessoal, já disse, não acho de suma importância, nem mesmo formador de valor. Me preocupo mais com que o discurso ultrapasse isso mantendo um sabor, uma temperatura, que mostre uma tradição sem que ela exista organizada.
Quanto à questão do tempo, há um tempo evocado pela construção da imagem, há um tempo que a própria pintura pede para poder ser lida, há um tempo físico que a secagem exige para cada ataque à tela. Há também um tempo de outra ordem, relativo ao momento da ação. Um tempo ligado ao gesto, que só acontece intuído e com mensuração impossível. (...)
Cada tela é um cadinho de idéias de pintura e sobre pintura. Vou pensando sobre o que estou fazendo enquanto estou fazendo, e me coloco aberto para as contradições que surgem. Não tenho nenhuma tese para provar. Acho que daí vêm as diferenças que existem entre as séries dos trabalhos que produzo. Não entro em pânico e até me agrada se o trabalho seguinte não se parecer com o anterior. (...)
Voltando à questão da repetição, o que eu quis dizer é que acho possível adensar o trabalho, adicionar mais sentido com a ritualização da repetição, e não esvaziar de sentido se essa repetição for só mecânica. Da viagem à India que fiz, me lembro da forma de venerar Hanuman, uma deidade-macaco, importante personagem que ajudou Rhama a atravessar a floresta no épico Ramayana. As imagens representando um macaco são untadas com óleo e pigmento laranja há séculos, e já não têm mais forma, são só um impressionante acúmulo alaranjado com dois olhinhos lá no fundo. Você só vê um monte alaranjado e sabe que lá dentro está Hanuman. E esse alaranjado vai se espalhando em torno do lugar com as marcas das mãos que as pessoas deixam, ao limpá-las da tinta que lhes sobrou.
A revisita que faço às Minas Gerais dos óxidos nestes 10 últimos anos posso dizer que tem sido um ritual que a cada vez renova o sentir-pensar.
Pode parecer um contrasenso, mas a repetição ajuda a refletir, esvaziando de pensamento premeditado. Trata-se de produzir uma coisa elaboradamente simples. Há uma diferença energética nisso.
No tempo em que pintura era feita só por adição e escultura só por subtração, isso era mais fácil de se perceber". — Carlos Vergara (VERGARA, Carlos & OSORIO, Luiz Camilo. "Conversa entre Carlos Vergara e Luiz Camilo Osorio". In: Carlos Vergara: 89/99. São Paulo: Pinacoteca, 1999, p. 5-6, 21-22, 32).
Exposições Individuais
1966 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Fátima Arquitetura
1966 - Rio de Janeiro RJ - Individual, no MAM/RJ
1967 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Petite Galerie
1968 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Art Art
1969 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Petite Galerie
1972 - Paris (França) - Individual, na Air France
1972 - Rio de Janeiro RJ - Individual, no MAM/RJ
1973 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Paulo Bittencourt e Luiz Buarque de Holanda
1975 - Rio de Janeiro RJ - Individual com trabalhos da Coleção Gilberto Chateaubriand, na Galeria Maison de France
1978 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Petite Galerie
1978 - São Paulo SP - Carlos Vergara: desenho, pinturas, fotografias, na Galeria Arte Global
1980 - Rio de Janeiro RJ - Anotações sobre o Carnaval, na Galeria Hotel Méridien
1981 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Monica Filgueiras
1983 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Thomas Cohn
1983 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1984 - Londres (Inglaterra) - Individual, na Brazilian Centre Gallery
1984 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1985 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1987 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1988 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Thomas Cohn
1989 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1990 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria de Arte Ipanema
1990 - Rio de Janeiro RJ - Individual, no Paço Imperial
1991 - Belo Horizonte MG - Individual, no Itaú Cultural
1991 - Belo Horizonte MG - Individual, no Palácio das Artes
1991 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1992 - Lisboa (Portugal) - Obras Recentes 1989-1991, no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian
1992 - São Paulo SP - Individual, na Capela do Morumbi
1993 - Antuérpia (Bélgica) - Individual, na Galeria Francis Van Hoof
1993 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Goudar
1993 - Rio de Janeiro RJ - Individual, no CCBB
1993 - São Paulo SP - Carlos Vergara, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1994 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1995 - Paris (França) - Individual, na Galeria Debret
1995 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Paulo Fernandes
1997 - Rio de Janeiro RJ - Carlos Vergara: gravuras, na Fundação Castro Maia
1997 - São Paulo SP - Monotipias do Pantanal e Pinturas Recentes, no MAM/SP
1998 - Rio de Janeiro RJ - Carlos Vergara: trabalhos sobre papel, na GB Arte
1998 - Rio de Janeiro RJ - Os Viajantes, no Paço Imperial
1999 - São Paulo SP - Carlos Vergara 89/99, na Pinacoteca do Estado
2001 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Silvia Cintra Galeria de Arte
2001 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Nara Roesler
2003 - Porto Alegre RS - Carlos Vergara Viajante: obras de 1965 a 2003, no Santander Cultural
2003 - São Paulo SP - Carlos Vergara Viajante: obras de 1965 a 2003, no Instituto Tomie Ohtake
2003 - Vila Velha ES - Individual, no Museu Vale do Rio Doce
2004 - São Paulo SP - Carlos Vergara, na Monica Filgueiras Galeria de Arte
Exposições Coletivas
1963 - Lima (Peru) - Pintura Latinoamericana, no Instituto de Arte Contemporâneo
1963 - São Paulo SP - 7ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal
1965 - Paris (França) - Salon de La Jeune Peinture, no Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris
1965 - Rio de Janeiro RJ - Opinião 65, no MAM/RJ
1965 - Rio de Janeiro RJ - 14º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/RJ
1965 - São Paulo SP - 2ª Exposição do Jovem Desenho Nacional, no MAC/USP
1965 - São Paulo SP - Propostas 65, na Faap
1966 - Belo Horizonte MG - Vanguarda Brasileira, na UFMG. Reitoria
1966 - Lima (Peru) - Pintura Latino-Americana
1966 - Rio de Janeiro RJ - Opinião 66, no MAM/RJ
1966 - Rio de Janeiro RJ - Pare, na Galeria G4
1966 - Rio de Janeiro RJ - 1º Salão de Abril, no MAM/RJ
1966 - Rio de Janeiro RJ - 15º Salão Nacional de Arte Moderna
1966 - Salvador BA - 1ª Bienal Nacional de Artes Plásticas
1966 - São Paulo SP - 8 Artistas, no Atrium
1967 - Belo Horizonte MG - 22º Salão de Belas Artes da Cidade de Belo Horizonte, no MAP
1967 - Petrópolis RJ - 1º Salão Nacional de Pintura Jovem, no Hotel Quitandinha
1967 - Rio de Janeiro RJ - Nova Objetividade Brasileira, no MAM/RJ
1967 - Rio de Janeiro RJ - 3º O Rosto e a Obra, na Galeria Ibeu Copacabana
1967 - Rio de Janeiro RJ - Salão das Caixas, na Petite Galerie - prêmio O.C.A.
1967 - Rio de Janeiro RJ - 16º Salão Nacional de Arte Moderna
1967 - São Paulo SP - 9ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal - prêmio aquisição
1968 - Rio de Janeiro RJ - 17º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/RJ
1968 - Rio de Janeiro RJ - 6º Resumo de Arte JB, no MAM/RJ - Prêmio Resumo JB de Objeto
1968 - Rio de Janeiro RJ - Bandeiras na Praça, na Praça General Osório
1968 - Rio de Janeiro RJ - 1ª Feira de Arte do Rio de Janeiro, no MAM/RJ
1968 - Rio de Janeiro RJ - O Artista Brasileiro e a Iconografia de Massa, na Esdi
1968 - Rio de Janeiro RJ - O Rosto e a Obra, na Galeria Ibeu Copacabana
1969 - Rio de Janeiro RJ - 18º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/RJ - prêmio isenção de júri
1969 - Rio de Janeiro RJ - Salão da Bússola, no MAM/RJ
1970 - Belo Horizonte MG - Objeto e Participação, no Palácio das Artes
1970 - Medellín (Colômbia) - 2ª Bienal de Arte Medellín, no Museo de Antioquia
1970 - Rio de Janeiro RJ - 19º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/RJ
1970 - Rio de Janeiro RJ - 8º Resumo de Arte JB, no MAM/RJ - Prêmio Resumo JB de Desenho
1970 - Rio de Janeiro RJ - Pintura Contemporânea Brasileira, no MAM/RJ
1970 - São Paulo SP - 2º Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM/SP
1971 - Rio de Janeiro RJ - 9ª Premiação do IAB/RJ
1971 - Rio de Janeiro RJ - Exposição de Múltiplos, na Petite Galeria
1972 - Rio de Janeiro RJ - 10ª Premiação do IAB/RJ
1972 - Rio de Janeiro RJ - Domingos de Criação, no MAM/RJ
1972 - Rio de Janeiro RJ - Exposição, no MAM/RJ
1972 - São Paulo SP - Arte/Brasil/Hoje: 50 anos depois, na Galeria da Collectio
1973 - Rio de Janeiro RJ - Indagação sobre a Natureza: significado e função da obra de arte, na Galeria Ibeu Copacabana
1973 - São Paulo SP - Expo-Projeção 73, no Espaço Grife
1974 - Campinas SP - 9º Salão de Arte Contemporânea de Campinas, no MACC
1975 - Campinas SP - (Arte), no MACC
1975 - Campinas SP - Waltercio Caldas, Rubens Gerchman, Carlos Vergara, José Resende, no MACC
1975 - Rio de Janeiro RJ - A Comunicação segundo os Artistas Plásticos, na Rede Globo
1975 - Rio de Janeiro RJ - Mostra de Arte Experimental de Filmes Super-8, Audiovisual e Video Tape, na Galeria Maison de France
1976 - Salvador BA - Arte Brasileira dos Anos 60/70 na Coleção Gilberto Chateaubriand, no MAM/BA
1977 - Brasília DF - Arte Brasileira dos Anos 60/70 na Coleção Gilberto Chateaubriand, na Fundação Cultural do Distrito Federal
1977 - Recife PE - Arte Brasileira dos Anos 60/70 na Coleção Gilberto Chateaubriand, no Casarão de João Alfredo
1978 - São Paulo SP - O Objeto na Arte: Brasil anos 60, no MAB/Faap
1980 - Milão (Itália) - Quasi Cinema, no Centro Internazionale di Brera
1980 - Veneza (Itália) - 40ª Bienal de Veneza
1981 - Rio de Janeiro RJ - Do Moderno ao Contemporâneo: Coleção Gilberto, no MAM/RJ
1981 - Rio de Janeiro RJ - Universo do Carnaval: imagens e reflexões, na Acervo Galeria de Arte
1982 - Lisboa (Portugal) - Brasil 60 Anos de Arte Moderna: Coleção Gilberto Chateaubriand, no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão
1982 - Lisboa (Portugal) - Do Moderno ao Contemporâneo: Coleção Gilberto Chateaubriand, na Fundação Calouste Gulbenkian
1982 - Londres (Reino Unido) - Brasil 60 Anos de Arte Moderna: Coleção Gilberto Chateaubriand, na Barbican Art Gallery
1982 - Rio de Janeiro RJ - Contemporaneidade: homenagem a Mário Pedrosa, no MAM/RJ
1983 - Rio de Janeiro RJ - 13 Artistas/13 Obras, na Galeria Thomas Cohn
1983 - Rio de Janeiro RJ - 3 x 4 Grandes Formatos, no Centro Empresarial Rio
1983 - Rio de Janeiro RJ - A Flor da Pele: pintura e prazer, no Centro Empresarial Rio
1983 - Rio de Janeiro RJ - Auto-Retratos Brasileiros, na Galeria de Arte Banerj
1983 - São Paulo SP - Imaginar o Presente, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1984 - Londres (Inglaterra) - Portraits of a Country: brazilian modern art from the Gilberto Chateaubriand Collection, na Barbican Art Gallery
1984 - Rio de Janeiro RJ - Antonio Dias, Carlos Vergara, Roberto Magalhães e Rubens Gerchman, na Galeria do Centro Empresarial Rio
1984 - São Paulo SP - Coleção Gilberto Chateaubriand: retrato e auto-retrato da arte brasileira, no MAM/SP
1984 - São Paulo SP - Tradição e Ruptura: síntese de arte e cultura brasileiras, na Fundação Bienal
1985 - Brasília DF - Brasilidade e Independência, no Teatro Nacional de Brasília/Fundação Cultural de Brasília
1985 - Porto Alegre RS - Iberê Camargo: trajetória e encontros, no Margs
1985 - Rio de Janeiro RJ - Ciclo de Exposições sobre Arte no Rio de Janeiro/Opinião 65, na Galeria de Arte Banerj
1985 - Rio de Janeiro RJ - Opinião 65, Galeria de Arte Banerj
1985 - São Paulo SP - 18ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal
1985 - São Paulo SP - Arte Novos Meios/Multimeios: Brasil 70/80, no MAB/SP
1985 - São Paulo SP - Destaques da Arte Contemporânea Brasileira, no MAM/SP
1986 - Brasília DF - Iberê Camargo: trajetória e encontros, no Teatro Nacional de Brasília
1986 - Rio de Janeiro RJ - 1ª Mostra Christian Dior de Arte Contemporânea: pintura, no Paço Imperial
1986 - Rio de Janeiro RJ - Iberê Camargo: trajetória e encontros, no MAM/RJ
1986 - Rio de Janeiro RJ - Mostra Christian Dior de Arte Contemporânea: pintura, no Paço Imperial
1986 - São Paulo SP - Coletiva, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1986 - São Paulo SP - Iberê Camargo: trajetória e encontros, no Masp
1987 - Rio de Janeiro RJ - Ao Colecionador: homenagem a Gilberto Chateaubriand, no MAM/RJ
1987 - Rio de Janeiro RJ - Nova Figuração Rio/Buenos Aires, na Galeria do Instituto Cultural Brasil-Argentina
1988 - Rio de Janeiro RJ - O Eterno é Efêmero, na Petite Galerie
1988 - São Paulo SP - 63/66 Figura e Objeto, na Galeria Millan
1989 - São Paulo SP - 20ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal
1989 - São Paulo SP - Pintura Brasil Século XIX e XX: obras do acervo Banco Itaú, na Itaugaleria
1990 - Brasília DF - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte
1990 - Rio de Janeiro RJ - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte Contemporânea
1990 - São Paulo SP - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte Contemporânea, na Fundação Brasil-Japão
1990 - Tóquio (Japão) - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte Contemporânea
1990 - Atami (Japão) - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte Contemporânea
1990 - Sapporo (Japão) - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte Contemporânea, na Fundação Brasil-Japão
1991 - Curitiba PR - 48º Salão Paranaense, no MAC/PR
1991 - Rio de Janeiro RJ - Imagem sobre Imagem, no Espaço Cultural Sérgio Porto
1992 - Paris (França) - Diversité Latino Americaine, na Galerie 1900/2000
1992 - Rio de Janeiro RJ - 1º A Caminho de Niterói: Coleção João Sattamini, no Paço Imperial
1992 - Rio de Janeiro RJ - Brazilian Contemporary Art, na EAV/Parque Lage
1992 - Rio de Janeiro RJ - Coca-Cola 50 Anos com Arte, no MAM/RJ
1992 - Rio de Janeiro RJ - ECO Art, no MAM/RJ
1992 - Rio de Janeiro RJ e São Paulo SP - Coca-Cola 50 Anos com Arte, no MAM/RJ e no MAM/SP
1992 - Santo André SP - Litogravura: métodos e conceitos, no Paço Municipal
1992 - São Paulo SP - Anos 60/70: Coleção Gilberto Chateubriand - MAM/RJ, na Galeria de Arte do Sesi
1992 - São Paulo SP - Coca-Cola 50 Anos com Arte (1992 : São Paulo, SP) - Museu de Arte Moderna (Ibirapuera, São Paulo, SP)
1993 - Rio de Janeiro RJ - Arte Erótica, no MAM/RJ
1993 - Rio de Janeiro RJ - Brasil, 100 Anos de Arte Moderna, no Mnba
1993 - Rio de Janeiro RJ - Emblemas do Corpo: o nu na arte moderna brasileira, no CCBB
1993 - São Paulo SP - O Desenho Moderno no Brasil: Coleção Gilberto Chateaubriand, na Galeria de Arte do Sesi
1994 - Penápolis SP - O Efêmero na Arte Brasileira: anos 60/70, na Itaugaleria
1994 - Rio de Janeiro RJ - O Desenho Moderno no Brasil: Coleção Gilberto Chateubriand, no MAM/RJ
1994 - Rio de Janeiro RJ - Trincheiras: arte e política no Brasil, no MAM/RJ
1994 - São Paulo SP - Bienal Brasil Século XX, na Fundação Bienal
1994 - São Paulo SP - O Efêmero na Arte Brasileira: anos 60/70, no Itaú Cultural
1995 - Rio de Janeiro RJ - Libertinos/Libertários
1995 - Rio de Janeiro RJ - Limites da Pintura, no Conjunto Cultural da Caixa
1995 - Rio de Janeiro RJ - Opinião 65: 30 anos, no CCBB
1995 - São Paulo SP - O Brasil de Hoje no Espelho do Século XIX: artistas alemães e brasileiros refazem a Expedição Langsdorff, no Masp
1996 - Brasília DF - Coletiva, na Galeria Referência
1996 - Brasília DF - O Efêmero na Arte Brasileira: anos 60/70, na Itaugaleria
1996 - Goiânia GO - Coletiva, na Fundação Jaime Câmara
1996 - Niterói RJ - Arte Contemporânea Brasileira na Coleção João Sattamini, no MAC/Niterói
1996 - Palmas TO - Exposição Inaugural do Espaço Cultural de Palmas, no Espaço Cultural de Palmas
1996 - Rio de Janeiro RJ - Coletiva, na Galeria Tolouse
1996 - Rio de Janeiro RJ - O Brasil de Hoje no Espelho do Século XIX: artistas alemães e brasileiros refazem a Expedição Langsdorff, no Fundação Casa França-Brasil
1996 - Rio de Janeiro RJ - Petite Galerie 1954-1988, Uma Visão da Arte Brasileira, no Paço Imperial
1996 - São Paulo SP - Coletiva, na Galeria A Estufa
1997 - Porto Alegre RS - 1ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul, na Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul
1997 - Porto Alegre RS - Vertente Cartográfica, na Usina do Gasômetro
1997 - Rio de Janeiro RJ - Petite Galerie 1954-1988: uma visão da arte brasileira, no Paço Imperial
1997 - Rio de Janeiro RJ - Uma Conversa com Rugendas, nos Museus Castro Maya
1997 - São Paulo SP - Arte Cidade: a cidade e suas histórias, na Estação da Luz, nas Indústrias Matarazzo e no Moinho Central
1997 - São Paulo SP - Arte Cidade: percurso
1997 - São Paulo SP - Bar des Arts: leilão nº 1, na Aldeia do Futuro
1997 - São Paulo SP - Galeria Brito Cimino Arte Contemporânea e Moderna
1998 - Niterói RJ - Espelho da Bienal, no MAC/Niterói
1998 - Rio de Janeiro RJ - Arte Brasileira no Acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo: doações recentes 1996-1998, no CCBB
1998 - Rio de Janeiro RJ - Poéticas da Cor, no Centro Cultural Light
1998 - Rio de Janeiro RJ - Terra Incógnita, no CCBB
1998 - Rio de Janeiro RJ - Trinta Anos de 68, no CCBB
1998 - São Paulo SP - Fronteiras, no Itaú Cultural
1998 - São Paulo SP - O Moderno e o Contemporâneo na Arte Brasileira: Coleção Gilberto Chateaubriand - MAM/RJ, no Masp
1999 - Curitiba PR - Coletiva, na Galeria Fraletti e Rubbo
1999 - Rio de Janeiro RJ - Cotidiano/Arte. Objeto Anos 60/90, no MAM/RJ
1999 - Rio de Janeiro RJ - Mostra Rio Gravura: Coleção Armando Sampaio: gravura brasileira, no Centro de Artes Calouste Gulbenkian
1999 - Rio de Janeiro RJ - Mostra Rio Gravura: Gravura Moderna Brasileira: acervo Museu Nacional de Belas Artes, no MNBA
1999 - São Paulo SP - Cotidiano/Arte. O Consumo - Metamorfose do Consumo, no Itaú Cultural
1999 - São Paulo SP - Cotidiano/Arte. O Consumo - Beba Mona Lisa, no Itaú Cultural
1999 - São Paulo SP - Litografia: fidelidade e memória, no Espaço de Artes Unicid
1999 - São Paulo SP - Cotidiano/Arte. O Objeto - Anos 60/90, no Itaú Cultural
2000 - Brasília DF - Exposição Brasil Europa: encontros no século XX, no Conjunto Cultural da Caixa
2000 - Lisboa (Portugal) - Século 20: arte do Brasil, na Fundação Calouste Gulbenkian. Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão
2000 - Niterói RJ - Pinturas na Coleção João Sattamini, no MAC/Niterói
2000 - Rio de Janeiro RJ - Antonio Dias, Carlos Vergara, Roberto Magalhães, Rubens Gerchman, na GB Arte
2000 - Rio de Janeiro RJ - Situações: arte brasileira anos 70, na Fundação Casa França-Brasil
2000 - São Paulo SP - Brasil + 500 Mostra do Redescobrimento, na Fundação Bienal
2001 - Belo Horizonte MG - Do Corpo à Terra: um marco radical na arte brasileira, no Itaú Cultural
2001 - Goiânia GO - 1º Salão Nacional de Arte de Goiás, no Flamboyant Shopping Center
2001 - Rio de Janeiro RJ - A Imagem do Som de Antônio Carlos Jobim, no Paço Imperial
2001 - São Paulo SP - Anos 70: Trajetórias, no Itaú Cultural
2002 - Niterói RJ - Coleção Sattamini: modernos e contemporâneos, no MAC/Niterói
2002 - Niterói RJ - Diálogo, Antagonismo e Replicação na Coleção Sattamini, no MAC/Niterói
2002 - Passo Fundo RS - Gravuras: Coleção Paulo Dalacorte, no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider
2002 - Porto Alegre RS - Gravuras: Coleção Paulo Dalacorte, no Museu do Trabalho
2002 - Rio de Janeiro RJ - Artefoto, no CCBB
2002 - Rio de Janeiro RJ - Caminhos do Contemporâneo 1952-2002, no Paço Imperial
2002 - Rio de Janeiro RJ - Caminhos do Contemporâneo 1952-2002, no Paço Imperial
2002 - Rio de Janeiro RJ - Identidades: o retrato brasileiro na Coleção Gilberto Chateaubriand, no MAM/RJ
2002 - São Paulo SP - 4º Artecidadezonaleste, no Sesc/Belenzinho
2002 - São Paulo SP - Mapa do Agora: arte brasileira recente na Coleção João Sattamini do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, no Instituto Tomie Ohtake
2002 - São Paulo SP - Portão 2, na Galeria Nara Roesler
2003 - Brasília DF - Artefoto, no CCBB
2003 - Rio de Janeiro RJ - Autonomia do Desenho, no MAM/RJ
2003 - Rio de Janeiro RJ - Bandeiras do Brasil, no Museu da República
2003 - Rio de Janeiro RJ - Projeto em Preto e Branco, na Silvia Cintra Galeria de Arte
2003 - São Paulo SP - A Subversão dos Meios, no Itaú Cultural
2003 - São Paulo SP - Arte e Sociedade: uma relação polêmica, no Itaú Cultural
2003 - Vila Velha ES - O Sal da Terra, no Museu Vale do Rio Doce
2004 - Rio de Janeiro RJ - 30 Artistas, no Mercedes Viegas Escritório de Arte
2004 - São Paulo SP - Arte Contemporânea no Ateliê de Iberê Camargo, no Centro Universitário Maria Antonia
2004 - São Paulo SP - O Preço da Sedução: do espartilho ao silicone, no Itaú Cultural
Fonte: CARLOS Vergara. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2023. Acesso em: 27 de fevereiro de 2023. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7
---
Biografia – Wikipédia
Carlos Augusto Caminha Vergara dos Santos (Santa Maria, 29 de novembro de 1941) é um gravador, fotógrafo e pintor brasileiro, conhecido como um dos principais representantes do movimento artístico da Nova Figuração no Brasil. Aos 2 anos de idade muda-se para São Paulo, na ocasião da transferência de seu pai, reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Em 1954 mudou-se para o Rio de Janeiro.
Anos 60
Estuda química e em 1959 ingressa por concurso na Petrobrás. Paralelamente à atividade de analista de laboratório, dedica-se ao artesanato de jóias, cujo resultado expõe em 1963, na VII Bienal Internacional de São Paulo. No mesmo ano tornou-se aluno de Iberê Camargo no Instituto de Belas Artes do Rio de Janeiro. Logo torna-se seu assistente. Em 1964 o Vergara casou-se com a atriz Marieta Severo. Em 1965 o casamento já estava acabando quando, por intermédio do ator Hugo Carvana, Marieta seria apresentada junto com Carlos Vergara ao músico Chico Buarque, com quem se casaria mais tarde, separando-se de Vergara.
Em 1965 participa da mostra Opinião 65 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A exposição é considerada um marco na história da arte brasileira, ao evidenciar a postura crítica de jovens artistas diante da realidade social e política do momento.
No ano seguinte ganha o concurso para execução de um mural da Escola Nacional de Saúde Pública no Rio de Janeiro, projeto que inicia sua aproximação à arquitetura; participa da exposição Opinião 66, executa seus primeiros trabalhos como cenógrafo e faz também sua primeira exposição individual. Em 1967 foi um dos organizadores da mostra Nova Objetividade Brasileira no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
Em 1969 é um dos artistas selecionados para a X Bienal de São Paulo, conhecida como a Bienal do Boicote, quando em reprovação ao Ato Institucional n. 5, diversos artistas recusaram-se a participar. No mesmo ano faria parte de uma exposição organizada pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde os artistas que boicotaram a X Bienal seriam exibidos. Esta exposição foi fechada pelo Departamento Cultural do Ministério de Relações Exteriores apenas algumas horas antes da abertura. Vergara foi um dos fundadores do braço brasileiro da Associação Internacional de Artistas Plásticos (AIAP), aniquilado pela censura do governo militar.
Anos 70
A década de 70 marca a mudança de foco na arte de Carlos Vergara, que passa a utilizar a fotografia e filmes Super-8 em sua obra, ao mesmo tempo que volta sua pesquisa para o carnaval de rua do Rio de Janeiro, sendo seu principal objeto o Bloco Cacique de Ramos. Também não deixa de lado os trabalhos decorrentes da sua experimentação com materiais industriais, especialmente o papelão.
Intensifica seu trabalho em conjunto com arquitetos, desenvolvendo projetos para edifícios públicos, bancos e lojas. Destacam-se os premiados painéis feitos para as agências da Varig em Paris e São Paulo, além de outros feitos para as lojas da Cidade do México, Nova York, Miami, Madrid, Montreal, Genebra, Joanesburgo e Tóquio. Começa então a empregar materiais e técnicas do artesanato popular brasileiro.
Em 1972, no lugar de uma exposição individual prevista para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, posiciona-se criticamente à realidade política brasileira vivida na época, propondo uma mostra coletiva que exibe trabalhos de Hélio Oiticica, Roberto Magalhães, Caetano Veloso, Ivan Cardoso, Waltércio Caldas, dentre diversos outros artistas.
Em 1973 inaugura ateliê com amigos arquitetos e fotógrafos que mais tarde se torna um escritório de arquitetura e arte, com atuação centrada em projetos de arquitetura teatral e shopping centers.
Em 1975 figura no conselho editorial da revista Malasartes, em 77 participa da fundação da Associação Brasileira de Artistas Plásticos Profissionais e em 78 a Funarte edita o livro Carlos Vergara, como parte da coleção Arte Brasileira Contemporânea.
Anos 80
Em junho de 1980 participa da 39ª Bienal de Veneza, onde expõe um desenho de grandes dimensões, com o qual parece encerrar seu trabalho de documentação do carnaval.
Os anos 80 marcam a retomada da pintura pelo artista, quando trabalham formas geométricas que derivam da sua pesquisa sobre o carnaval, iniciada na década anterior.
Em 1988 monta atelier em Cachoeiras de Macacu, município do estado do Rio de Janeiro, onde passa maior parte do tempo. Em 1989 passa a trabalhar com pigmentos naturais e minérios e a utilizar técnicas de monotipia sobre diferentes matrizes. Participa da 20ª Bienal de São Paulo com grandes painéis pintados com óxido de ferro.
Anos 90
No início dos anos 90 realiza diversas mostras individuais, dentre elas Obras Recentes 1989 - 1991 na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa.
Em 1992 monta instalação na Capela do Morumbi, em São Paulo. No ano seguinte, a instalação foi montada novamente no Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro.
Em 94 participa da Bienal Brasil Século XX. É convidado pelo Instituto Goethe a integrar o grupo de artistas brasileiros e alemães a refazer parte do percurso da Expedição Langsdorff. O resultado da expedição foi exposto em exposição na Casa França Brasil, Rio de Janeiro.
Entre 1996 e 1997 realiza a série Monotipias do Pantanal, premiada em 1998 pela Associação Brasileira de Críticos de Arte. Em 99 a Pinacoteca do Estado de São Paulo organiza mostra antológica Carlos Vergara 88/99.
Anos 2000
Participa em 2000 da coletiva Brasil + 500: Mostra do Redescobrimento na Fundação Bienal e Século 20: Arte do Brasil no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, Lisboa.
Em 2002 cria uma intervenção na praça da estação do metrô do Brás, em São Paulo, no projeto Arte/Cidade Zona Leste. No mesmo ano tem sala especial na mostra ArteFoto no Centro Cultural Banco do Brasil onde sua série Cacique de Ramos: Iguais Diferentes ganha destaque.
Em 2003 a primeira grande retrospectiva de seu trabalho é apresentada no Santander Cultural, Porto Alegre, seguindo para o Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo e Museu Vale do Rio Doce, em Vila Velha.
No ano de 2008 lança o livro Carlos Vergara com ensaio fotográfico realizado entre 1972 e 1976, com registros do carnaval do Rio de Janeiro.
Anos 2010
Em 2010 participa de sua 10ª Bienal. No ano de 2012 apresenta a exposição Liberdade, no Memorial da Resistência de São Paulo, cujo artista reflete sobre a implosão do Complexo Penitenciário Frei Caneca, no Rio de Janeiro. Em 2014 apresentou a exposição Sudário, seguida de lançamento de livro.
Bienais
2011 - 8ª Bienal do Mercosul – Além Fronteiras, Porto Alegre
2010 - 29 ª Bienal de São Paulo, Fundação Bienal de São Paulo
1997 - 1ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul, na Fundação Bienal de Artes Visuais do MERCOSUL, Porto Alegre
1994 - Bienal Brasil Século XX, Fundação Bienal, São Paulo
1989 - 20ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal, São Paulo
1985 - 18ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal, São Paulo
1980 - 40ª Bienal de Veneza, Veneza - Itália
1970 - 2ª Bienal de Arte Medellín, Medellín - Colômbia
1967 - 9ª Bienal Internacional de São Paulo, Fundação Bienal - Prêmio aquisição, São Paulo
1963 - 7ª Bienal Internacional de São Paulo, Fundação Bienal, São Paulo
Prêmios
Ano - Prêmio
2014 - Prêmio ABCA - Prêmio Clarival do Prado Valladares
2009 - Prêmio Cultura do Estado do Rio de Janeiro
1997 - Prêmio ABCA Mario Pedrosa
1972 - Prêmio Henrique Mindlin - IAB/RJ
1971 - Prêmio Affonso Eduardo Reidy - IAB/GB
1967 - Prêmio Itamaraty
1967 - Primeiro Prêmio de Pintura no I Salão de Pintura Jovem de Quitandinha, Petrópolis - RJ
1966 - Concurso para execução de um mural no auditório da Escola Nacional de Saúde Pública - RJ
1966 - Prêmio Piccola Galeria - Instituto Italiano de Cultura
Fonte: Wikipédia. Consultado pela última vez em 27 de fevereiro de 2023.
---
Biografia – Ateliê Carlos Vergara
Nascido na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 1941, Carlos Vergara iniciou sua trajetória nos anos 60, quando a resistência à ditadura militar foi incorporada ao trabalho de jovens artistas. Em 1965, participou da mostra Opinião 65, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, um marco na história da arte brasileira, ao evidenciar essa postura crítica dos novos artistas diante da realidade social e política da época. A partir dessa exposição se formou a Nova Figuração Brasileira, movimento que Vergara integrou junto com outros artistas, como Antônio Dias, Rubens Gerchmann e Roberto Magalhães, que produziram obras de forte conteúdo político. Nos anos 70, seu trabalho passou por grandes transformações e começou a conquistar espaço próprio na história da arte brasileira, principalmente com fotografias e instalações. Desde os anos 80, pinturas e monotipias têm sido o cerne de um percurso de experimentação. Novas técnicas, materiais e pensamentos resultam em obras contemporâneas, caracterizadas pela inovação, mas sem perder a identidade e a certeza de que o campo da pintura pode ser expandido. Em sua trajetória, Vergara realizou mais de 180 exposições individuais e coletivas de seu trabalho.
Anos 60
CARLOS Augusto Caminha VERGARA dos Santos nasceu em Santa Maria (RS), em 29 de novembro de 1941. Aos 2 anos de idade, muda-se para São Paulo, por força da transferência de seu pai, reverendo da Igreja Anglicana Episcopal do Brasil. Naquela cidade, estudou no Colégio Mackenzie e, em 1954, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro.
Completa o ginásio no Colégio Brasileiro de Almeida e lá é estimulado à experimentação de várias atividades criativas, além de receber orientação profissional. Estuda química e, em 1959, ingressa por concurso na Petrobras, onde permanece até 1966 como analista de laboratório. Ainda no colégio, inicia o artesanato de jóias em cobre e prata, cujo resultado expõe em 1963, na VII Bienal Internacional de São Paulo. Nessa época, além do trabalho na Petrobras, sua atividade principal era o voleibol, tendo disputado pelo Clube Fluminense vários torneios.
A aceitação de suas jóias na Bienal leva-o a considerar a arte como atividade mais permanente. Nesse mesmo ano, tornou-se aluno do pintor Iberê Camargo, também gaúcho, no Instituto de Belas Artes (RJ). Passa, em seguida, a ser assistente do artista, trabalhando em seu ateliê.
Em maio de 1965, participa do XIV Salão Nacional de Arte Moderna (RJ). Conhece o artista Antonio Dias, integrante do mesmo Salão, que o apresenta ao marchand Jean Boghici. Este o convida a participar da mostra Opinião 65, que organiza com Ceres Franco no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Inaugurada em 12 de agosto, a exposição se torna importante marco na história da arte brasileira, ao evidenciar a postura crítica de jovens artistas diante da realidade social e política do momento. Em dezembro do mesmo ano, integra a mostra Propostas 65, na Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo, com as obras Eleição, Discussão sobre Racismo e O General. Participa ainda do Salon de la Jeune Peinture, no Musée d’Arte Moderne de la Ville de Paris, com Antonio Dias e Rubens Gerchman.
Em março de 1966, com o apoio técnico dos arquitetos André Lopes e Eduardo Oria, vence o concurso para execução de um mural no auditório da Escola Nacional de Saúde Pública, em Manguinhos (RJ), com projeto de painel realizado com tubos de PVC, medindo 4m de altura por 18m de comprimento. O júri é composto por Flávio de Aquino, Lygia Clark e Lygia Pape. Este projeto inicia sua aproximação à arquitetura, atividade paralela ao processo artístico, presente até hoje em sua vida.
Em abril, recebeu o Prêmio Piccola Galeria, do Instituto Italiano de Cultura, destinado aos jovens destaques brasileiros nas artes plásticas. Participa do evento de inauguração da Galeria G4, na rua Dias da Rocha 52 (RJ), espaço projetado pelo arquiteto Sérgio Bernardes e dirigido pelo fotógrafo norte-americano David Zingg. Nesse dia, Vergara, Antonio Dias, Pedro Escosteguy, Rubens Gerchman e Roberto Magalhães realizam um happening com ampla repercussão na cidade. Sobre seu trabalho na exposição, Vergara comenta:
“Nesse happening eu chegava de carro e descia com uma pasta de executivo. Eu havia preparado uma parede no fundo da galeria e, por trás dela, tinha deixado uma frase pronta e um recorte fotográfico de dois olhos muito severos olhando para a frente. Eu abria a pasta e tirava uma máquina de furar. Desenhava um ponto a 80cm do chão e escrevia ‘Olhe aqui’. As pessoas se abaixavam e olhavam pelo buraco. Lá dentro estava escrito: ‘O que é que você está fazendo nessa posição ridícula, olhando por um buraquinho, incapaz de olhar à sua volta, alheio a tudo o que está acontecendo?"
Ainda em 1966, integra a coletiva Pare: Vanguarda Brasileira, organizada por Frederico Morais, na Reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais. No cartaz da exposição, Frederico escreve: “Para Vergara, o quadro deixou de ser um deleite, prazer ocioso ou egoístico, para transformar-se numa denúncia. Não foge nem esconde esta contingência – faz uma pintura em situação.”
No mesmo impresso, Vergara declara, ainda:
“Todos são obrigados a tomar uma posição. Será possível ficar calado diante de uma realidade onde uns poucos oprimem a muitos? Será possível voltar os olhos enquanto os valores se invertem e ficar procurando formas de divagação? Essa é uma posição que não me agrada (...) A condição de premência em que se vive me obriga a ser mais conseqüente, mais objetivo e às vezes mais temporal dentro de minha arte. Só repudiar uma estética convencional é repudiar ser inconseqüente. Repudiar, porém, essa estética convencional é para sacudir os espectadores e pedir deles também uma atitude nova; é colocar o problema em questão. (...) Arte é comunicação. Esse jogo não tem regras.”
Em agosto, faz parte da mostra Opinião 66, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, organizada por Carmen Portinho, Ceres Franco e Jean Boghici, com a obra Meu Sonho aos 18 Anos. No mesmo mês, a revista Realidade publica artigo assinado por Vera e Mário Pedrosa sobre os jovens artistas atuantes no Rio de Janeiro Antonio Dias, Vergara, Gerchman, Magalhães e Escosteguy, com ensaio fotográfico de David Zingg. Em outubro, estréia a peça teatral Andócles e o Leão, de Bernard Shaw, montada pelo Grupo O Tablado, com direção de Roberto de Cleto, cenários de Vergara e figurinos de Thereza Simões. Esta é sua primeira participação como cenógrafo, atividade que continuará a desenvolver durante a década de 1960.
Encerra o ano com exposição individual na Fátima Arquitetura Interiores (RJ), onde apresenta desenhos realizados entre 1964 e 1966, como Le Bateau ou A Caixa dos Sozinhos, uma referência à boate Le Bateau, frequentada pela juventude carioca na época. Por ocasião da mostra, o crítico Frederico Morais aponta:
“(...) Da solidão e do medo, dois temas do homem de hoje; do desenho requintado e luxuriante às inovadoras e fascinantes pesquisas com plástico (...) Como em certas pesquisas da pintura atual, Vergara está incorporando a própria moldura e também o suporte no desenho fazendo do plástico não uma bolsa para o papel, mas algo que gradativamente vai adquirindo sua própria expressividade. (...) Seus últimos trabalhos são na verdade objetos virtuais, quase objetos.”
Em março de 1967, recebe o Primeiro Prêmio de Pintura no I Salão de Pintura Jovem de Quitandinha, Petrópolis (RJ), com a obra Sonho aos 18 Anos e, no mês seguinte, o prêmio aquisição O.C.A. no Concurso de Caixas, evento promovido pela Petite Galerie (RJ), que seleciona exclusivamente obras concebidas em formato de caixa. A exposição, inaugurada em 2 de maio, tem o convite desenhado por Vergara.
Em abril, é um dos organizadores, juntamente com um grupo de artistas liderados por Hélio Oiticica, da mostra Nova Objetividade Brasileira, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que procura fazer um balanço da vanguarda brasileira produzida no país. Assina a “Declaração de princípios básicos da vanguarda” e, nessa mostra, participa com os trabalhos Indícios do Medo, Minha Herança São os Plásticos e Auto-retrato, todas de 1967.
Em setembro, participa da IX Bienal de São Paulo, quando obteve o Prêmio Itamaraty. Em 9 de outubro, realiza mostra individual na Petite Galerie. Nesta exposição, Vergara apresenta obras realizadas com materiais industriais. Seu convívio com a indústria e, sobretudo, sua familiaridade com o desenvolvimento de novos materiais plásticos, graças a seu trabalho na Petrobras, foram decisivos para seu processo criativo e tornaram possível seu desejo de aproximar indústria e arte. Sobre esta relação, o artista acrescenta:
“(...) para mim, só há uma razão para a arte: ela ser consumida, passar a ser um elemento importante na vida do homem. Uma escultura que fosse também uma geladeira seria uma experiência válida. (...) Estou certo de que uma das funções do artista no Brasil é despertar a indústria para a utilização da arte.”
Algumas obras da exposição foram realizadas com a colaboração de técnicos da indústria Plasticolor. Na mesma mostra, o artista também apresenta Berço Esplêndido, seu primeiro trabalho tridimensional, do qual o público é convidado a participar, sentando-se em seis pequenos bancos com a inscrição “sente-se e pense”, em torno de uma figura deitada coberta com as cores da bandeira do Brasil.
Em 1968, realiza sua primeira mostra individual em São Paulo, na Galeria Art Art, apresentando, entre outros trabalhos, o resultado de suas recentes experiências: caixas feitas com papelão de embalagem, deslocando das próprias pilhas de embalagens da fábrica para os então sacralizados espaços de museus e galerias, transformando-as em esculturas. A exposição tem texto de apresentação de Hélio Oiticica, que escreve:
“(...) Vergara constrói caixas não requintadas, puro papelão, papelá, bandeira, bandeiramonumento, Brasília verdeamarela, mas papelão, que se encaixa, na caixa, na sombra e na luz, no cheiro – é a secura das fábricas, sonho de morar, viver o fabricado preconsumitivo, antes de ser às feras atirado – Seca, viva, a estrutura é cada vez mais aberta – ao ato, ao pensar, à imaginação que morde, demole, constrói o Brasil, fora e longe do conformismo (...)”
Ainda em 1968, realiza cenários e figurinos das peças Jornada de um imbecil até o entendimento, de Plínio Marcos, montada pelo Grupo Opinião, com direção geral de João das Neves, música de Denoy de Oliveira e letras de Ferreira Gullar, e Juventude em crise, de Bruchner, juntamente com o artista Gastão Manuel Henrique, apresentada no Teatro Gláucio Gil (RJ).
Em maio de 1969, é selecionado para a X Bienal de São Paulo. No mesmo mês é escolhido, junto com Antonio Manuel, Humberto Espíndola e Evandro Teixeira, para representar o Brasil na Bienal de Jovens, em Paris. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro organiza uma mostra dos artistas que participariam dessa bienal, mas algumas horas antes a exposição é fechada por ordem do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores. Em novembro, realiza nova mostra individual na Petite Galerie. Interessado em investigar as relações entre arte e indústria, trabalhando na fábrica de embalagens Klabin, expõe trabalhos em papelão: figuras empilhadas, sem rosto, e objetos-módulos, criados para a Feira de Embalagem, além de desenhos e objetos moldados em poliestireno. Sobre esta mostra, o artista comenta:
“Eu me preocupo com uma linguagem brasileira para a arte moderna. Encontrei no papelão – pobre, frágil, descolorido – um material coerente com a nossa realidade (...) barato, perecível, o papelão significa para mim a possibilidade de fazer minhas obras (...).”
É um dos fundadores da seção brasileira da Associação Internacional de Artistas Plásticos (Aiap), que tem ampla atividade política, até ser aniquilada pela Censura.
Anos 70
Na década de 1970, ocorre uma mudança de atitude na arte e na cultura brasileiras. A Censura, a violência e o fim das garantias constitucionais, determinadas pelo Ato Institucional n. 5, de 1968, não permitem a indiferença. Muitos artistas e intelectuais, entre os quais Hélio Oiticica, Antonio Dias e Gerchman, saem do Brasil. Outros, como Vergara, mudam o foco de seu trabalho. Segundo o próprio artista: “(...) a gente começa a ter uma atitude mais reflexiva, mesmo. Eu começo a usar fotografia e fazer uma espécie de averiguação mais antropológica do real (...)”. Essa busca de linguagens reflexivas se traduz, na obra de Vergara, na extensa pesquisa sobre o carnaval e na realização de filmes super-8, sem deixar de lado os trabalhos decorrentes de sua experimentação com materiais industriais, sobretudo o papelão.
Participa, em 1970, da 2ª Bienal de Medellín, Colômbia, apresentando o trabalho América Latina, dois grandes desenhos no chão, com recortes e caixas de papelão – que foram extraviados em sua volta ao Brasil. Para Hélio Oiticica: “(...) os superdesenhos crescem das caixas-estruturas-cenários caligarianos: espalham-se pelo chão, desenham-se, recortam-se: as folhagens de papel barato: moitam-se-desgarram-se: invadem, por seu turno, o ambiente (...)”.
Nesta década, intensifica seu trabalho com arquitetos, principalmente Carlos Pini, realizando painéis para lojas, bancos e edifícios públicos. Entre os trabalhos mais importantes, destacam-se os painéis realizados para as lojas da Varig em Paris e Cidade do México (1971); Nova York e Miami (1972), Madri, Montreal, Genebra e Johanesburgo (1973), Tóquio (1974), entre outros.
Buscando criar uma atmosfera brasileira para estes trabalhos arquitetônicos, começa a utilizar materiais e técnicas do artesanato popular, como a cerâmica e os trabalhos com areias coloridas em garrafas, no interior do Ceará. Nos botequins do Nordeste, também se interessa por pequenos enfeites realizados com papel dobrado e recortado. Transpondo esse universo popular para a escala arquitetônica, alia sua experiência com papelão ondulado na fábrica Klabin, realizada desde os anos 1960, a trabalhos de recorte em grande escala.
Em 1971, recebe, com os arquitetos Guilherme Nunes e Carlos Pini, o Prêmio Affonso Eduardo Reidy, da Premiação Anual IAB/GB, pelos projetos das lojas Varig de Paris e São Paulo.
Em 1972, idealiza a mostra intitulada EX-posição, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Em lugar da individual que estava agendada, o artista organiza uma mostra coletiva, posicionando-se criticamente em relação à realidade política do país. Em suas palavras: “Era tão agoniante a situação que se vivia, que achava um absurdo fazer uma individual fingindo que não estava acontecendo nada. Era já uma postura política tentando abrir o espaço individual para uma coisa mais coletiva.” De Nova York, Hélio Oiticica envia para a mostra o projeto do Filtro, um penetrável que conduz o trajeto do público. A exposição abriga múltiplas linguagens, apresentando pinturas, desenhos, fotografias e filmes super-8 de muitos artistas, entre os quais Roberto Magalhães, Caetano Veloso, Chacal, Bina Fonyat, Glauco Rodrigues, Ivan Cardoso e Waltércio Caldas. Além de organizar a exposição, Vergara apresenta seu trabalho fotográfico sobre o carnaval e uma reportagem realizada com Fonyat no vilarejo de Povoação (ES). Também mostra seu filme Fome, em super-8, e o Texto em branco, publicado pela editora Nova Fronteira.
Em sua pesquisa sobre o Brasil, começa a registrar de forma sistemática o carnaval carioca. Interessa-se, principalmente,
“pelos rompimentos com os comportamentos cotidianos, pela sexualidade ostensiva, pelas inversões de comportamento, pelas intervenções sobre o corpo, pela tomada da rua, pela quebra da estrutura de controle do resto do ano e pelas novas hierarquias que se montam”.
Focaliza, sobretudo, a bloco de embalo Cacique de Ramos, por ser:
“um bloco formidável para uma reflexão (...) com sete mil integrantes, que resolvem se vestir iguais, numa festa onde seu predicado é o exercício e a exacerbação da individualidade. (...) A roupa do Cacique de Ramos é uma gravura feita em um metro de vinil. Você levava para casa uma gravura, recortava e botava sobre o corpo. Isso não é brincadeira. Só tem uma área de individualidade que é o rosto. Para mim era importantíssimo mostrar que, instintivamente, podem surgir na sociedade iguais diferentes, diferentes mas iguais.”
Ainda em 1972, ganha, com o arquiteto Marcos Vasconcellos, o Prêmio Henrique Mindlin da IAB/RJ, pelo projeto de uma capela, da qual Vergara idealiza os vitrais. Em 1973, realiza mostra individual inaugural da Galeria Luiz Buarque de Hollanda e Paulo Bittencourt (RJ). Participa da coletiva Expo-projeção 73, no espaço Grife (SP), onde apresenta seu filme Fome. No mesmo ano, criou um painel para a sede do Jornal do Brasil (RJ).
Em 1973, monta, com amigos arquitetos e fotógrafos, um ateliê coletivo do qual participam Marcos Flaksman, Carlos Pini, Manoel Ribeiro, Sebastião Lacerda, Bina Fonyat e Antonio Penido, que mais tarde se transformará na firma Flaksman Pini Vergara Arquitetura e Arte, com atuação centrada em projetos de arquitetura teatral e de shopping centers, como o Barra Shopping (RJ). Neste projeto, Vergara participa da concepção de todas as áreas dedicadas ao passeio, comércio e lazer do centro comercial, além da criação de uma capela ecumênica. Para o artista, “é interessante fazer uma coisa que está dissolvida no real. Não tem a pretensão do discurso individual do artista, mas é a atuação do artista que está dissolvida na vida das pessoas (...) onde você se sente bem sem saber por quê”.
Em 1975, integra o conselho editorial da revista Malasartes, publicação organizada por artistas e críticos de arte com o intuito de criar debates e reflexões sobre o meio de arte no Brasil.
Realiza, em 1976, dois novos painéis no Rio de Janeiro: um para o centro comercial na Praça Saens Peña, Zona Norte da cidade, projetado pelo arquiteto Bernardo de Figueiredo, e outro para o Rio Othon Palace Hotel, em Copacabana, na Zona Sul.
Em setembro de 1977, participa da fundação da Associação Brasileira de Artistas Plásticos Profissionais, chegando a ser presidente da entidade, criada para reivindicar a participação dos artistas nos debates e decisões das políticas culturais nas artes visuais.
Em junho de 1978, apresenta na Petite Galerie, individual a partir de seu trabalho sobre o carnaval carioca, quando mostra fotografias, pinturas em papel, desenhos e montagens com caramujos. Os moluscos têm, para o artista, interesse semelhante ao bloco Cacique de Ramos, em que todos parecem, à primeira vista, iguais, porém, sutis diferenças marcam sua individualidade. Em novembro, apresenta a mesma mostra na Galeria Arte Global (SP). O catálogo traz texto do próprio artista. Em dezembro, a Funarte edita o livro Carlos Vergara, como parte da Coleção Arte Brasileira Contemporânea, com textos de Hélio Oiticica e programação visual de Vera Bernardes, Sula Danowski e Ana Monteleone.
Em 1979, realiza, com Ruth Freinhoff, a programação visual da capa do disco Saudades do Brasil, de Elis Regina; com o cenógrafo Marcos Flaksman cria o cenário do show homônimo. No mesmo ano, assina a concepção visual da capa do disco Elis.
Anos 80
Em junho de 1980, participa, ao lado de Antonio Dias, Anna Bella Geiger e Paulo Roberto Leal, da 39ª Bienal de Veneza. Apresenta um desenho de 20m de comprimento e 2m de altura, que seria para o artista “uma espécie de catarse de desenho”, no qual parece encerrar seu trabalho de documentação do carnaval. O catálogo que acompanha sua participação traz texto de Hélio Oiticica.
Ainda nesse ano, integra a exposição Quasi Cinema, no Centro Internacional di Brera, Milão (Itália). No ano seguinte, mostra 17 desenhos e pinturas em papel e o painel realizado para a Bienal de Veneza na Galeria Mônica Filgueiras de Almeida (SP).
Na década de 1980, o artista retoma a pintura com telas que apresentam uma trama diagonal como estrutura. Apesar da ausência de referências exteriores à própria construção pictórica, essas telas ainda decorrem de seu trabalho fotográfico sobre o carnaval.
Segundo o artista:
“(...) as pinturas com as diagonais vêm do carnaval, não por causa da roupa do arlequim, mas por causa da grade de separação do público nos desfiles. Tenho uma série de fotografias das pessoas atrás da grade ou do carnaval atrás da grade. Aos poucos, a grade vai ficando como medição, as pessoas e as figuras vão saindo (...)”
Em maio de 1983, é inaugurada a Galeria Thomas Cohn (RJ) com individual de pinturas do artista. No catálogo, Ronaldo Brito escreve:
“A trama é estritamente pictórica. A sua construção e a sua palpitação remetem apenas a si mesmas. A premência e a urgência da pintura, da vontade de pintura, se tornam flagrantes pela falta de qualquer mediação entre o próprio ato de pintar e a coisa pintada (...) Mas, visivelmente, a trama aponta para uma divisão, um lá e cá, um antes e depois (...) de uma maneira explícita, essas telas assumem um lugar paradoxal – o seu estar entre. Entre o passado literário e a procura de uma auto-suficiência visual (...) Entre a pressão de uma estrutura, com a demanda de um raciocínio pictórico cada vez mais complexo, e a força decorrente do seu imaginário figurativo, o trabalho vive o seu dilema básico, a sua ambigüidade fundamental (...)”
Em 10 de dezembro, expõe pinturas no Gabinete de Arte Raquel Arnaud (SP). O texto de apresentação de Alberto Tassinari reafirma o caráter autônomo ali expresso:
“Nas suas telas o olhar imagina, e a imaginação olha. Cúmplices um do outro, colocam a questão: é possível olhar um quadro sem imaginá-lo? (...) O que está em jogo nessas telas é um dos fundamentos da pintura. A impossibilidade de sua transmutação absoluta de imagem em objeto (...) Sua ação pictórica não reveste a tela com fabulações do sentido. Está antes interessado na cuidadosa investigação de um problema fundamental da pintura: a transfiguração recíproca de olhar e imaginar.”
Ainda em 1983 é nomeado para o cargo de presidente do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural (RJ), ocupando a vaga do escritor Pedro Nava, recém-falecido. De 22 de janeiro a 22 de fevereiro de 1985, organiza individual no Brazilian Centre Gallery, em Londres, onde expõe pinturas em grandes formatos. É co-diretor, com Belisário França e Piero Mancini, do vídeo Carlos Vergara: uma pintura, que integra a Série RioArte Vídeo / Arte Contemporânea.
Em 1987, realiza mostra individual no Gabinete de Arte Raquel Arnaud e executa painel para a sede do Banco de Crédito Nacional/BCN, em Barueri (SP).
Monta ateliê em Cachoeiras de Macacu, município a 120km do Rio de Janeiro, às margens do rio de mesmo nome, onde passa a maior parte do tempo. Este novo espaço, de grandes dimensões, lhe permite trabalhar em várias obras simultaneamente.
Em março de 1988, inaugura exposição individual na Galeria Thomas Cohn, Rio de Janeiro, e apresenta dez telas. Além das tradicionais, Vergara passa a utilizar tintas industriais que
“em contraste com as outras, oferecem a oportunidade de ele montar ‘pequenas armadilhas para o olhar’, avanços progressivos na direção da inteligência da visão. Organizada ainda a partir das grades que abriram a nova fase pictórica, Vergara mantém ainda um sistema de divisão da tela com cordas que ficam marcadas na pintura. Mas a grade está ampliada, quase estourando (...) E a tinta, aplicada com as mãos ou com esponjas, aparece na tela como uma explosão líquida de cor, um splash que condensa em si o ato do pintor e seu pensamento.”
Nesse ano, além de realizar novo painel para a sede do Banco Itaú (SP) e escultura para um edifício residencial – projeto do arquiteto Paulo Casé, na rua Prudente de Moraes n. 756, em Ipanema (RJ) –, cria a abertura para a novela Olho por olho, da TV Manchete, emissora carioca.
Em 1989, ocorreu uma mudança importante em sua pintura. O artista passa a trabalhar com pigmentos naturais e minérios a partir dos quais realiza a base para trabalhos em superfícies diversas. Estes se tornam resultantes de um processo de impressão e impregnação de diferentes “matrizes”, como a própria boca dos fornos numa pequena fábrica de pigmentos de óxido de ferro em Rio Acima (MG), e de uma posterior intervenção do artista. Sobre a nova direção em seu trabalho Vergara declara:
“Em 1989 (...) decidi dar uma nova direção por estar seguro de que havia esgotado a série começada em 1980, quando abandono a figura e mergulho numa pintura que tinha como procedimento uma ‘mediação com cor’ do espaço da tela, dividindo com diagonais paralelas, formando uma grade (...) propus para mim, com desapego, me colocar num marco zero da pintura e olhar para fora e para dentro.”
Em outubro de 1989, participa da 20ª Bienal de São Paulo com grandes painéis impressos com cores extraídas do óxido de ferro. No centro da sala destinada ao seu trabalho, o artista coloca uma enorme caixa contendo um bloco do pigmento mineral. Inaugura, na mesma época, individual no Gabinete de Arte Raquel Arnaud, com 14 telas. O catálogo que acompanha as exposições traz o texto “Acontecimentos pictóricos”, do crítico Paulo Venancio Filho.
Anos 90
Em setembro de 1990, realizou mostras individuais no Paço Imperial (RJ), apresentando 20 telas de grandes dimensões, e na Galeria Ipanema (RJ). Por ocasião desta exposição, o crítico Paulo Sergio Duarte escreve o texto “Uma noite matriz do dia”, no qual se refere à dupla direção tomada pela pintura atual do artista:
“O processo de trabalho de Vergara se encontra num momento onde sua pintura se expande, ao mesmo tempo, em duas direções diametralmente opostas. De um lado, o elogio da transparência na comemoração do fato plástico, de outro, uma expressividade impregnada a partir da própria matéria que na sua opacidade sombria apresenta um drama. (...) Num extremo, o sentido gráfico construtivista será acrescido de elementos expressivos (...) No outro extremo, um cenário está dado e, digamos, energizado por uma história mítica da técnica da pintura (...) O que se anuncia, nos dois extremos, é o elogio do aparecer da pintura no próprio ato pictórico (...)”
Em abril de 1991, realiza mostra com telas sobre lona crua no Gabinete de Arte Raquel Arnaud. Em setembro, apresenta exposição individual no Grande Teatro do Palácio das Artes (BH), com 21 monotipias realizadas em Rio Acima e retrabalhadas no ateliê. Para o catálogo da exposição, promove-se uma conversa entre Ronaldo Brito, Paulo Sergio Duarte, Paulo Venancio Filho, Tunga e o próprio artista, em que se debate o atual estágio da trajetória artística de Vergara. Segundo Ronaldo Brito:
“O trabalho atual seria mais lento, mais reflexivo, mais dubitativo e que suscita, convida até a uma espécie de convívio estético mais indefinido, mais prolongado no tempo. Há uma demora para se impregnar com estes valores todos. É algo não para se contemplar, olhar de fora, mas para chegar perto e experimentar (...)”
No ano seguinte, realiza a individual Carlos Vergara, Obras Recentes 1989-1991, no Centro de Arte Moderna, Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), com a apresentação de 20 grandes monotipias e, na Capela do Morumbi (SP) monta uma instalação com quatro monotipias em papel de poliéster impregnado de resina adesiva, presas diretamente no teto, consideradas “pinturas fora do muro” pelo artista.
Em 1993, o Centro Cultural Cultural Banco do Brasil (RJ) organiza individual do artista, onde é remontada a Capela do Morumbi. Realiza outra exposição individual na Galeria Francis Van Hoof, Antuérpia.
No ano seguinte, faz mostra individual no Gabinete de Arte Raquel Arnaud e participa da Bienal Brasil Século XX, na Fundação Bienal (SP). Ainda em 1994, convidado pelo Instituto Goethe, faz parte da equipe de artistas brasileiros e alemães que realiza parte do percurso original da Expedição Langsdorff, viagem científica ocorrida entre 1822 e 1829 com o intuito de documentar a natureza e a sociedade do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Amazônia. Nesta viagem, Vergara produz telas e gravuras, como as monotipias dos pisos de Ouro Preto e Diamantina (MG). Em 1995, o resultado desta experiência é apresentado na mostra O Brasil de Hoje Espelho do Século 19 - Artistas Alemães e Brasileiros Refazem a Expedição Langsdorff, na Casa França-Brasil (RJ) e no Museu de Arte de São Paulo/Masp. No mesmo ano, realiza individuais na Galeria Debret (Paris) e na Galeria Paulo Fernandes (RJ), e cria painéis para o Morumbi Office Tower (SP).
Entre 1996 e 1997, realiza a série intitulada Monotipias do Pantanal, mostrada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, quando os registros da natureza, sejam intervenções de animais ou marcas de plantas, se imprimem nas telas, criando tanto sudários quanto estruturas gráficas para obras trabalhadas posteriormente no ateliê. Para o artista, esses trabalhos adquirem novo estatuto em que, “deslocados do contexto da impressão, recebem chassis, além das eventuais intervenções posteriores (...) aí sim, elas ganham corpo e densidade suficientes”.
No mesmo ano, apresenta individual de gravuras na Fundação Castro Maya (RJ). Integra a Bienal do Mercosul (POA). Convidado por Nelson Brissac Peixoto, participa do projeto Arte/Cidade 3, A Cidade e suas Histórias, nas Ruínas da Fábrica Matarazzo (SP). Na ocasião, Vergara realiza Farmácia Baldia, com a ajuda de botânicos da Universidade de São Paulo/USP e do arquiteto paisagista Oscar Bressane, intervenção resultante da localização e classificação de inúmeras plantas medicinais existentes nas imediações da fábrica, fazendo desenhos em grande escala, diretamente nas paredes dos galpões abandonados, interagindo com as pichações existentes e criando uma marcação com mastros coloridos no terreno em torno das plantas identificadas.
Em 1998, recebe o Prêmio Mário Pedrosa, da Associação Brasileira de Críticos de Arte/APCA, por sua mostra Monotipias do Pantanal: Pinturas Recentes, no MAM-SP. Em setembro, participa da exposição Poéticas da Cor, no Centro Cultural Light (RJ) com a instalação Limonita “minério encharcado”. Realiza a individual Os Viajantes, no Paço Imperial. Em novembro de 1999, a Pinacoteca do Estado de São Paulo organiza a mostra antológica Carlos Vergara 89/99, apresentando desde suas primeiras monotipias sobre lona crua até as telas nas quais a intervenção do artista, com materiais como dolomita e tintas, apaga quase completamente os sinais da primeira impressão que deu origem aos trabalhos.
Anos 2000
Em 2000, participa das coletivas Brasil + 500 Mostra do Redescobrimento, Fundação Bienal (SP); Século 20: Arte do Brasil, Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa); no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão (Lisboa); e Situações: Arte Brasileira Anos 70, na Fundação Casa França-Brasil (RJ).
Em junho do ano seguinte, realiza individual na Galeria Nara Roesler (SP). Para o catálogo, o artista escreve o texto “Pequena bula”, em que explica o processo de elaboração dos trabalhos apresentados:
“São pinturas que começam com uma monotipia (...) Esta impressão se dá em áreas escolhidas, já cobertas pela poeira depositada pela atividade da indústria na moagem dos pigmentos que produz (...) de forma que a impressão capture os desenhos e as tensões gráficas dessas áreas. Um repertório de formas são utilizadas, como um alfabeto que constrói aos poucos, e por partes, o discurso do trabalho. Essas formas podem ser recortes em papelão, tecido, madeira, metais, borracha (...) materiais que obedecem e materiais que não obedecem docilmente (...)”
Realiza individual na Silvia Cintra Galeria de Arte (RJ).
Em 2002, é convidado a fazer parte do projeto Artecidadezonaleste (SP), para o qual cria uma intervenção na praça da estação Brás do metrô. Nas palavras de Nelson Brissac Peixoto, curador do evento, o trabalho de Vergara é:
“(...) uma intervenção sobre esta situação aparentemente inerte, uma ação que eventualmente detone um processo de ocupação deste vazio, inibido pelo rígido programa preestabelecido pelo planejamento urbano. (...) consiste em instalar no local um conjunto de barracas, do tipo usado pelos camelôs. As barracas, feitas de vergalhões de ferro, aparecem intencionalmente inconclusas, um esqueleto que pode ser completado com tampas e toldos ou utilizado para outros fins. Essa estrutura inacabada não obedece às bases de concreto existentes no local para disciplinar sua ocupação por camelôs, deixando em aberto a configuração urbana resultante (...)”
Em dezembro, tem sala especial na mostra ArteFoto, no Centro Cultural Banco do Brasil (RJ), com curadoria de Ligia Canongia, e seu trabalho Cacique de Ramos: Iguais Diferentes ganha destaque. Na ocasião, mostra fotografias realizadas entre 1972 e 1975 e plotagens recentes a partir do mesmo material.
A partir de maio de 2003, apresenta a primeira grande retrospectiva de seu trabalho, no Santander Cultural (POA), no Instituto Tomie Ohtake (SP) e no Museu Vale do Rio Doce, Vila Velha (ES), com curadoria de Paulo Sergio Duarte.
Textos Críticos
BIENNALE DI VENEZIA '80
DESENHO é planejamento e recolhimento de material bruto recolhido e posto em estado bruto: segundo vergara é memória e projeção: o cigarro que queima fumaça de cor expressionista que acaba no desenho como foto-decalque da infância: um outro q já projeta decalque de foto-CARNAVAL: anotação e antecipação: cerne-espinha do q vem a explodir em seguida em forma de projetos maiores: não considerá-los por isso mesmo menores:
continuarão a emergir e o devem:
pre-vêem:
os superdesenhos crescem das caixas-estruturas-cenários caligarianos: espalham-se pelo chão, desenham-se-recortam-se: folhagens de papel barato: moitam-se-desgarram-se: invadem, por seu turno, o ambiente - colher os cantos-recantos brasis que os teóricos academizantes não conseguem: brasil sensível, não cultural – tudo terá que desembocar fatalmente em estruturas mais gerais, em proposições que crescem em ambição: em algo que seja mais importante que galerias e museus: que prescinda delas para a sobrevivência – a consciência de que essa face pra ser face, deva ser exportável, assim como o fizeram os americanos (warhol, p. ex., mais do que oldenburg que se resume mais a uma “imagem-america – warhol realmente criou o que se poderia se chamar de face-america) – tirar do saco o que deve ser tirado, o que interessa – vergara quer ser a consciência vigilante dessas instân (cias) (tes) mas geral que a moda e a forma: o lugar e o tempo, só cabem a ele construir: e ambos são fundamentais aqui: a busca do tempo-lugar perdidos no subdesenvolvimento-selva: as perguntas, as respostas, as questões: validade delas: de onde abordar a conceituação de valor? Nem a “arte” nem a “cultura” importam aqui: muito mais: o comportamento como uma forma viva das opções criativas – vivatuante, vigilante: uma consciência.
vergara quer construir em bloco uma instância: um instante brasil – a face – mesmo que para isso tenha que se apegar aos restos, às proposições antigas, que aparecem aqui para formar este bloco: sua facilidade em desenhar, em decorar, recortar, enriquecer o ambiente etc; não interessam aqui coisas como “mensagens” anedóticas, sem eficácia: a ambição de criar este bloco-face brasil absorvendo tudo, deixando de lado certos pudores esteticistas; nisso reside sua coerência: e ao final, sem sobras
a cabeça
a máscara: o recorte da cabeça q está em aberto pra receber a máscara
mascarar-se: escolher identidade." — Hélio Oiticica
ATRAVÉS DA ORDEM
"A trama é estritamente pictórica. A sua construção e a sua palpitação remetem apenas a si mesmas, A premência e a urgência da pintura, da vontade de pintura, se tornam flagrantes pela falta de qualquer mediação entre o próprio ato de pintar e a coisa pintada. A trama é exatamente o que se trama, tudo o que se trama. Dispersão e fragmento se relacionam aqui com vistas à construção de uma Totalidade que será necessariamente precária. A tela pronta se busca ainda, pulsa inquieta e escapa a seu método. Metonímia só, sem remissão a um todo conhecido. Esses quadros são, com toda certeza, partes, mas, reunidos todos, não organizaram um conjunto – claro, não formam um círculo, tramam.
E, ainda assim, não. O trabalho não é um puro esforço fenomenológico de elaboração de uma pictórica. Talvez seja esse o seu problemático horizonte; possivelmente esse é o seu passado recalcado e irresolvido. Mas, visivelmente, a trama aponta para uma divisão, um lá e cá, um antes e depois. Um percurso e uma oposição. Porque, no caso, a trama também é figura, e aí surpreendemos talvez a verdade do trabalho, o seu conflito de origem. De uma maneira explícita, essas telas assumem um lugar paradoxal – o seu estar entre. Entre o passado literário e a procura de uma auto-suficiência visual, uma irredutível inteligência perceptiva. Estaríamos assim diante de um processo de abstração, uma determinação em construir uma linguagem visual substantiva. Mas, por favor, nela podem aparecer quaisquer imagens, inclusive as chamadas figurativas: o que caracteriza o grau de abstração de uma linguagem é a exigência de auto-legislação formal, a recusa em se apoiar sobre referências externas ao processo do trabalho, sejam elas empíricas, geométricas ou escatológicas.
O que interessa, imediatamente, é que esse entre é – existe e vibra, se faz sentir diretamente no olhar. A estrutura do quadro acolhe e nega a sua carga de temporalidade literária – os losangos que se combinam e dispersam insinuam uma cena ao mesmo tempo em que parecem se resumir, a articular e desarticular limites, sentidos pictóricos intraduzíveis. As cores, a rigor inseparáveis do processo de estruturação, sustentam ainda um caráter metafórico – possuem uma certa intimidade, uma certa memória afetiva que resiste à uma estrita participação interativa.
Entre a pressão de uma estrutura, com a demanda de um raciocínio pictórico cada vez mais complexo, e a força recorrente de seu imaginário figurativo, o trabalho vive o seu dilema básico, a sua ambigüidade fundamental. Note-se porém: os dois momentos aparecem no e do trabalho, emergem de sua operação específica. A vontade de se livrar de conteúdos dados, da figuração imediata que o dominava, corresponde a uma volta às questões de origem. Visivelmente: o chamado fundo passa agora a primeiro plano; as cenas e figuras se diluem e dissolvem nas cores e formas e apenas impregnam afetivamente o quadro. Daí a realidade da trama – é a sua ação que segura os dois espaços opostos e consegue relacioná-los. Em contrapartida é o embate entre esses espaços, em busca de um lugar, o que faz pulsar a rede e promove deslocamentos e condensações. A estrutura se impõe à figura, como fantasma, freqüenta a estrutura.
E, no caso, não há como ser maniqueísta. A decisão estrutural precisa incorporar o imaginário figurativo para se realizar – em última instância é a poética do trabalho o que está em jogo. Impossível negar as cores, linhas e formas a sua história; é possível, no entanto, levá-las a um nível de pensamento superior. Abstraindo as conotações mundanas, reencontrá-las como fundamentos de uma pura inteligência visual. É possível, assim, pensá-las mais próximas de si mesmas e, aí sim,digamos, poetizá-las. E com esta manobra o ato de pintar adquire outro estatuto – o de um saber artístico autônomo, diverso do verbo, com uma lógica de reprocessamento singular.
Por isto, premência da trama: para sair de um impasse,ou antes, para ativar e repotencializar o próprio impasse. Mais, muito mais do que com aparências, a simples troca de figuras empíricas por figuras geométricas, o trabalho está às voltas com uma transformação de medida – um salto no vazio. Inenarrável em outra língua, a pintura só vai existir, fazendo-se, e só pode se fazer atravessando o desconhecido. Graus de incerteza, graus de estranheza passam a ser as marcas do processo – como mostra a trama, o tema do trabalho é a sua própria realização – a sua ambígua, incerta e imprevisível realização. E o prazer do olhar é sentir esse formigamento agindo e construindo. A rede se lançando, palpitando e organizando.
Agora há portanto o drama da pintura com a pintura. E a dúvida do trabalho diante dele mesmo o leva, desculpem o contra senso, de volta para frente. Cruzando em sentido inverso o Novo Realismo dos anos 60, na qual se formou, ele retoma o Expressionismo-Abstrato para uma interrogação radical sobre o fato e o desejo da pintura. No momento em que tudo parece permitido, todas as facilidades, toda espécie de mistificação e contrafação; numa conjuntura em que vários tipos de neo-naturalismos pretendem canonizar ou ultrapassar (SIC) a modernidade, o trabalho assume decididamente a questão moderna. Quer dizer: no mínimo, o compromisso com uma poética irremissível a qualquer ordem prévia – porque, em última instância, este não é mais o Mundo de Deus e o Real se tornou um problema e um projeto.
É sintomática e esclarecedora, assim, a atração do artista pela estrita imaginação pictórica de Mark Rothko. A pintura construindo uma cena que é a própria pintura, onde figura e fundo se debatem e multiplicam até a vertigem; onde espaço e tempo se confundem, indecidíveis, numa trama que se expande e contrai incessantemente. Há por certo uma imaginação romântica em Rothko, mas da ordem da pele: é o corpo, o nosso corpo, que se engaja diferente no mundo a partir da tela – experiência de alheamento e imersão numa atmosfera densa e rarefeita. É essa pulsação rigorosa e indefinida da obra de Rothko que vai seduzir o trabalho através do tema mais constante em toda sua história: o limite entre a ordem e o caos.
Mas se, nesse sentido, por exemplo, a série Carnaval estava ligada à série dos Caramujos, na esfera da reflexão abstrata, ilustradas ambas por obras isoladas, os novos quadros trazem a questão na própria pele – não refletem a idéia de oscilação entre a ordem e o caos, procuram ser esse movimento, produzir imediatamente essa conversão no olhar. Abstraindo o jogo das aparências, o trabalho tenta organizar uma estrutura-carnaval, uma volúvel estrutura em progresso, precária e ambivalente. Por isso, podemos desde logo poupar e esses quadros nossos indefectíveis adjetivos e, ao invés, acompanhá-los em seu ininterrupto esforço de estruturação. Certo filósofo disse uma vez que, ao contrário da suposição comum, o círculo é a festa do pensamento. No caso, uma rede pode ser a festa do olhar." — Ronaldo Britto, dezembro de 1982.
ACONTECIMENTOS PICTÓRICOS
O que esta série de pinturas nos revelam são acontecimentos, situações, instáveis organizações. Elas mantém um grau de imprevisibilidade, uma deliberada margem de gratuidade e espontaneidade. A princípio poderia prevalecer a sensação de que, antes de tudo, é o sentimento do prazer que as impulsiona num movimento contínuo e irrefletido de plena entrega ao fluxo dos impulsos. Antes de nos indagarmos se isto é humanamente possível, percebemos que aqui não se trata propriamente da matéria bruta do prazer, do seu conteúdo, mas da sua forma. A matéria prima é inevitável e necessária, porém é a forma da vivência que se quer que permaneça e possa ser repetida, reexperimentada, para não se dissipar na transitoriedade no momento sem ser conhecida, que não se introjete na culpa e possa persistir como experiência conquistada e a cada vez renovada, vivida na sua antecipação e realização. Trata-se antes do sentido do prazer do que o prazer.
A tela é o lugar de um acontecimento, o lugar onde algo acontece: as possibilidades de uma pintura. Creio que esse acontecimento pictórico não diverge, em essência, de nenhum outro; circunstância onde cruzam certezas e dúvidas, acaso e destino, encontros e desencontros; campo onde circulam forças de diversas intensidades e direções às quais ora resistimos ora nos submetemos. Situação que exige um ato através do qual nos colocamos tal como somos ou pensamos ser, onde mesmo na dúvida ou na incerteza podemos nos lançar em direção a um fim. Momento de uma unidade apenas aparente. Onde a princípio parecia existir uma entrega ao fluxo, simples deixar-se levar, reconhecemos uma dimensão que assume e mantém o conflito. A vontade permanece a única garantia; a garantia de manter a coesão no dilaceramento, sustentar opostos na mesma decisão. Este não é simplesmente o sentido do prazer, é o drama da vontade. Um esforço contínuo e a cada momento posto a prova, uma intenção determinada a se expor e se revelar.
Encontramos nessa pintura movimentos simultâneos e divergentes. Cada tela é uma fonte de emissões que se comportam diferentemente. Flutuam na superfície, emergem no interior, mergulham. As diferentes modalidades com que a superfície é impregnada alterna graus de pulsação, ressonâncias, altera proximidade e distanciamento.A maior ou menor irradiação de energia não está na força do gesto que imprimiu a sua marca, está na sutil diferenciação de emissões. Acompanhamos essas diferenciações nos movimentos simultâneos de sinais opostos, nas sugestões de pontuações e nos ritmos, nas ambivalências cromáticas, no pulsar que faz e desfaz uma cena onde permanece onde permanece a intensidade e a integridade originária. Estamos entre a abstrata organização da vontade e a urgente desorganização dos impulsos, diante da tentativa de manter essa fluída ordem, onde a convivência seja possível, na qual a vontade não seja esquecimento de uma adesão e a urgência da adesão não imponha a presença do irrefletido. Uma vontade que ante as dúvidas e a imprevisibilidade do momento confia na realização e desdobra no sentimento do prazer.
A forma com que o fluxo dessa experiência se configura alterna condensações de ordem e caos. A repetição, às vezes constante, de um elemento, a obsessão por um determinado gesto, procura isolar cada uma dessas experiências específicas, identificá-las e reconhecê-las na indiferenciação inicial. Existe quase uma necessidade de torná-las íntimas e reconhecíveis, para que possam ser repetidas enquanto experiências vividas. Hábito que não cansa; ter o familiar sempre renovado, nunca esgotado. Desejo de prolongar a permanência do que é momentâneo, trazê-lo imediatamente para si, evitar a estranheza e os mal-entendidos. Há nessas telas um pressuposto de conviviabilidade, tornar tudo próximo, acessível, comunicável. Este o desejo possivelmente utópico dessa pintura, o horizonte no qual se projetam figuras e fórmulas do encantamento.
Acima de tudo há nessa vontade que experimenta o conflito, ainda que confiante na realização, e por causa disto, uma dimensão ética; a procura de uma grandeza sóbria, autodimensionada. Essa confiança na realização não encontra seu sentido na reflexão, exprime a experiência da ação e do fazer, que só se revela e só se faz sentido através dela mesma, no momento próprio do trabalho, na consciência da atividade, no reprocessar constante que mesmo realizado por um só dá sentido a todos. Nessas direções conflitantes que se aproximam, da ação que reconhece seu sentido e seu fim nela mesma, nos impasses e soluções que encontra, vai se impondo uma satisfação esclarecida, intensamente realizada.
O percurso dessa pintura exprime em certo sentido os modos de se relacionar com a pintura, ou melhor, os modos como ela se relaciona com a pintura. Em outro momento podemos reconhecer um determinado modelo, certas influências e certos procedimentos. Passagens solitárias que exprimem menos um programa do que um ambiente, um contexto. São possibilidades de convivência que se colocam e sugerem níveis e intensidades de envolvimento. Se essa pintura não segue um programa rigorosamente calculado, mantém uma coerência na instabilidade do afeto. Pois aqui a pintura se organizada segundo a dinâmica do afeto. Esta é sua ordem positiva, sua modalidade de existência, seu avançar, retroceder, continuar. Talvez assim possa correr o risco da instabilidade ou da superficialidade, entretanto, a cada momento e a cada situação, sabe encontrar a espessura correta da experiência, a medida adequada, a intensidade apropriada.
Assumindo os mais diversos riscos, a pintura de Vergara apresenta mesmo em seus momentos mais erráticos e incertos uma força de convencimento. Em cada uma de suas etapas transparece o empenho e o entusiasmo que convive espontaneamente com dúvidas e incertezas. Existe nela a presença constante de uma inquietude, de uma urgência, que se combina com a insistência na execução, sempre surpreendendo com si mesma e com a aventura que é a Pintura. Exercício de entrega à pintura: misto de satisfação e temeridade" — Paulo Venâncio Filho, setembro de 1989
UMA NOITE MATRIZ DO DIA
Toda crítica cai, em algum momento, na tentação da metáfora. Tarefa nem sempre nobre, de encontrar analogias que substituindo o percurso real de uma obra possam potencializar, através de condensações, a produção de sentido que estaria depositada no seu objeto. Se este se estende no percurso de algumas décadas, essa tarefa está, parcialmente, facilitada. O leitor pode julgar, observando o desenvolvimento e transformações, a dose de arbítrio contida na crítica. Mas se nosso hipotético leitor tem diante de si apenas os resultados mais recentes de uma produção – e este é o caso da exposição de Vergara -, essa espécie de correção de rumo se complica. O poema ou uma narrativa na página, o evento plástico, o acontecimento na tela, são apenas o resultado final de um percurso. Mas é este resultado que é a própria arte e é isto que faz que toda obra de arte seja, importando um termo caro aos economistas, auto-sustentável. A razão do texto crítico estaria, então, em acelerar processos de comunicação, permitindo, pela sua intimidade com a obra, um acesso a aspectos do conhecimento particular e específico de sua poética. Mas a construção da metáfora é, no entanto, da ordem da censura e isto não apenas pela passagem, no caso da arte, da esfera visual para a literária, mas também pelo caráter seletivo de um modelo. Toda metáfora tem a pretensão de modelo de seu objeto. E nunca é demais lembrar que a consciência da culpa não exime o culpado.
O processo de trabalho de Vergara se encontra num momento onde sua pintura se expande, ao mesmo tempo, em duas direções diametralmente opostas. De um lado, o elogio da transparência na comemoração do fato plástico, de outro, uma expressividade impregnada a partir da própria matéria que na sua opacidade sombria apresenta um drama. Estamos diante de duas manifestações de uma mesma linguagem pictórica. A linguagem é o lugar onde se materializa e se instala, em qualquer trabalho de arte, sua poética. Estamos, portanto, diante de dois pólos de uma mesma poética. Para descobrirmos o corpo que reúne e integra esses extremos é preciso não nos cegarmos pela sua generosidade plástica: pela luminosidade de uns e pela teatralidade expressiva de outros. A astúcia dos procedimentos pode nos enganar e encontrarmos um falso fio condutor que levaria à identidade dos opostos no jogo entre ordem e acaso. Este embate está em ambos extremos, mas sob controlo, rebaixado ao nível de seu artesanato. E não podia ser de outra forma, Vergara não é ingênuo e conhece a história da pintura, sabe a que limites esse problema foi explorado na arte do século XX, como crítica ou reação ao mundo industrial na sua racionalização totalitária da vida.
Sem dúvida, os trabalhos possuem e expõem os elementos que os unificam. Entre estes se encontra o fato dos dois pólos se constituírem a partir de uma estrutural pré-estabelecida que organiza a superfície. Mas aí cessa a semelhança.
Num extremo, o artista realiza uma operação gráfica de caráter geométrico que antecede o trabalho propriamente pictórico. Esta divisão do território da tela vai permitir o jogo das oposições cromáticas que seria sustentado por uma trama estática, caso não houvesse a intervenção do elemento aparentemente fora de controle, aleatório: esse elemento gestual, que contradiz a sua origem instintiva, já objeto de cálculo e de controle, introduz o movimento, dinamiza a totalidade da superfície, quebra a rigidez, e, aliado à transparência, libera finalmente o signo de seus resquícios puramente gráficos. Paradoxalmente, a intervenção programada, indispensável e refletida, aparece como índice de acaso.
Mas, se num pólo a estrutura pré-existente, o ponto de partida de sua organização interna é traçada na superfície da tela, no outro ela se encontra no exterior, num ambiente onde se recolhe, em Minas Gerais, pigmentos de óxido de ferro para a indústria de tintas. Num extremo, o sentido gráfico construtivista será acrescido de elementos expressivos, cujo jogo cromático e a substituição da clareza da linha pela imprecisão do contorno, somados à luminosidade transparente, serão o evento plástico, aquilo que Paulo Venâncio Filho definiu com “acontecimentos pictóricos”. No outro extremo um cenário está dado e, digamos, energizado por uma história mítica da técnica da pintura. O trabalho ganha sua configuração inicial ali onde sua matéria-prima privilegiada, o pigmento, é extraída in natura. Mas não existe uma simbologia, algo que se passaria fora e distante da superfície do trabalho: existe a consciência de que essa narrativa que se justapõe como anedota inibiria o essencial da experiência.
Essa grandes telas impregnadas das imagens e figuras, impressas no local, podem trazer a presença do acaso como memória distante, como a surpresa no ato da execução. Mas, ainda aqui, o aleatório estará submetido a sucessivos procedimentos que o transformam de acaso em ordem. Um sutil jogo de inversões se estabelece quando observamos os dois pólos de sua poética, cuja potência reside menos na identidade de elementos constitutivos em cada extremo e mais no universo relacional das diferenças, oposições e trocas de sinal.
O procedimento de impressão num cenário onde todas as possibilidades estão previamente definidas preserva aquele momento de acaso no instante de sua descoberta, as intervenções sucessivas só cessarão quando esse elemento aleatório governado pela intenção alcançar o resultado pretendido, o seu contrário. Sua expressividade marcada como lembrança da passagem e troca entre superfícies, evoca, em suas tonalidades sombrias, uma pintura noturna, mas ao contrário dessa tradição, sua escala não é intimista. Irradia e se constitui através de uma espacialidade estranha ao alcance do olhar noturno. Sua dimensão cênica e dramática, ao mesmo tempo, quer evidenciar, antes de qualquer metáfora do mundo, o elogio de um grau zero da pintura que, com procedimentos mínimos e uma economia conquista um grau máximo de expressão. O quê de melancolia que este pólo do trabalho de Vergara pode evocar na sua totalidade e nos fragmentos de figuras – resquícios do mundo exterior com os quais esteve literalmente em contato durante sua realização – surge antes como exigência da própria matéria, como este encontro com a origem tivesse que ser preservado de qualquer euforia, reafirmando, na sua evidência física, a consciência da época na qual vai se inscrever como obra de arte.
Observando as dimensões da linguagem que se estendem nos dois extremos, talvez possamos encontrar o mínimo divisor comum dessa pesquisa que aparentemente se divide e se bifurca em caminhos opostos. Não se trata do gesto aleatório em jogo com um esquema prévio organizador. Aqui, estaríamos reduzindo e confundido método com procedimentos. O que se anuncia nos dois extremos é o elogio do aparecer da pintura no próprio ato pictórico, buscando-os nos limites dados pela transparência que reduz a cor ao mínimo necessário para a sua apresentação em movimento, e no silencioso habitat da pintura reconstituída nas telas impressas. Essa morada dilacerada nas imagens fragmentadas e nas sombras é, no entanto, estável e serena, como se mesmo criadas posteriormente do ponto de vista cronológico, fosse a descoberta de uma camada geológica que antecede e na qual se apoiam as otimistas telas em transparências coloridas. Uma noite matriz do dia" — Paulo Sergio Duarte, setembro de 1990.
ORAÇÃO A UM MUNDO QUE, IMPOSSÍVEL DE SER RESTAURADO, PODE AMANHECER NA LEMBRANÇA
"Em confronto com as recentes telas luminosas e monumentais, ainda no atelier, que sintetizam a experiência desenvolvida nos dois pólos do trabalho de Vergara nos últimos anos, estas, diante de nós, são a passagem, o caminho do meio. O centro pode não ser, portanto, a sábia e pusilânime fuga do abismo e dos extremos, mas o ponto necessário em direção a um objetivo, seguramente não apontado, antes inventado no próprio percurso. Esta visão a posteriori de um processo de trabalho criativo sempre traz o ranço da simplificação, da facilidade daquela que, observando à distância, traça no mapa o percurso da aventura que não realizou.
O que foi acrescentado e transformado nesse conjunto de telas que vão lhe diferenciar da longa série anterior de impressões com pigmentos in natura, que às vezes recebiam uma intervenção cromática em tons azuis, amarelos ou vermelhos, em forte oposição às cores sombrias de terras queimadas das paredes da pequena indústria de pigmentos no interior de Minas Gerais?
Não é uma série aberta, mas um conjunto fechado, uma totalidade que se diferencia da anterior, buscando apresentar-se de uma só vez, presentes começo, meio e fim. Antes nos encontrávamos diante de momentos sucessivos de um processo cujos limites, só agora, podem ser traçados. Se unem numa pequena coleção na busca de uma estruturação mais sistematizada e outro tratamento da luz, ou melhor, outro diálogo com a luz.
Essa organização interna mais evidente não constrange a presença de todo o processo anterior, porque manifesta-se pelo artifício da justaposição de um elemento estranho à superfície pictórica. Digamos que a vontade construtiva não violentou os elementos que evocavam a primitiva manifestação do gesto de impressão das marcas dos pigmentos. Para construir esta arquitetura, o círculo e a elipse, elementos escultóricos, atravessam todas as peças como uma invariante estrutural do conjunto. Desdobram o trabalho, lhe dão uma existência espacial, paradoxalmente, negando-lhe volume, como se insistissem na memória de sua origem: as telas. Isto, além de sustentar a idéia da interdependência entre os diversos trabalhos, ajuda a realçar sutilmente, as diferenças.
Mas há na pintura um jogo a mais, um problema acrescentado na oposição entre a opacidade e a transparência, entre a espessura das camadas pictóricas – seus atributos de absorção de luz pelas terras que se distribuem em marcas, quase ícones das diversas impressões – e o suporte.
Um dia na sua história, a pintura se despregou dos muros, foi para as madeiras e, mais tarde, para as telas. Essa conquista, muito além de seus aspectos técnicos e sociais, contribuiu para mudanças de linguagem e até mesmo para acelerar processos produtivos, com consequências para todo o pensamento pictórico posterior à sua introdução. Num jogo especular com os elementos da história, Vergara inverte essa dimensão, trazendo para as telas – o suporte por excelência desde a Renascença – as marcas do suporte ancestral, o muro. Esses elementos já estavam presentes em todas as séries anteriores. Mas, agora, à força do contraste entre a opacidade da superfície impressa e a luz que atravessa a semi-transparência das telas, a oposição se materializa de modo mais evidente: sem o chassi convencional e expostas com as vértebras à mostra, círculos e elipses, se opondo à sua forma quadrada. Adquirem uma espécie de fragilidade construída para que o elogio do muro e do pigmento se manifeste de um modo esclarecedor.
São paredes de um claustro dilacerado pela laicização da vida e pelo rebaixamento das atividades que exigem destreza. Expostas numa capela ou numa sala, solicitam o silêncio, não de uma cerimônia, mas da oração a um mundo que, impossível de ser restaurado, pode amanhecer na lembrança" — Paulo Sergio Duarte, maio de 1993.
ESTRANHA PROXIMIDADE
"Num país onde boa parte da arte contemporânea se relaciona de modo direto ou indireto, interagindo ou reagindo, com o capítulo construtivista que marcou e ainda marca a sua arte, a pintura de Carlos Vergara vem desenvolvendo desde 1989 produz certa estranheza. Essa diferenciação se realiza pela forma como ele incorpora questões locais. Paradoxalmente, é estranha pelo fato de ser uma pintura brasileira sem se ligar a estereótipos da província. Quando recusamos os ícones que uma certa figuração explorou criando imagens exóticas de si mesma, passamos a admitir o esforço reflexivo dos trabalhos construtivistas e pós-construtivistas que se orientam por uma ordem conceitual onde qualquer elemento local se encontra mediado por tantas instâncias que passa desapercebido. Mas de que modo essa pintura pode se dizer portadora de uma estranha proximidade? Lembro-me de um pequeno texto de Walter Benjamim, entre os muitos textos curtos que narram seus sonhos, onde a ansiedade se assemelha à sensação que certos brasileiros experimentam diante dessas telas. No sonho ele se encontrava junto a um imenso muro de pedra, tão próximo que não permitia que ele visse o restante da construção; sua angústia crescia porque ele sabia que aquela pedra do muro era a Notre Dame. Estava junto à catedral e não podia vê-la porque não era possível recuar para ver o todo. Um verdadeiro pesadelo. Se não me falha a memória, Maurice de Candillac traduziu o título dessa pequena narrativa como Proche, trop proche.
Esta pintura de Vergara carrega esta proximidade excessiva. De início, seu procedimento sublinha seu caráter imediato: a monotipia das paredes de uma pequena fábrica de pigmentos de óxido de ferro, na cidade de Rio Acima, a meio caminho entre Belo Horizonte e Ouro Preto, se escolhermos pequenas estradas do interior, no estado de Minas Gerais. A presença desses tons pertence à paisagem dessa imensa região onde o ferro aflora no solo e nas encostas das montanhas. A população ali convive com essas cores da mesma forma que aqueles que vivem na Amazônia convivem com diversos tons de verde. Por razões históricas esses pigmentos se encontram, também, presentes na origem da pintura no Brasil, se excluímos as manifestações artísticas dos índios, de interesse estético-antropólogico. Encontramos estes pigmentos já na pintura do início do século XIX , na obra do Mestre Atayde nas igrejas dessa região. Há, portanto,essa presença cromática imediata da paisagem e da própria história da pintura.
A cor e o caráter imediato do procedimento não bastam para compreender essas pinturas, há a escala e uma inteligente inversão. Visualmente os tons terra, ferruginoso, ocre, vermelhão do óxido de ferro não são suficientes para transportar uma significativa parte do Brasil para essas telas. A generosidade de suas dimensões e o caráter propositalmente artificial, postiço, das estruturas em elipse que participam de sua sustentação, como vértebras expostas, também têm algo familiar e que temos dificuldade de aceitar como constituindo a nós mesmos: essa grandeza frágil. Falamos da paisagem mas as telas nos sugerem, evidentemente, um interior. Duplo movimento carregado de sentido: trazer para o lugar da arte como cena interior os valores cromáticos e a extensão do exterior. E evocar que valores objetivos ainda residem, incertos, como uma nebulosa subjetividade na consciência cultural do país.
Encontramos no passado e no presente estes valores dispersos em diversas obras de arte no Brasil, mas me parece que raramente reunidos num só trabalho. Há um investimento romântico nessa pintura de Vergara que parece acreditar que ali no fragmento, no pedaço de parede, pode estar o todo e que esse encontro não pode ser perturbado por uma racionalidade inibidora, mas capturado no instante mesmo da impressão das telas. Atual, o sublime aqui não pressupõe nenhuma transcendência, ao contrário, dirige na penumbra dessas telas o olhar para esse território onde nos encontramos de tal forma mergulhados que não o vemos" — Paulo Sergio Duarte, maio de 1995.
CARLOS VERGARA NO MAM
"Um dos principais artistas de sua geração, Carlos Vergara vem caracterizando sua produção mais recente por uma indagação muito particular sobre os limites do código pictórico, tendo como elemento propulsor não à circunscrição de seu fazer aos limites do atelier – com as ferramentas tradicionais do pintor – mas, pelo contrário, preferindo o embate direto com a natureza física e cultural do país de onde extrai seus registros, índices de sua existência real, distante do circuito institucionalizado da arte.
Um neoromântico de volta à natureza para descrevê-la e interpretá-la ao seus moldes, por exemplo, dois antigos pintores-viajantes? Felizmente não ou, pelo menos, não de todo. Embora romântico na essência, o movimento de Vergara rumo à natureza não visa interpretá-la mas sim deixar que ela se registre por si mesma, contando com artista apenas como uma espécie de “acesso”.
Sobre suporte prévia ou posteriormente trabalhado pelo artista, a natureza contamina o campo plástico através de índices de si mesma: fuligem, marcas de plantas, pegadas de animais... sinais de uma vida alheia à arte que, transportado para os espaços das galerias e museus, passam a interagir com o universo alto-centrado da busca da forma-pura, embora em nenhum momento deixem de sugerir suas origens mais remotas...
Estranhas na complexidade formal que as caracteriza, inquietantes em suas viagens e na configuração final que assumem quando trazidas para o campo institucional da arte, essas pinturas e monotipias de Carlos Vergara precisam ser vistas pelo público paulistano, que agora pode contemplá-las no espaço no Museu de Arte Moderna de São Paulo" — Museu de Arte Moderna de São Paulo.
CONVERSA ENTRE CARLOS VERGARA E LUIZ CAMILO OSORIO
1
Luiz Camilo Osorio: Ultimamente virou moda da tradição construtiva da arte brasileira, como se ela fosse responsável por qualquer ortodoxia poética que tive inibido a novidade e a invenção criativa. Ao invés de ver naquele momento, e nos seus desdobramentos posteriores, a realização de obras fundamentais para nossa história da arte, de um padrão de qualidade a ser seguido, atualizado e desenvolvido, tomam-no apenas segundo uma retórica formalista, que existiu, mas que é o que menos interessa. Como você, que veio de uma geração imediatamente posterior, que retomou a figuração – o grupo do Opinião 65 – mais que perseguiu um caminho próprio e corajoso na pintura nestes últimos 30 anos, percebe este passado recente e esta polêmica em torno da tradição construtiva? Mesmo que você não queira responder, acho importante começar com esta minha ressalva de que te colocaria, junto com a “Nova Figuração” de meados dos anos 60, vinculado à abertura experimental do neo-concretismo. E faço isto só para recusar certas “leituras” que cismam em desprezar o papel formador da nossa tradição construtiva. Dito isto, passemos para outros assuntos.
Li recentemente um texto do historiador Hubert Damish em que ele falava algo do tipo, ou a pintura mostra a sua necessidade no interior de nossa cultura contemporânea, ou considere-se historicamente superada, ou seja, não se trata apenas de pegar o pincel, as tintas e a tela, e pronto, há a pintura, mais de atualizar uma necessidade história dentro de uma cultura como a nossa, inflacionada de imagens. Como você, que é um pintor obstinado, vê está declaração? Desde a Bienal de 89 sua pintura tomou uma direção específica, lidando com pigmentos naturais, com procedimentos de impressão e impregnação que vão maturando na tela uma experiência pictórica que é, digamos, retirada do mundo e não inventada pelo pintor. Será que é isto mesmo, que é oferecido pela sua pintura é mais um deixar ver uma pele essencial do mundo do que o criar uma experiência pictural autônoma?
Carlos Vergara: Em 1989 meu trabalho não tomou sozinho uma nova direção, eu decidi dar nova direção por estar seguro que havia esgotado a série começada em 1980, onde abandono a figura e mergulho numa figura que tinha como procedimento uma “medição com cor” do espaço e da tela, dividindo com diagonais paralelas, formando uma grade. Havia chegado a exaustão; continuar seria me condenar a não ter mais a sensação de descoberta e tornar tudo burocrático. Só artesanato.
Em 1989 propus para mim, com desapego, me colocar num marco zero da pintura e olhar para fora e para dentro.
Fazer pintura significa aceitar o peso histórico de uma atividade que só não é anacrônica se contiver uma aventura, que supere a questão da imagem, que mexa com procedimento e tenha um projeto, mesmo assim a pintura de sempre que o suporte determina. Portanto é preciso “ler” o projeto e procedimento para saber se não é só mímica, historicamente superada.
Durante viagem, em 1995, quando “refizemos” parte da expedição Langsdorff, pelo interior do Brasil viajou conosco Michael Fahres, músico alemão que compunha com sons coletado da natureza, e ele havia gravado na costa da Espanha, cujas rochas tinham longuíssimas perfurações, onde as idas e vindas das ondas soavam como a respiração do planeta e era um som que tinha a idade do tempo e uma vertiginosa capacidade de te tocar em áreas obscuras, a não ser que fosses surdo do ouvido ou da alma.
Esse “Ready Made” natural deslocado e manipulado era e é pra mim pura música. Será que esse “deixar ver uma pelo essencial do mundo”, que você diz, e que é parte da minha pintura atual, não é uma experiência pictórica autônoma?
Do ponto de vista do planeta, da trajetória do planeta no universo, da idéia de tempo e tamanho desse universo, as questões da arte não têm importância. Já do ponto de vista do ser humano que vive neste planeta e neste universo, têm importância por ensinar a ver e imaginar e a imaginar e ver e capacitar a entender este planeta, sua trajetória no universo etc e etc.
A pintura quando deixa de ser enigma, catalizadora de áeras mais sutis do teu ser, deixa de ser necessária. Só é necessária uma arte que, por ser mobilizadora, justifique sua existência. É essa capacidade expressiva que lhe dá razão de ser.
Estou falando do ponto de vista do pintor. Para falar do ponto de vista do público deveríamos falar sobre as inúmeras formas de cegueira e insensibilidade.
LCO: Vergara, quanto à sua indagação se o “ready-made natural deslocado e manipulado”que é “pura música”não pode ser uma experiência pictórica autônoma, é claro que eu acho que sim, não obstante o fato de ele trazer para dentro desta experiência um resquício, do mundo, da referência, que é retrabalhada e resignificada. Portanto, é esta tenção entre ser algo que se sustente enquanto acontecimento pictórico e ser algo que te remeta simultaneamente para fora da pintura, o que mas me interessa nestes trabalhos. Desculpe trazer um dado pessoal para nossa discussão, mais parece-me pertinente. O meu pai, que não tem nenhuma proximidade com artes plásticas, viu uma pintura sua impregnada do chão e das cores ferruginosas de Minas e imediatamente interessou-se por ela. A sua alma itabirana, que é 90% ferro, foi tocada sem que nada fosse dito quanto ao procedimento ou à feitura do trabalho. Ele foi enviado para sua memória, o seu tempo, as suas cores, o seu mundo.
2
LCO: Mais de uma vez vi você falando de uma especificidade cultural, para usar um termo perigoso mas que não deve ser evitado, de uma brasilidade, relacionada à sua pintura. Sabendo-se que não se trata nem de uma nostalgia nacionalista, nem de uma apelação narrativa ligada às excentricidades do mercado, como esta questão aparece para você?
CV: No momento, essa questão de uma “brasilidade” no trabalho, eu vejo às vezes como inevitável. Não acho, porém, que seja importante.
Certa vez o saudoso Sergio Camargo falava de uma hipótese que ele levantava, se essas pequenas decorações geométricas dos frontões ou certas platibandas decoradas com argamassa nas casas de subúrbio e do interior, uma certa compulsão decorativa da arquitetura popular, não teria origem no sangue mouro misturado na Península Ibérica.
Aquela coisa geométrica do arabesco, talvez fosse uma atávica tendência construtiva nossa.
Se fosse andar por São Paulo, com o olho atento nos grafiti nas ruas, vai perceber diferenças gráficas bem claras em relação ao Rio; um “gótico” paulista com ângulos agudos e um “barroco” carioca de curvas e sinuosidades. O teu olho está empregnado da maneira e da luz do teu lugar e teu trabalho pode devolver isto, e se não filtrar o teu discurso dessa “cor local” em demasia pode até extrapolar e trabalhar contra. O que acho é que em certos momentos vem à superfície alguma coisa que poderia “localizar” o trabalho, e isso não pode tirar a força expressiva; ao contrário, fornecer um viés especial de uma questão universal. Kiefer é um exemplo, Serra outro.
Podem fazer parte dos mecanismos da experimentação, entre outras coisas, uma ritualização da repetição, uma palheta escolhida com critério, opções de escala específica, e essas seriam maneiras de passar uma informação subjacente que cria um campo especial para leitura do trabalho e isso pode ser exacerbado até ao uso de miçangas mais aí já é outra conversa...
Alguns artistas bem sei, filtram isso até o ponto onde o trabalho parece não ter origem e são coisas que me interessam muitíssimo, mas creio que outros não conseguem esconder a bandeira ou o esforço para escondê-la tornaria o trabalho por demais racional. Essa também é uma velha discussão.
LCO: Acho esse tema da identidade nacional dos mais instigantes e difíceis da arte no século XX. Sabemos muito bem o tipo de descaminho que a radicalização da questão nacional pode tomar; Por outro lado, recusá-la pura e simplesmente não me parece a resposta mais interessante para o desafio. Como tratá-la sem reducionismo, fazendo com que o mais próprio de uma cultura, de uma tradição cultural, possa integrar o outro, falar para além de si mesma, universalizar-se? Está é uma longa história desde o modernismo. Quem deu um tratamento dos mais geniais a isto foi o Guimarães Rosa; Em uma entrevista famosa com o critíco alemão, o Günter Lorenz, ele disse que a brasilidade é “die Sprache des Unaussprechlichen”, assim mesmo em alemão apesar da entrevista ter sido em português. Traduzindo do alemão teríamos algo como que a brasilidade é a expressão do inexpressível, ou linguagem do indizível, ou seja, algo que não se mostra diretamente, mas que está lá, que pulsa na obra. Porque será que ele usou a expressão em alemão? Logo ele, o gênio maior da língua?
Acho que esta pergunta deve ficar no ar, acreditando no fato de que seja lá o que for e como se expresse, a brasilidade não é nacionalista – em seguida ele mesmo diz que ela é um sentir-pensar. Fiquemos por ora com isso: um sentir-pensar.
Mudando para as artes plásticas, onde o tema fica ainda mais complicado, acho que discutir a brasilidade a partir de uma atávica tendência construtiva, que vem de nossa origem ibérica, mediterrânea, é um caminho interessante, sendo que não podemos esquecer, como você salientou, algo que vem do barroco e que tomou direções as mais variadas, chegando às vezes a confundir-se com mau gosto ou kitsch, o que é um absurdo. O Mario Pedrosa é que disse que fomos inventados pelo Barroco, que era a “vanguarda” no século XVI e por isso estávamos condenados ao moderno, a um olhar que não se volta para trás pois não existe nada lá, tudo está por fazer, a experimentação é nosso destino. É claro que toda essa especulação não resolve o problema dos modos de atualizar artisticamente esta questão. Isto vai acontecer sempre caso a caso, e independente do valor artístico.
Acho interessante esta sua afirmação da “ritualização da repetição”, afinal um rito sem mito instaura-se como ritmo, já disse o Argan a respeito do Pollock. E este ritmo não te parece similar a um sentir-pensar, que vai impregnar-se na visualidade, constituindo certas especificidades poéticas? Lembro sempre do Fabro escrevendo “entendo Shakespeare, posso até participar, mais não falo como Dante”. Acabei divagando mais do que queria, será que você pode falar mais sobre este tema, sobre a ritualização da repetição?
3
LCO: Gostaria de entrar na questão da técnica. Será que se você fizesse tudo no atelier, se não houvesse a impregnação do chão e dos fornos, o resultado da experiência pictórica seria a mesma? Não te parece que sem ser uma “documentação” ou “ilustração” de algo externo, este procedimento, que se entranha no trabalho, na pintura, cria uma certa tenção perceptiva que te faz ver o que não é pintura, ou seja, uma memória de mundo perdida e reencontrada?
Por falar em memória, como você vê e pensa a questão nestes trabalhos?
Você não acha que as tuas últimas pinturas, estas em que você entra com a Dolomita- que eu estou apanhando à beça- elas perdem uma certa temporalidade, são mais diretas, menos contemplativas? Será que dá pra se dizer que estes trabalhos conseguem ser pop e teatrais (dramáticos) simultaneamente?
Uma última questão relativa à técnica: depois de 10 anos trabalhando nas bocas de forno, quanto é acidente e quanto é intencional? O que te leva a entrar com cor no atelier depois de uma impregnação?
CV: Você me pergunta se fazendo tudo no atelier o resultado seria o mesmo: As monotipias feitas fora, seja nos fornos, em viagem ou com qualquer matriz, se estruturam no atelier. Quando são deslocados no contexto da impressão, recebem chassis, além das eventuais intervenções posteriores, com cor ou simplesmente como uma fixação mais rigorosa com resina, aí sim elas ganham corpo e densidade suficiente.
Não se esqueça que muitas das pinturas que você viu, não tem mais nem sinais da primeira impressão que deu origem ao trabalho. Em outros casos, a simples documentação de um momento de calor e fumaça são suficientemente eloquentes e justificam sua existência. Muitas vezes eu preciso entrar com uma cor ou outra ação, que tensione o trabalho e o faça funcionar.
Eu não tenho controle total das impregnações. Nem quero. É risco e chance. Uma escolha. Um acidente intencionalmente provocado.
Quanto ao tema da brasilidade, a mim interessa, como não interessa a outros, usar um idioma peculiar, que mesmo sendo, assim dizendo, erudito eu cuide do Brasil sem me ufanar – aliás porque não há tantos motivos. Nesse bem simbólico que é a pintura, quero que você se reconheça com bem ou mal estar. Esse meu prazer pessoal já disse, não acho de suma importância, nem mesmo formador de valor. Me preocupo mais com o que o discurso ultrapasse isso mantendo um sabor, uma temperatura, que mostre uma tradição sem que ela exista organizada.
Quanto à questão do tempo, há um tempo evocado pela construção da imagem, há um tempo que a própria pintura pede para poder ser lida, há um tempo físico que a secagem exige para cada ataque à tela. Há também um tempo de outra ordem, relativo ao momento da ação. Um tempo ligado ao gesto que só acontece intuído e com mensuração impossível.
A Dolomita me ajuda, nisso. É pó de mármore aplicado na tela com adesivo e é por si só um material expressivo e imediato.
Quantos aos trabalhos serem “pop” e teatrais, simultaneamente, eu não sei. Pop me enche o saco, mais acho que a Dolomita me dá um branco direto que apaga o que veio antes e que tem capilaridade para receber impregnação de outras cores e comente a própria criação do pintor e esculpe enquanto pinta e tem uma presença teatral que me intriga e talvez isso seja pop.
Cada tela é um cadinho de idéias de pintura e sobre pintura. Vou pensando sobre o que estou fazendo enquanto estou fazendo, e me coloco aberto para as contradições que surgem. Não tenho nenhuma tese para provar. Acho que daí vem às diferenças que existem entre as séries dos trabalhos que produzo. Não entro em pânico e até me agrada se o trabalho seguinte não se parecer com o anterior.
4
LCO: Tentando organizar um pouco mais nosso diálogo. De um modo geral, acho que nossas posições são coincidentes, quanto à questão do tempo, da brasilidade, da técnica, da autonomia do fenômeno pictórico. Neste último ponto, só tentei matizar um pouco a relação abstração/referencialidade através do procedimento das impregnações, que se dá fora do ateliê trazendo fisicamente o mundo para a tela. Não há, em função dos seus procedimentos, o tal “virar as costas para a natureza” do Mondrian, não é?
Você tem razão quanto ao fato da pintura ter de se sustentar por si só, por outro lado, acho que do mesmo modo que as colagens cubistas traziam um mundo real para o plano pictórico, criando certas tensões entre realidade e ficção, estes seus trabalhos criam passagens e isto, por mais escondido que fique, é interessante.
Não podemos ficar reticentes quanto a este tema da brasilidade pelo fato dele ser difícil e delicado. Temos que assumi-lo e pensá-lo, sem resolvê-lo, é claro. E demos alguns passos, por mais hesitantes para as diferentes tonalidades de nossas abordagens. A sua geração sofreu demais com esta questão do nacional-popular via CPC; já eu, com os meus parcos 36 anos, fiquei fora desta, para o bem ou para mal, depende da perspectiva. Por isto, o meu interesse é arqueológico e não ideológico; de pensar uma origem e um destino, e não de constituir ou “bandeiras” ideológicas – que já foram muito válidas, diga-se de passagem.
Nesta última resposta você menciona sua relação, a cada pincelada, com a história da pintura. Isto é bom e acho que a sua variedade poética tem a ver com isto. Naquele nosso último encontro em Macacú, no seu ateliê, fiquei surpreso, vendo tudo aquilo junto, com a quantidade de “acessos” e referências que seus trabalhos permitem. Tem momentos que sou transportado para Renascença – com umas diagonais do Uccello e alguns azuis venezianos – ou para momentos mais recentes. E nunca isto é feito para esgotar o trabalho mas para estabelecer diálogos. Nisto acho que tem algo do Frank Stella na sua poética. Eu também estou de saco cheio da pop, mas ela existe e ainda não foi suficientemente compreendida.
Por favor, não confunda estas considerações com nenhuma tese; artista ou critico com teses não dá muito certo, o que não quer dizer, muito pelo contrário, que não haja idéias, estas são sempre fundamentais, é o que move o pincel!
Você já acabou aquele trabalho “extraído” das ruas do Rio? Ele estava prometendo!
CV: Voltando à questão da repetição, o que eu quis dizer é que acho possível adensar o trabalho, adicionar mais sentido com a ritualização da repetição e não esvaziar de sentido se essa repetição for só mecânica. Da viagem à Índia que fiz, me lembro da forma de venerar Hanuman, uma deidade macaco importante personagem que ajudou Rhama a atravessar a floresta no épico Ramayana. As imagens representando um macaco são untadas com óleo e pigmento laranja a séculos, e já não tem mais forma, são só um impressionante acumulo alaranjado com dois olhinhos lá no fundo. Você só vê um monte alaranjado e sabe que lá dentro esta Hanuman. E esse alaranjado vai se espalhando entorno do lugar com as marcas das mãos que as pessoas deixam ao limpá-las da tinta que lhes sobrou.
A revisita que faço às Minas Gerais dos óxidos nestes 10 últimos anos posso dizer que tem sido um ritual que a cada vez renova o sentir-pensar.
Pode parecer um contracenso mas a repetição ajuda a refletir esvaziando de pensamento premeditado. Se trata de produzir uma coisa elaboradamente simples. Há uma diferença energética nisso.
No tempo em que a pintura era feita só por adição e escultura só por subtração, isso era mais fácil de se perceber
De 23 de agosto de 1999 a 4 de setembro de 1999
Fonte: Ateliê Carlos Vergara. Consultado pela última vez em 27 de fevereiro de 2023.
Crédito fotográfico: Wikipédia. Consultado pela última vez em 28 de fevereiro de 2023.
Carlos Augusto Caminha Vergara dos Santos (Santa Maria, Rio Grande do Sul, 1941), mais conhecido como Carlos Vergara, é um gravador, fotógrafo e pintor brasileiro. Distingue-se como um dos principais nomes das vanguardas neofigurativas das décadas de 1950 e 1960 e possui uma vasta produção artística. Vergara começou a trabalhar com cerâmica ainda jovem, um tempo depois, passou a dedicar-se ao artesanato de jóias de prata e cobre. Também atuou como pintor de murais, vitrais, cenógrafo e figurinista. Expôs extensivamente pelo Brasil e em outros países como Inglaterra, Japão, Portugal, Colômbia, Peru, entre outros. Além de suas exposições, Vergara também acumulou prêmios, como o prêmio Itamaraty, quando participou da IX Bienal de São Paulo. Entre outros, estão o prêmio ABCA - Prêmio Clarival do Prado Valladares; Prêmio Cultura do Estado do Rio de Janeiro; Prêmio ABCA Mario Pedrosa; Prêmio Henrique Mindlin - IAB/RJ; Prêmio Affonso Eduardo Reidy - IAB/GB; e o primeiro de pintura no I Salão de Pintura Jovem de Quitandinha, em Petrópolis - RJ.
Biografia – Itaú Cultural
Carlos Augusto Caminha Vergara dos Santos (Santa Maria, Rio Grande do Sul, 1941). Gravador, fotógrafo, pintor. Distingue-se como um dos principais nomes das vanguardas neofigurativas das décadas de 1950 e 1960 e possui uma vasta produção artística.
Ainda jovem, Carlos Vergara começa a trabalhar com cerâmica. Na década de 1950, transfere-se para o Rio de Janeiro, e, paralelamente à atividade de analista de laboratório, dedica-se ao artesanato de jóias de prata e cobre. Treze dessas peças são expostas na 7ª Bienal Internacional de São Paulo, em 1963. Nesse mesmo ano, volta-se para o desenho e a pintura, realizando estudos com Iberê Camargo (1914-1994).
Em 1965, participa da mostra Opinião 65 com três trabalhos: O general (1965), Vote (1965) e A patronesse e mais uma campanha paliativa (1965). A partir de 1966, Vergara incorpora ícones gráficos e elementos da arte pop à sua base expressionista. Ele faz seus primeiros trabalhos de arte aplicada, como o mural para a Escola de Saúde Pública de Manguinhos e a cenografia para o grupo de teatro Tablado, ambos no Rio de Janeiro, em 1966. Participa também da mostra Opinião 66, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM/Rio). Até 1967, produz pinturas figurativas, com pinceladas ágeis e traço caricatural, além de um tratamento expressionista. O crítico de arte Paulo Sérgio Duarte (1946) compara esses trabalhos às pinturas do grupo CoBrA, de artistas como Acir Juram (1914-1973) e Karel Appel (1921-2006), pelo "culto à liberdade expressiva, apropriação do desenho infantil, elogio do primitivo e do louco".
Também em 1967, organiza ao lado de colegas a mostra Nova Objetividade Brasileira, que procura fazer um balanço da vanguarda brasileira. Atua ainda como cenógrafo e figurinista de peças teatrais. Nesse período, produz pinturas figurativas, que revelam afinidades com o expressionismo e a arte pop.
Em 1968, passa a pintar sobre superfícies de acrílico, fazendo desaparecer as marcas artesanais de sua prática pictórica. No mesmo ano, explora novas linguagens e mostra o ambiente Berço esplêndido (1968), na Galeria Art Art, em São Paulo. O trabalho combina as investigações sensoriais de artistas como Hélio Oiticica (1937-1980) com a denúncia política.
Durante a década de 1970, utiliza a fotografia e filmes Super-8 para estabelecer reflexões sobre a realidade. O carnaval passa a ser também objeto de sua pesquisa. Atua ainda em colaboração com arquitetos, realizando painéis para diversos edifícios, empregando materiais e técnicas do artesanato popular.
Em 1972, publica o caderno de desenhos Texto em branco, pela editora Nova Fronteira. Durante os anos 1980, volta à pintura, produzindo quadros abstratos geométricos, nos quais explora, principalmente, tramas de losangos que determinam campos cromáticos. Utiliza em seus trabalhos pigmentos naturais, retirados de minérios, materiais que também usa na produção de monotipias, muitas delas realizadas em ambientes naturais, como o pantanal mato-grossense. Em 1997, realiza a série Monotipias do Pantanal, na qual explora o contato direto com o meio natural, transferindo para a tela texturas de pedras ou folhas, entre outros procedimentos.
Carlos Vergara tem uma produção artística contundente desde a década de 1950 e explora uma série de suportes distintos desde a gravura até a fotografia e a pintura.
Críticas
"A afirmação inicial do trabalho de Carlos Vergara prova o quanto 1964 foi divisor de águas na sociedade e na arte brasileira. (...) A marca do mestre (Iberê Camargo) refletia-se na disposição de dissolver a figura em constelações tanto nebulosas quanto rigorosas, densas e emblemáticas, no fio de prumo do abstrato. Mas os desenhos seguintes, entre 1964 e 1965, bastam para nos garantir que Vergara soubera também absorver as peripécias do sublevado ambiente em torno (...). Quando eram verticais as durezas de 1968, Vergara, ao mesmo tempo que ampliava o arsenal de seus materiais, associando-os ao suporte convencional, tornou mais óbvia a referência ao Brasil. A bandeira, as palmeiras, as bananeiras, o arco-íris, o índio e o verde-amarelo tomaram assento prolongado ali, como indícios de um olhar inquieto e crítico dirigido para um alvo preciso. Mas, logo adiante, à maneira de projeto, instantâneos da idéia indo e vindo, memória misturada à manobra, os trabalhos, particularmente os desenhos, assumiram rumo conceitual inequívoco" — Roberto Pontual (PONTUAL, Roberto. Entre dois séculos: arte brasileira do século XX na coleção Gilberto Chateaubriand. Prefácio de Gilberto Allard Chateaubriand e Antônio Houaiss. Apresentação de M. F. do Nascimento Brito. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 1987).
"Num país onde boa parte da arte contemporânea se relaciona de modo direto ou indireto, interagindo ou reagindo, com o capítulo construtivista que marcou e ainda marca a sua arte, a pintura que Carlos Vergara vem desenvolvendo desde 1989 produz certa estranheza. Essa diferenciação se realiza pela forma como ele incorpora questões locais. Paradoxalmente, é estranha pelo fato de ser uma pintura brasileira sem se ligar aos estereótipos da província. Quando recusamos os ícones que uma certa figuração explorou criando imagens exóticas de si mesma, passamos a admitir o esforço reflexivo dos trabalhos construtivistas e pós-construtivistas que se orientam por uma ordem conceitual onde qualquer elemento local se encontra mediado por tantas instâncias que passa desapercebido.
(...)
Há um investimento romântico nessa pintura de Vergara que parece acreditar que ali no fragmento, no pedaço de parede, pode estar o todo e que esse encontro não pode ser perturbado por uma racionalidade inibidora, mas capturado no instante mesmo da impressão das telas. Atual, o sublime aqui não pressupõe nenhuma transcendência, ao contrário, dirige na penumbra dessas telas o olhar para esse território onde nos encontramos de tal forma mergulhados que não o vemos" — Paulo Sérgio Duarte
DUARTE, Paulo Sérgio. "Estranha Proximidade". http:// www. carlosvergara.com. br/sobreframe. htm, 1995.
"(...) A obra atual de Vergara faz dele um dos mais inquietos artistas de sua geração. Recusando-se a restringir-se ao mero prazer de um formalismo esteticista, ele vai mais fundo em sua busca formal, ao traduzir através dela, com talento e originalidade, uma vontade de transformação que faz do próprio ato de pintar um gesto contínuo de prazer, expressão de um processo natural que emana da vida mesma. Como quem respira, ele arranca à própria vida a força de unir esse gesto à natureza, de onde extrai seus pigmentos de cor e uma energia que age como um halo que perpassa suas telas e que nelas une forma, cor, luz, calor, matéria, ação e inação.
Com isso Vergara se revela um pintor à procura de uma brasilidade reconhecível no que poderia haver de mais brasileiro, a terra, o pigmento da terra, a cor da terra. A textura que vem dessa terra, com que ele pinta como quem extrai das entranhas da natureza o mineral mais precioso, constrói uma impressionante gama de cores terrosas que acrescenta uma notável dose de dramaticidade à sua obra.
Essa carga dramática é a chave para se explicar seu lado barroco, esse claro-escuro que atravessa suas pinturas e as torna barrocas não só pelo sentido religioso com que elas acabam por impregnar-se, mas também quando ele apela para os sentidos como um chamamento imperioso. Isso se vê, por exemplo, nas grandes monotipias, que ele imprime como num ato lúdico, jogando com o pigmento, a cor e a textura que vêm dessa terra, para construir uma nova forma de expressão que faz da própria pintura um gesto de interpretação da vida. Correndo como um veio poderoso por suas obras, esse gesto a elas se incorpora como força material, uma força vital" — Emanoel Araujo (ARAUJO, Emanoel. Carlos Vergara: à procura da cor brasileira. In: Carlos Vergara: 89/99. São Paulo: Pinacoteca, 1999, p. 3).
Depoimentos
"Em 1989, meu trabalho não tomou sozinho uma nova direção, eu decidi dar uma nova direção por estar seguro que havia esgotado a série começada em 1980, onde abandono a figura e mergulho numa pintura que tinha como procedimento uma 'medição com cor' do espaço da tela, dividindo com diagonais paralelas, formando uma grade. Havia chegado à exaustão; continuar seria me condenar a não ter mais a sensação de descoberta e tornar tudo burocrático. Só artesanato.
Em 1989, propus para mim, com desapego, me colocar num marco zero da pintura e olhar para fora e para dentro.
Fazer pintura significa aceitar o peso histórico de uma atividade que só não é anacrônica se contiver uma aventura, que supere a questão da imagem, que mexa com o procedimento e tenha um projeto, mesmo assim a pintura de sempre que o suporte determina. Portanto, é preciso 'ler' o projeto e o procedimento para saber se não é só mímica, historicamente superada. (...)
A pintura, quando deixa de ser enigma, catalisadora de áreas mais sutis do teu ser, deixa de ser necessária. Só é necessária uma arte que, por ser mobilizadora, justifique sua existência. É essa capacidade expressiva que lhe dá razão de ser.
Estou falando do ponto de vista do pintor. Para falar do ponto de vista do público, deveríamos falar sobre as inúmeras formas de cegueira e insensibilidade. (...)
Quanto ao tema da brasilidade, a mim interessa, como não interessa a outros, usar um idioma peculiar, que mesmo sendo, assim dizendo, erudito, eu cuide do Brasil sem me ufanar - aliás, porque não há tantos motivos. Nesse bem simbólico que é a pintura, quero que você se reconheça com bem ou mal estar. Esse meu prazer pessoal, já disse, não acho de suma importância, nem mesmo formador de valor. Me preocupo mais com que o discurso ultrapasse isso mantendo um sabor, uma temperatura, que mostre uma tradição sem que ela exista organizada.
Quanto à questão do tempo, há um tempo evocado pela construção da imagem, há um tempo que a própria pintura pede para poder ser lida, há um tempo físico que a secagem exige para cada ataque à tela. Há também um tempo de outra ordem, relativo ao momento da ação. Um tempo ligado ao gesto, que só acontece intuído e com mensuração impossível. (...)
Cada tela é um cadinho de idéias de pintura e sobre pintura. Vou pensando sobre o que estou fazendo enquanto estou fazendo, e me coloco aberto para as contradições que surgem. Não tenho nenhuma tese para provar. Acho que daí vêm as diferenças que existem entre as séries dos trabalhos que produzo. Não entro em pânico e até me agrada se o trabalho seguinte não se parecer com o anterior. (...)
Voltando à questão da repetição, o que eu quis dizer é que acho possível adensar o trabalho, adicionar mais sentido com a ritualização da repetição, e não esvaziar de sentido se essa repetição for só mecânica. Da viagem à India que fiz, me lembro da forma de venerar Hanuman, uma deidade-macaco, importante personagem que ajudou Rhama a atravessar a floresta no épico Ramayana. As imagens representando um macaco são untadas com óleo e pigmento laranja há séculos, e já não têm mais forma, são só um impressionante acúmulo alaranjado com dois olhinhos lá no fundo. Você só vê um monte alaranjado e sabe que lá dentro está Hanuman. E esse alaranjado vai se espalhando em torno do lugar com as marcas das mãos que as pessoas deixam, ao limpá-las da tinta que lhes sobrou.
A revisita que faço às Minas Gerais dos óxidos nestes 10 últimos anos posso dizer que tem sido um ritual que a cada vez renova o sentir-pensar.
Pode parecer um contrasenso, mas a repetição ajuda a refletir, esvaziando de pensamento premeditado. Trata-se de produzir uma coisa elaboradamente simples. Há uma diferença energética nisso.
No tempo em que pintura era feita só por adição e escultura só por subtração, isso era mais fácil de se perceber". — Carlos Vergara (VERGARA, Carlos & OSORIO, Luiz Camilo. "Conversa entre Carlos Vergara e Luiz Camilo Osorio". In: Carlos Vergara: 89/99. São Paulo: Pinacoteca, 1999, p. 5-6, 21-22, 32).
Exposições Individuais
1966 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Fátima Arquitetura
1966 - Rio de Janeiro RJ - Individual, no MAM/RJ
1967 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Petite Galerie
1968 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Art Art
1969 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Petite Galerie
1972 - Paris (França) - Individual, na Air France
1972 - Rio de Janeiro RJ - Individual, no MAM/RJ
1973 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Paulo Bittencourt e Luiz Buarque de Holanda
1975 - Rio de Janeiro RJ - Individual com trabalhos da Coleção Gilberto Chateaubriand, na Galeria Maison de France
1978 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Petite Galerie
1978 - São Paulo SP - Carlos Vergara: desenho, pinturas, fotografias, na Galeria Arte Global
1980 - Rio de Janeiro RJ - Anotações sobre o Carnaval, na Galeria Hotel Méridien
1981 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Monica Filgueiras
1983 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Thomas Cohn
1983 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1984 - Londres (Inglaterra) - Individual, na Brazilian Centre Gallery
1984 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1985 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1987 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1988 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Thomas Cohn
1989 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1990 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria de Arte Ipanema
1990 - Rio de Janeiro RJ - Individual, no Paço Imperial
1991 - Belo Horizonte MG - Individual, no Itaú Cultural
1991 - Belo Horizonte MG - Individual, no Palácio das Artes
1991 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1992 - Lisboa (Portugal) - Obras Recentes 1989-1991, no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian
1992 - São Paulo SP - Individual, na Capela do Morumbi
1993 - Antuérpia (Bélgica) - Individual, na Galeria Francis Van Hoof
1993 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Goudar
1993 - Rio de Janeiro RJ - Individual, no CCBB
1993 - São Paulo SP - Carlos Vergara, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1994 - São Paulo SP - Individual, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1995 - Paris (França) - Individual, na Galeria Debret
1995 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Galeria Paulo Fernandes
1997 - Rio de Janeiro RJ - Carlos Vergara: gravuras, na Fundação Castro Maia
1997 - São Paulo SP - Monotipias do Pantanal e Pinturas Recentes, no MAM/SP
1998 - Rio de Janeiro RJ - Carlos Vergara: trabalhos sobre papel, na GB Arte
1998 - Rio de Janeiro RJ - Os Viajantes, no Paço Imperial
1999 - São Paulo SP - Carlos Vergara 89/99, na Pinacoteca do Estado
2001 - Rio de Janeiro RJ - Individual, na Silvia Cintra Galeria de Arte
2001 - São Paulo SP - Individual, na Galeria Nara Roesler
2003 - Porto Alegre RS - Carlos Vergara Viajante: obras de 1965 a 2003, no Santander Cultural
2003 - São Paulo SP - Carlos Vergara Viajante: obras de 1965 a 2003, no Instituto Tomie Ohtake
2003 - Vila Velha ES - Individual, no Museu Vale do Rio Doce
2004 - São Paulo SP - Carlos Vergara, na Monica Filgueiras Galeria de Arte
Exposições Coletivas
1963 - Lima (Peru) - Pintura Latinoamericana, no Instituto de Arte Contemporâneo
1963 - São Paulo SP - 7ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal
1965 - Paris (França) - Salon de La Jeune Peinture, no Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris
1965 - Rio de Janeiro RJ - Opinião 65, no MAM/RJ
1965 - Rio de Janeiro RJ - 14º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/RJ
1965 - São Paulo SP - 2ª Exposição do Jovem Desenho Nacional, no MAC/USP
1965 - São Paulo SP - Propostas 65, na Faap
1966 - Belo Horizonte MG - Vanguarda Brasileira, na UFMG. Reitoria
1966 - Lima (Peru) - Pintura Latino-Americana
1966 - Rio de Janeiro RJ - Opinião 66, no MAM/RJ
1966 - Rio de Janeiro RJ - Pare, na Galeria G4
1966 - Rio de Janeiro RJ - 1º Salão de Abril, no MAM/RJ
1966 - Rio de Janeiro RJ - 15º Salão Nacional de Arte Moderna
1966 - Salvador BA - 1ª Bienal Nacional de Artes Plásticas
1966 - São Paulo SP - 8 Artistas, no Atrium
1967 - Belo Horizonte MG - 22º Salão de Belas Artes da Cidade de Belo Horizonte, no MAP
1967 - Petrópolis RJ - 1º Salão Nacional de Pintura Jovem, no Hotel Quitandinha
1967 - Rio de Janeiro RJ - Nova Objetividade Brasileira, no MAM/RJ
1967 - Rio de Janeiro RJ - 3º O Rosto e a Obra, na Galeria Ibeu Copacabana
1967 - Rio de Janeiro RJ - Salão das Caixas, na Petite Galerie - prêmio O.C.A.
1967 - Rio de Janeiro RJ - 16º Salão Nacional de Arte Moderna
1967 - São Paulo SP - 9ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal - prêmio aquisição
1968 - Rio de Janeiro RJ - 17º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/RJ
1968 - Rio de Janeiro RJ - 6º Resumo de Arte JB, no MAM/RJ - Prêmio Resumo JB de Objeto
1968 - Rio de Janeiro RJ - Bandeiras na Praça, na Praça General Osório
1968 - Rio de Janeiro RJ - 1ª Feira de Arte do Rio de Janeiro, no MAM/RJ
1968 - Rio de Janeiro RJ - O Artista Brasileiro e a Iconografia de Massa, na Esdi
1968 - Rio de Janeiro RJ - O Rosto e a Obra, na Galeria Ibeu Copacabana
1969 - Rio de Janeiro RJ - 18º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/RJ - prêmio isenção de júri
1969 - Rio de Janeiro RJ - Salão da Bússola, no MAM/RJ
1970 - Belo Horizonte MG - Objeto e Participação, no Palácio das Artes
1970 - Medellín (Colômbia) - 2ª Bienal de Arte Medellín, no Museo de Antioquia
1970 - Rio de Janeiro RJ - 19º Salão Nacional de Arte Moderna, no MAM/RJ
1970 - Rio de Janeiro RJ - 8º Resumo de Arte JB, no MAM/RJ - Prêmio Resumo JB de Desenho
1970 - Rio de Janeiro RJ - Pintura Contemporânea Brasileira, no MAM/RJ
1970 - São Paulo SP - 2º Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM/SP
1971 - Rio de Janeiro RJ - 9ª Premiação do IAB/RJ
1971 - Rio de Janeiro RJ - Exposição de Múltiplos, na Petite Galeria
1972 - Rio de Janeiro RJ - 10ª Premiação do IAB/RJ
1972 - Rio de Janeiro RJ - Domingos de Criação, no MAM/RJ
1972 - Rio de Janeiro RJ - Exposição, no MAM/RJ
1972 - São Paulo SP - Arte/Brasil/Hoje: 50 anos depois, na Galeria da Collectio
1973 - Rio de Janeiro RJ - Indagação sobre a Natureza: significado e função da obra de arte, na Galeria Ibeu Copacabana
1973 - São Paulo SP - Expo-Projeção 73, no Espaço Grife
1974 - Campinas SP - 9º Salão de Arte Contemporânea de Campinas, no MACC
1975 - Campinas SP - (Arte), no MACC
1975 - Campinas SP - Waltercio Caldas, Rubens Gerchman, Carlos Vergara, José Resende, no MACC
1975 - Rio de Janeiro RJ - A Comunicação segundo os Artistas Plásticos, na Rede Globo
1975 - Rio de Janeiro RJ - Mostra de Arte Experimental de Filmes Super-8, Audiovisual e Video Tape, na Galeria Maison de France
1976 - Salvador BA - Arte Brasileira dos Anos 60/70 na Coleção Gilberto Chateaubriand, no MAM/BA
1977 - Brasília DF - Arte Brasileira dos Anos 60/70 na Coleção Gilberto Chateaubriand, na Fundação Cultural do Distrito Federal
1977 - Recife PE - Arte Brasileira dos Anos 60/70 na Coleção Gilberto Chateaubriand, no Casarão de João Alfredo
1978 - São Paulo SP - O Objeto na Arte: Brasil anos 60, no MAB/Faap
1980 - Milão (Itália) - Quasi Cinema, no Centro Internazionale di Brera
1980 - Veneza (Itália) - 40ª Bienal de Veneza
1981 - Rio de Janeiro RJ - Do Moderno ao Contemporâneo: Coleção Gilberto, no MAM/RJ
1981 - Rio de Janeiro RJ - Universo do Carnaval: imagens e reflexões, na Acervo Galeria de Arte
1982 - Lisboa (Portugal) - Brasil 60 Anos de Arte Moderna: Coleção Gilberto Chateaubriand, no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão
1982 - Lisboa (Portugal) - Do Moderno ao Contemporâneo: Coleção Gilberto Chateaubriand, na Fundação Calouste Gulbenkian
1982 - Londres (Reino Unido) - Brasil 60 Anos de Arte Moderna: Coleção Gilberto Chateaubriand, na Barbican Art Gallery
1982 - Rio de Janeiro RJ - Contemporaneidade: homenagem a Mário Pedrosa, no MAM/RJ
1983 - Rio de Janeiro RJ - 13 Artistas/13 Obras, na Galeria Thomas Cohn
1983 - Rio de Janeiro RJ - 3 x 4 Grandes Formatos, no Centro Empresarial Rio
1983 - Rio de Janeiro RJ - A Flor da Pele: pintura e prazer, no Centro Empresarial Rio
1983 - Rio de Janeiro RJ - Auto-Retratos Brasileiros, na Galeria de Arte Banerj
1983 - São Paulo SP - Imaginar o Presente, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1984 - Londres (Inglaterra) - Portraits of a Country: brazilian modern art from the Gilberto Chateaubriand Collection, na Barbican Art Gallery
1984 - Rio de Janeiro RJ - Antonio Dias, Carlos Vergara, Roberto Magalhães e Rubens Gerchman, na Galeria do Centro Empresarial Rio
1984 - São Paulo SP - Coleção Gilberto Chateaubriand: retrato e auto-retrato da arte brasileira, no MAM/SP
1984 - São Paulo SP - Tradição e Ruptura: síntese de arte e cultura brasileiras, na Fundação Bienal
1985 - Brasília DF - Brasilidade e Independência, no Teatro Nacional de Brasília/Fundação Cultural de Brasília
1985 - Porto Alegre RS - Iberê Camargo: trajetória e encontros, no Margs
1985 - Rio de Janeiro RJ - Ciclo de Exposições sobre Arte no Rio de Janeiro/Opinião 65, na Galeria de Arte Banerj
1985 - Rio de Janeiro RJ - Opinião 65, Galeria de Arte Banerj
1985 - São Paulo SP - 18ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal
1985 - São Paulo SP - Arte Novos Meios/Multimeios: Brasil 70/80, no MAB/SP
1985 - São Paulo SP - Destaques da Arte Contemporânea Brasileira, no MAM/SP
1986 - Brasília DF - Iberê Camargo: trajetória e encontros, no Teatro Nacional de Brasília
1986 - Rio de Janeiro RJ - 1ª Mostra Christian Dior de Arte Contemporânea: pintura, no Paço Imperial
1986 - Rio de Janeiro RJ - Iberê Camargo: trajetória e encontros, no MAM/RJ
1986 - Rio de Janeiro RJ - Mostra Christian Dior de Arte Contemporânea: pintura, no Paço Imperial
1986 - São Paulo SP - Coletiva, no Gabinete de Arte Raquel Arnaud
1986 - São Paulo SP - Iberê Camargo: trajetória e encontros, no Masp
1987 - Rio de Janeiro RJ - Ao Colecionador: homenagem a Gilberto Chateaubriand, no MAM/RJ
1987 - Rio de Janeiro RJ - Nova Figuração Rio/Buenos Aires, na Galeria do Instituto Cultural Brasil-Argentina
1988 - Rio de Janeiro RJ - O Eterno é Efêmero, na Petite Galerie
1988 - São Paulo SP - 63/66 Figura e Objeto, na Galeria Millan
1989 - São Paulo SP - 20ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal
1989 - São Paulo SP - Pintura Brasil Século XIX e XX: obras do acervo Banco Itaú, na Itaugaleria
1990 - Brasília DF - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte
1990 - Rio de Janeiro RJ - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte Contemporânea
1990 - São Paulo SP - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte Contemporânea, na Fundação Brasil-Japão
1990 - Tóquio (Japão) - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte Contemporânea
1990 - Atami (Japão) - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte Contemporânea
1990 - Sapporo (Japão) - 9ª Exposição Brasil-Japão de Arte Contemporânea, na Fundação Brasil-Japão
1991 - Curitiba PR - 48º Salão Paranaense, no MAC/PR
1991 - Rio de Janeiro RJ - Imagem sobre Imagem, no Espaço Cultural Sérgio Porto
1992 - Paris (França) - Diversité Latino Americaine, na Galerie 1900/2000
1992 - Rio de Janeiro RJ - 1º A Caminho de Niterói: Coleção João Sattamini, no Paço Imperial
1992 - Rio de Janeiro RJ - Brazilian Contemporary Art, na EAV/Parque Lage
1992 - Rio de Janeiro RJ - Coca-Cola 50 Anos com Arte, no MAM/RJ
1992 - Rio de Janeiro RJ - ECO Art, no MAM/RJ
1992 - Rio de Janeiro RJ e São Paulo SP - Coca-Cola 50 Anos com Arte, no MAM/RJ e no MAM/SP
1992 - Santo André SP - Litogravura: métodos e conceitos, no Paço Municipal
1992 - São Paulo SP - Anos 60/70: Coleção Gilberto Chateubriand - MAM/RJ, na Galeria de Arte do Sesi
1992 - São Paulo SP - Coca-Cola 50 Anos com Arte (1992 : São Paulo, SP) - Museu de Arte Moderna (Ibirapuera, São Paulo, SP)
1993 - Rio de Janeiro RJ - Arte Erótica, no MAM/RJ
1993 - Rio de Janeiro RJ - Brasil, 100 Anos de Arte Moderna, no Mnba
1993 - Rio de Janeiro RJ - Emblemas do Corpo: o nu na arte moderna brasileira, no CCBB
1993 - São Paulo SP - O Desenho Moderno no Brasil: Coleção Gilberto Chateaubriand, na Galeria de Arte do Sesi
1994 - Penápolis SP - O Efêmero na Arte Brasileira: anos 60/70, na Itaugaleria
1994 - Rio de Janeiro RJ - O Desenho Moderno no Brasil: Coleção Gilberto Chateubriand, no MAM/RJ
1994 - Rio de Janeiro RJ - Trincheiras: arte e política no Brasil, no MAM/RJ
1994 - São Paulo SP - Bienal Brasil Século XX, na Fundação Bienal
1994 - São Paulo SP - O Efêmero na Arte Brasileira: anos 60/70, no Itaú Cultural
1995 - Rio de Janeiro RJ - Libertinos/Libertários
1995 - Rio de Janeiro RJ - Limites da Pintura, no Conjunto Cultural da Caixa
1995 - Rio de Janeiro RJ - Opinião 65: 30 anos, no CCBB
1995 - São Paulo SP - O Brasil de Hoje no Espelho do Século XIX: artistas alemães e brasileiros refazem a Expedição Langsdorff, no Masp
1996 - Brasília DF - Coletiva, na Galeria Referência
1996 - Brasília DF - O Efêmero na Arte Brasileira: anos 60/70, na Itaugaleria
1996 - Goiânia GO - Coletiva, na Fundação Jaime Câmara
1996 - Niterói RJ - Arte Contemporânea Brasileira na Coleção João Sattamini, no MAC/Niterói
1996 - Palmas TO - Exposição Inaugural do Espaço Cultural de Palmas, no Espaço Cultural de Palmas
1996 - Rio de Janeiro RJ - Coletiva, na Galeria Tolouse
1996 - Rio de Janeiro RJ - O Brasil de Hoje no Espelho do Século XIX: artistas alemães e brasileiros refazem a Expedição Langsdorff, no Fundação Casa França-Brasil
1996 - Rio de Janeiro RJ - Petite Galerie 1954-1988, Uma Visão da Arte Brasileira, no Paço Imperial
1996 - São Paulo SP - Coletiva, na Galeria A Estufa
1997 - Porto Alegre RS - 1ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul, na Fundação Bienal de Artes Visuais do Mercosul
1997 - Porto Alegre RS - Vertente Cartográfica, na Usina do Gasômetro
1997 - Rio de Janeiro RJ - Petite Galerie 1954-1988: uma visão da arte brasileira, no Paço Imperial
1997 - Rio de Janeiro RJ - Uma Conversa com Rugendas, nos Museus Castro Maya
1997 - São Paulo SP - Arte Cidade: a cidade e suas histórias, na Estação da Luz, nas Indústrias Matarazzo e no Moinho Central
1997 - São Paulo SP - Arte Cidade: percurso
1997 - São Paulo SP - Bar des Arts: leilão nº 1, na Aldeia do Futuro
1997 - São Paulo SP - Galeria Brito Cimino Arte Contemporânea e Moderna
1998 - Niterói RJ - Espelho da Bienal, no MAC/Niterói
1998 - Rio de Janeiro RJ - Arte Brasileira no Acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo: doações recentes 1996-1998, no CCBB
1998 - Rio de Janeiro RJ - Poéticas da Cor, no Centro Cultural Light
1998 - Rio de Janeiro RJ - Terra Incógnita, no CCBB
1998 - Rio de Janeiro RJ - Trinta Anos de 68, no CCBB
1998 - São Paulo SP - Fronteiras, no Itaú Cultural
1998 - São Paulo SP - O Moderno e o Contemporâneo na Arte Brasileira: Coleção Gilberto Chateaubriand - MAM/RJ, no Masp
1999 - Curitiba PR - Coletiva, na Galeria Fraletti e Rubbo
1999 - Rio de Janeiro RJ - Cotidiano/Arte. Objeto Anos 60/90, no MAM/RJ
1999 - Rio de Janeiro RJ - Mostra Rio Gravura: Coleção Armando Sampaio: gravura brasileira, no Centro de Artes Calouste Gulbenkian
1999 - Rio de Janeiro RJ - Mostra Rio Gravura: Gravura Moderna Brasileira: acervo Museu Nacional de Belas Artes, no MNBA
1999 - São Paulo SP - Cotidiano/Arte. O Consumo - Metamorfose do Consumo, no Itaú Cultural
1999 - São Paulo SP - Cotidiano/Arte. O Consumo - Beba Mona Lisa, no Itaú Cultural
1999 - São Paulo SP - Litografia: fidelidade e memória, no Espaço de Artes Unicid
1999 - São Paulo SP - Cotidiano/Arte. O Objeto - Anos 60/90, no Itaú Cultural
2000 - Brasília DF - Exposição Brasil Europa: encontros no século XX, no Conjunto Cultural da Caixa
2000 - Lisboa (Portugal) - Século 20: arte do Brasil, na Fundação Calouste Gulbenkian. Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão
2000 - Niterói RJ - Pinturas na Coleção João Sattamini, no MAC/Niterói
2000 - Rio de Janeiro RJ - Antonio Dias, Carlos Vergara, Roberto Magalhães, Rubens Gerchman, na GB Arte
2000 - Rio de Janeiro RJ - Situações: arte brasileira anos 70, na Fundação Casa França-Brasil
2000 - São Paulo SP - Brasil + 500 Mostra do Redescobrimento, na Fundação Bienal
2001 - Belo Horizonte MG - Do Corpo à Terra: um marco radical na arte brasileira, no Itaú Cultural
2001 - Goiânia GO - 1º Salão Nacional de Arte de Goiás, no Flamboyant Shopping Center
2001 - Rio de Janeiro RJ - A Imagem do Som de Antônio Carlos Jobim, no Paço Imperial
2001 - São Paulo SP - Anos 70: Trajetórias, no Itaú Cultural
2002 - Niterói RJ - Coleção Sattamini: modernos e contemporâneos, no MAC/Niterói
2002 - Niterói RJ - Diálogo, Antagonismo e Replicação na Coleção Sattamini, no MAC/Niterói
2002 - Passo Fundo RS - Gravuras: Coleção Paulo Dalacorte, no Museu de Artes Visuais Ruth Schneider
2002 - Porto Alegre RS - Gravuras: Coleção Paulo Dalacorte, no Museu do Trabalho
2002 - Rio de Janeiro RJ - Artefoto, no CCBB
2002 - Rio de Janeiro RJ - Caminhos do Contemporâneo 1952-2002, no Paço Imperial
2002 - Rio de Janeiro RJ - Caminhos do Contemporâneo 1952-2002, no Paço Imperial
2002 - Rio de Janeiro RJ - Identidades: o retrato brasileiro na Coleção Gilberto Chateaubriand, no MAM/RJ
2002 - São Paulo SP - 4º Artecidadezonaleste, no Sesc/Belenzinho
2002 - São Paulo SP - Mapa do Agora: arte brasileira recente na Coleção João Sattamini do Museu de Arte Contemporânea de Niterói, no Instituto Tomie Ohtake
2002 - São Paulo SP - Portão 2, na Galeria Nara Roesler
2003 - Brasília DF - Artefoto, no CCBB
2003 - Rio de Janeiro RJ - Autonomia do Desenho, no MAM/RJ
2003 - Rio de Janeiro RJ - Bandeiras do Brasil, no Museu da República
2003 - Rio de Janeiro RJ - Projeto em Preto e Branco, na Silvia Cintra Galeria de Arte
2003 - São Paulo SP - A Subversão dos Meios, no Itaú Cultural
2003 - São Paulo SP - Arte e Sociedade: uma relação polêmica, no Itaú Cultural
2003 - Vila Velha ES - O Sal da Terra, no Museu Vale do Rio Doce
2004 - Rio de Janeiro RJ - 30 Artistas, no Mercedes Viegas Escritório de Arte
2004 - São Paulo SP - Arte Contemporânea no Ateliê de Iberê Camargo, no Centro Universitário Maria Antonia
2004 - São Paulo SP - O Preço da Sedução: do espartilho ao silicone, no Itaú Cultural
Fonte: CARLOS Vergara. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira. São Paulo: Itaú Cultural, 2023. Acesso em: 27 de fevereiro de 2023. Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7
---
Biografia – Wikipédia
Carlos Augusto Caminha Vergara dos Santos (Santa Maria, 29 de novembro de 1941) é um gravador, fotógrafo e pintor brasileiro, conhecido como um dos principais representantes do movimento artístico da Nova Figuração no Brasil. Aos 2 anos de idade muda-se para São Paulo, na ocasião da transferência de seu pai, reverendo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Em 1954 mudou-se para o Rio de Janeiro.
Anos 60
Estuda química e em 1959 ingressa por concurso na Petrobrás. Paralelamente à atividade de analista de laboratório, dedica-se ao artesanato de jóias, cujo resultado expõe em 1963, na VII Bienal Internacional de São Paulo. No mesmo ano tornou-se aluno de Iberê Camargo no Instituto de Belas Artes do Rio de Janeiro. Logo torna-se seu assistente. Em 1964 o Vergara casou-se com a atriz Marieta Severo. Em 1965 o casamento já estava acabando quando, por intermédio do ator Hugo Carvana, Marieta seria apresentada junto com Carlos Vergara ao músico Chico Buarque, com quem se casaria mais tarde, separando-se de Vergara.
Em 1965 participa da mostra Opinião 65 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. A exposição é considerada um marco na história da arte brasileira, ao evidenciar a postura crítica de jovens artistas diante da realidade social e política do momento.
No ano seguinte ganha o concurso para execução de um mural da Escola Nacional de Saúde Pública no Rio de Janeiro, projeto que inicia sua aproximação à arquitetura; participa da exposição Opinião 66, executa seus primeiros trabalhos como cenógrafo e faz também sua primeira exposição individual. Em 1967 foi um dos organizadores da mostra Nova Objetividade Brasileira no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro.
Em 1969 é um dos artistas selecionados para a X Bienal de São Paulo, conhecida como a Bienal do Boicote, quando em reprovação ao Ato Institucional n. 5, diversos artistas recusaram-se a participar. No mesmo ano faria parte de uma exposição organizada pelo Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde os artistas que boicotaram a X Bienal seriam exibidos. Esta exposição foi fechada pelo Departamento Cultural do Ministério de Relações Exteriores apenas algumas horas antes da abertura. Vergara foi um dos fundadores do braço brasileiro da Associação Internacional de Artistas Plásticos (AIAP), aniquilado pela censura do governo militar.
Anos 70
A década de 70 marca a mudança de foco na arte de Carlos Vergara, que passa a utilizar a fotografia e filmes Super-8 em sua obra, ao mesmo tempo que volta sua pesquisa para o carnaval de rua do Rio de Janeiro, sendo seu principal objeto o Bloco Cacique de Ramos. Também não deixa de lado os trabalhos decorrentes da sua experimentação com materiais industriais, especialmente o papelão.
Intensifica seu trabalho em conjunto com arquitetos, desenvolvendo projetos para edifícios públicos, bancos e lojas. Destacam-se os premiados painéis feitos para as agências da Varig em Paris e São Paulo, além de outros feitos para as lojas da Cidade do México, Nova York, Miami, Madrid, Montreal, Genebra, Joanesburgo e Tóquio. Começa então a empregar materiais e técnicas do artesanato popular brasileiro.
Em 1972, no lugar de uma exposição individual prevista para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, posiciona-se criticamente à realidade política brasileira vivida na época, propondo uma mostra coletiva que exibe trabalhos de Hélio Oiticica, Roberto Magalhães, Caetano Veloso, Ivan Cardoso, Waltércio Caldas, dentre diversos outros artistas.
Em 1973 inaugura ateliê com amigos arquitetos e fotógrafos que mais tarde se torna um escritório de arquitetura e arte, com atuação centrada em projetos de arquitetura teatral e shopping centers.
Em 1975 figura no conselho editorial da revista Malasartes, em 77 participa da fundação da Associação Brasileira de Artistas Plásticos Profissionais e em 78 a Funarte edita o livro Carlos Vergara, como parte da coleção Arte Brasileira Contemporânea.
Anos 80
Em junho de 1980 participa da 39ª Bienal de Veneza, onde expõe um desenho de grandes dimensões, com o qual parece encerrar seu trabalho de documentação do carnaval.
Os anos 80 marcam a retomada da pintura pelo artista, quando trabalham formas geométricas que derivam da sua pesquisa sobre o carnaval, iniciada na década anterior.
Em 1988 monta atelier em Cachoeiras de Macacu, município do estado do Rio de Janeiro, onde passa maior parte do tempo. Em 1989 passa a trabalhar com pigmentos naturais e minérios e a utilizar técnicas de monotipia sobre diferentes matrizes. Participa da 20ª Bienal de São Paulo com grandes painéis pintados com óxido de ferro.
Anos 90
No início dos anos 90 realiza diversas mostras individuais, dentre elas Obras Recentes 1989 - 1991 na Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa.
Em 1992 monta instalação na Capela do Morumbi, em São Paulo. No ano seguinte, a instalação foi montada novamente no Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro.
Em 94 participa da Bienal Brasil Século XX. É convidado pelo Instituto Goethe a integrar o grupo de artistas brasileiros e alemães a refazer parte do percurso da Expedição Langsdorff. O resultado da expedição foi exposto em exposição na Casa França Brasil, Rio de Janeiro.
Entre 1996 e 1997 realiza a série Monotipias do Pantanal, premiada em 1998 pela Associação Brasileira de Críticos de Arte. Em 99 a Pinacoteca do Estado de São Paulo organiza mostra antológica Carlos Vergara 88/99.
Anos 2000
Participa em 2000 da coletiva Brasil + 500: Mostra do Redescobrimento na Fundação Bienal e Século 20: Arte do Brasil no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão, Lisboa.
Em 2002 cria uma intervenção na praça da estação do metrô do Brás, em São Paulo, no projeto Arte/Cidade Zona Leste. No mesmo ano tem sala especial na mostra ArteFoto no Centro Cultural Banco do Brasil onde sua série Cacique de Ramos: Iguais Diferentes ganha destaque.
Em 2003 a primeira grande retrospectiva de seu trabalho é apresentada no Santander Cultural, Porto Alegre, seguindo para o Instituto Tomie Ohtake, em São Paulo e Museu Vale do Rio Doce, em Vila Velha.
No ano de 2008 lança o livro Carlos Vergara com ensaio fotográfico realizado entre 1972 e 1976, com registros do carnaval do Rio de Janeiro.
Anos 2010
Em 2010 participa de sua 10ª Bienal. No ano de 2012 apresenta a exposição Liberdade, no Memorial da Resistência de São Paulo, cujo artista reflete sobre a implosão do Complexo Penitenciário Frei Caneca, no Rio de Janeiro. Em 2014 apresentou a exposição Sudário, seguida de lançamento de livro.
Bienais
2011 - 8ª Bienal do Mercosul – Além Fronteiras, Porto Alegre
2010 - 29 ª Bienal de São Paulo, Fundação Bienal de São Paulo
1997 - 1ª Bienal de Artes Visuais do Mercosul, na Fundação Bienal de Artes Visuais do MERCOSUL, Porto Alegre
1994 - Bienal Brasil Século XX, Fundação Bienal, São Paulo
1989 - 20ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal, São Paulo
1985 - 18ª Bienal Internacional de São Paulo, na Fundação Bienal, São Paulo
1980 - 40ª Bienal de Veneza, Veneza - Itália
1970 - 2ª Bienal de Arte Medellín, Medellín - Colômbia
1967 - 9ª Bienal Internacional de São Paulo, Fundação Bienal - Prêmio aquisição, São Paulo
1963 - 7ª Bienal Internacional de São Paulo, Fundação Bienal, São Paulo
Prêmios
Ano - Prêmio
2014 - Prêmio ABCA - Prêmio Clarival do Prado Valladares
2009 - Prêmio Cultura do Estado do Rio de Janeiro
1997 - Prêmio ABCA Mario Pedrosa
1972 - Prêmio Henrique Mindlin - IAB/RJ
1971 - Prêmio Affonso Eduardo Reidy - IAB/GB
1967 - Prêmio Itamaraty
1967 - Primeiro Prêmio de Pintura no I Salão de Pintura Jovem de Quitandinha, Petrópolis - RJ
1966 - Concurso para execução de um mural no auditório da Escola Nacional de Saúde Pública - RJ
1966 - Prêmio Piccola Galeria - Instituto Italiano de Cultura
Fonte: Wikipédia. Consultado pela última vez em 27 de fevereiro de 2023.
---
Biografia – Ateliê Carlos Vergara
Nascido na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 1941, Carlos Vergara iniciou sua trajetória nos anos 60, quando a resistência à ditadura militar foi incorporada ao trabalho de jovens artistas. Em 1965, participou da mostra Opinião 65, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, um marco na história da arte brasileira, ao evidenciar essa postura crítica dos novos artistas diante da realidade social e política da época. A partir dessa exposição se formou a Nova Figuração Brasileira, movimento que Vergara integrou junto com outros artistas, como Antônio Dias, Rubens Gerchmann e Roberto Magalhães, que produziram obras de forte conteúdo político. Nos anos 70, seu trabalho passou por grandes transformações e começou a conquistar espaço próprio na história da arte brasileira, principalmente com fotografias e instalações. Desde os anos 80, pinturas e monotipias têm sido o cerne de um percurso de experimentação. Novas técnicas, materiais e pensamentos resultam em obras contemporâneas, caracterizadas pela inovação, mas sem perder a identidade e a certeza de que o campo da pintura pode ser expandido. Em sua trajetória, Vergara realizou mais de 180 exposições individuais e coletivas de seu trabalho.
Anos 60
CARLOS Augusto Caminha VERGARA dos Santos nasceu em Santa Maria (RS), em 29 de novembro de 1941. Aos 2 anos de idade, muda-se para São Paulo, por força da transferência de seu pai, reverendo da Igreja Anglicana Episcopal do Brasil. Naquela cidade, estudou no Colégio Mackenzie e, em 1954, mudou-se com a família para o Rio de Janeiro.
Completa o ginásio no Colégio Brasileiro de Almeida e lá é estimulado à experimentação de várias atividades criativas, além de receber orientação profissional. Estuda química e, em 1959, ingressa por concurso na Petrobras, onde permanece até 1966 como analista de laboratório. Ainda no colégio, inicia o artesanato de jóias em cobre e prata, cujo resultado expõe em 1963, na VII Bienal Internacional de São Paulo. Nessa época, além do trabalho na Petrobras, sua atividade principal era o voleibol, tendo disputado pelo Clube Fluminense vários torneios.
A aceitação de suas jóias na Bienal leva-o a considerar a arte como atividade mais permanente. Nesse mesmo ano, tornou-se aluno do pintor Iberê Camargo, também gaúcho, no Instituto de Belas Artes (RJ). Passa, em seguida, a ser assistente do artista, trabalhando em seu ateliê.
Em maio de 1965, participa do XIV Salão Nacional de Arte Moderna (RJ). Conhece o artista Antonio Dias, integrante do mesmo Salão, que o apresenta ao marchand Jean Boghici. Este o convida a participar da mostra Opinião 65, que organiza com Ceres Franco no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Inaugurada em 12 de agosto, a exposição se torna importante marco na história da arte brasileira, ao evidenciar a postura crítica de jovens artistas diante da realidade social e política do momento. Em dezembro do mesmo ano, integra a mostra Propostas 65, na Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo, com as obras Eleição, Discussão sobre Racismo e O General. Participa ainda do Salon de la Jeune Peinture, no Musée d’Arte Moderne de la Ville de Paris, com Antonio Dias e Rubens Gerchman.
Em março de 1966, com o apoio técnico dos arquitetos André Lopes e Eduardo Oria, vence o concurso para execução de um mural no auditório da Escola Nacional de Saúde Pública, em Manguinhos (RJ), com projeto de painel realizado com tubos de PVC, medindo 4m de altura por 18m de comprimento. O júri é composto por Flávio de Aquino, Lygia Clark e Lygia Pape. Este projeto inicia sua aproximação à arquitetura, atividade paralela ao processo artístico, presente até hoje em sua vida.
Em abril, recebeu o Prêmio Piccola Galeria, do Instituto Italiano de Cultura, destinado aos jovens destaques brasileiros nas artes plásticas. Participa do evento de inauguração da Galeria G4, na rua Dias da Rocha 52 (RJ), espaço projetado pelo arquiteto Sérgio Bernardes e dirigido pelo fotógrafo norte-americano David Zingg. Nesse dia, Vergara, Antonio Dias, Pedro Escosteguy, Rubens Gerchman e Roberto Magalhães realizam um happening com ampla repercussão na cidade. Sobre seu trabalho na exposição, Vergara comenta:
“Nesse happening eu chegava de carro e descia com uma pasta de executivo. Eu havia preparado uma parede no fundo da galeria e, por trás dela, tinha deixado uma frase pronta e um recorte fotográfico de dois olhos muito severos olhando para a frente. Eu abria a pasta e tirava uma máquina de furar. Desenhava um ponto a 80cm do chão e escrevia ‘Olhe aqui’. As pessoas se abaixavam e olhavam pelo buraco. Lá dentro estava escrito: ‘O que é que você está fazendo nessa posição ridícula, olhando por um buraquinho, incapaz de olhar à sua volta, alheio a tudo o que está acontecendo?"
Ainda em 1966, integra a coletiva Pare: Vanguarda Brasileira, organizada por Frederico Morais, na Reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais. No cartaz da exposição, Frederico escreve: “Para Vergara, o quadro deixou de ser um deleite, prazer ocioso ou egoístico, para transformar-se numa denúncia. Não foge nem esconde esta contingência – faz uma pintura em situação.”
No mesmo impresso, Vergara declara, ainda:
“Todos são obrigados a tomar uma posição. Será possível ficar calado diante de uma realidade onde uns poucos oprimem a muitos? Será possível voltar os olhos enquanto os valores se invertem e ficar procurando formas de divagação? Essa é uma posição que não me agrada (...) A condição de premência em que se vive me obriga a ser mais conseqüente, mais objetivo e às vezes mais temporal dentro de minha arte. Só repudiar uma estética convencional é repudiar ser inconseqüente. Repudiar, porém, essa estética convencional é para sacudir os espectadores e pedir deles também uma atitude nova; é colocar o problema em questão. (...) Arte é comunicação. Esse jogo não tem regras.”
Em agosto, faz parte da mostra Opinião 66, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, organizada por Carmen Portinho, Ceres Franco e Jean Boghici, com a obra Meu Sonho aos 18 Anos. No mesmo mês, a revista Realidade publica artigo assinado por Vera e Mário Pedrosa sobre os jovens artistas atuantes no Rio de Janeiro Antonio Dias, Vergara, Gerchman, Magalhães e Escosteguy, com ensaio fotográfico de David Zingg. Em outubro, estréia a peça teatral Andócles e o Leão, de Bernard Shaw, montada pelo Grupo O Tablado, com direção de Roberto de Cleto, cenários de Vergara e figurinos de Thereza Simões. Esta é sua primeira participação como cenógrafo, atividade que continuará a desenvolver durante a década de 1960.
Encerra o ano com exposição individual na Fátima Arquitetura Interiores (RJ), onde apresenta desenhos realizados entre 1964 e 1966, como Le Bateau ou A Caixa dos Sozinhos, uma referência à boate Le Bateau, frequentada pela juventude carioca na época. Por ocasião da mostra, o crítico Frederico Morais aponta:
“(...) Da solidão e do medo, dois temas do homem de hoje; do desenho requintado e luxuriante às inovadoras e fascinantes pesquisas com plástico (...) Como em certas pesquisas da pintura atual, Vergara está incorporando a própria moldura e também o suporte no desenho fazendo do plástico não uma bolsa para o papel, mas algo que gradativamente vai adquirindo sua própria expressividade. (...) Seus últimos trabalhos são na verdade objetos virtuais, quase objetos.”
Em março de 1967, recebe o Primeiro Prêmio de Pintura no I Salão de Pintura Jovem de Quitandinha, Petrópolis (RJ), com a obra Sonho aos 18 Anos e, no mês seguinte, o prêmio aquisição O.C.A. no Concurso de Caixas, evento promovido pela Petite Galerie (RJ), que seleciona exclusivamente obras concebidas em formato de caixa. A exposição, inaugurada em 2 de maio, tem o convite desenhado por Vergara.
Em abril, é um dos organizadores, juntamente com um grupo de artistas liderados por Hélio Oiticica, da mostra Nova Objetividade Brasileira, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que procura fazer um balanço da vanguarda brasileira produzida no país. Assina a “Declaração de princípios básicos da vanguarda” e, nessa mostra, participa com os trabalhos Indícios do Medo, Minha Herança São os Plásticos e Auto-retrato, todas de 1967.
Em setembro, participa da IX Bienal de São Paulo, quando obteve o Prêmio Itamaraty. Em 9 de outubro, realiza mostra individual na Petite Galerie. Nesta exposição, Vergara apresenta obras realizadas com materiais industriais. Seu convívio com a indústria e, sobretudo, sua familiaridade com o desenvolvimento de novos materiais plásticos, graças a seu trabalho na Petrobras, foram decisivos para seu processo criativo e tornaram possível seu desejo de aproximar indústria e arte. Sobre esta relação, o artista acrescenta:
“(...) para mim, só há uma razão para a arte: ela ser consumida, passar a ser um elemento importante na vida do homem. Uma escultura que fosse também uma geladeira seria uma experiência válida. (...) Estou certo de que uma das funções do artista no Brasil é despertar a indústria para a utilização da arte.”
Algumas obras da exposição foram realizadas com a colaboração de técnicos da indústria Plasticolor. Na mesma mostra, o artista também apresenta Berço Esplêndido, seu primeiro trabalho tridimensional, do qual o público é convidado a participar, sentando-se em seis pequenos bancos com a inscrição “sente-se e pense”, em torno de uma figura deitada coberta com as cores da bandeira do Brasil.
Em 1968, realiza sua primeira mostra individual em São Paulo, na Galeria Art Art, apresentando, entre outros trabalhos, o resultado de suas recentes experiências: caixas feitas com papelão de embalagem, deslocando das próprias pilhas de embalagens da fábrica para os então sacralizados espaços de museus e galerias, transformando-as em esculturas. A exposição tem texto de apresentação de Hélio Oiticica, que escreve:
“(...) Vergara constrói caixas não requintadas, puro papelão, papelá, bandeira, bandeiramonumento, Brasília verdeamarela, mas papelão, que se encaixa, na caixa, na sombra e na luz, no cheiro – é a secura das fábricas, sonho de morar, viver o fabricado preconsumitivo, antes de ser às feras atirado – Seca, viva, a estrutura é cada vez mais aberta – ao ato, ao pensar, à imaginação que morde, demole, constrói o Brasil, fora e longe do conformismo (...)”
Ainda em 1968, realiza cenários e figurinos das peças Jornada de um imbecil até o entendimento, de Plínio Marcos, montada pelo Grupo Opinião, com direção geral de João das Neves, música de Denoy de Oliveira e letras de Ferreira Gullar, e Juventude em crise, de Bruchner, juntamente com o artista Gastão Manuel Henrique, apresentada no Teatro Gláucio Gil (RJ).
Em maio de 1969, é selecionado para a X Bienal de São Paulo. No mesmo mês é escolhido, junto com Antonio Manuel, Humberto Espíndola e Evandro Teixeira, para representar o Brasil na Bienal de Jovens, em Paris. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro organiza uma mostra dos artistas que participariam dessa bienal, mas algumas horas antes a exposição é fechada por ordem do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores. Em novembro, realiza nova mostra individual na Petite Galerie. Interessado em investigar as relações entre arte e indústria, trabalhando na fábrica de embalagens Klabin, expõe trabalhos em papelão: figuras empilhadas, sem rosto, e objetos-módulos, criados para a Feira de Embalagem, além de desenhos e objetos moldados em poliestireno. Sobre esta mostra, o artista comenta:
“Eu me preocupo com uma linguagem brasileira para a arte moderna. Encontrei no papelão – pobre, frágil, descolorido – um material coerente com a nossa realidade (...) barato, perecível, o papelão significa para mim a possibilidade de fazer minhas obras (...).”
É um dos fundadores da seção brasileira da Associação Internacional de Artistas Plásticos (Aiap), que tem ampla atividade política, até ser aniquilada pela Censura.
Anos 70
Na década de 1970, ocorre uma mudança de atitude na arte e na cultura brasileiras. A Censura, a violência e o fim das garantias constitucionais, determinadas pelo Ato Institucional n. 5, de 1968, não permitem a indiferença. Muitos artistas e intelectuais, entre os quais Hélio Oiticica, Antonio Dias e Gerchman, saem do Brasil. Outros, como Vergara, mudam o foco de seu trabalho. Segundo o próprio artista: “(...) a gente começa a ter uma atitude mais reflexiva, mesmo. Eu começo a usar fotografia e fazer uma espécie de averiguação mais antropológica do real (...)”. Essa busca de linguagens reflexivas se traduz, na obra de Vergara, na extensa pesquisa sobre o carnaval e na realização de filmes super-8, sem deixar de lado os trabalhos decorrentes de sua experimentação com materiais industriais, sobretudo o papelão.
Participa, em 1970, da 2ª Bienal de Medellín, Colômbia, apresentando o trabalho América Latina, dois grandes desenhos no chão, com recortes e caixas de papelão – que foram extraviados em sua volta ao Brasil. Para Hélio Oiticica: “(...) os superdesenhos crescem das caixas-estruturas-cenários caligarianos: espalham-se pelo chão, desenham-se, recortam-se: as folhagens de papel barato: moitam-se-desgarram-se: invadem, por seu turno, o ambiente (...)”.
Nesta década, intensifica seu trabalho com arquitetos, principalmente Carlos Pini, realizando painéis para lojas, bancos e edifícios públicos. Entre os trabalhos mais importantes, destacam-se os painéis realizados para as lojas da Varig em Paris e Cidade do México (1971); Nova York e Miami (1972), Madri, Montreal, Genebra e Johanesburgo (1973), Tóquio (1974), entre outros.
Buscando criar uma atmosfera brasileira para estes trabalhos arquitetônicos, começa a utilizar materiais e técnicas do artesanato popular, como a cerâmica e os trabalhos com areias coloridas em garrafas, no interior do Ceará. Nos botequins do Nordeste, também se interessa por pequenos enfeites realizados com papel dobrado e recortado. Transpondo esse universo popular para a escala arquitetônica, alia sua experiência com papelão ondulado na fábrica Klabin, realizada desde os anos 1960, a trabalhos de recorte em grande escala.
Em 1971, recebe, com os arquitetos Guilherme Nunes e Carlos Pini, o Prêmio Affonso Eduardo Reidy, da Premiação Anual IAB/GB, pelos projetos das lojas Varig de Paris e São Paulo.
Em 1972, idealiza a mostra intitulada EX-posição, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Em lugar da individual que estava agendada, o artista organiza uma mostra coletiva, posicionando-se criticamente em relação à realidade política do país. Em suas palavras: “Era tão agoniante a situação que se vivia, que achava um absurdo fazer uma individual fingindo que não estava acontecendo nada. Era já uma postura política tentando abrir o espaço individual para uma coisa mais coletiva.” De Nova York, Hélio Oiticica envia para a mostra o projeto do Filtro, um penetrável que conduz o trajeto do público. A exposição abriga múltiplas linguagens, apresentando pinturas, desenhos, fotografias e filmes super-8 de muitos artistas, entre os quais Roberto Magalhães, Caetano Veloso, Chacal, Bina Fonyat, Glauco Rodrigues, Ivan Cardoso e Waltércio Caldas. Além de organizar a exposição, Vergara apresenta seu trabalho fotográfico sobre o carnaval e uma reportagem realizada com Fonyat no vilarejo de Povoação (ES). Também mostra seu filme Fome, em super-8, e o Texto em branco, publicado pela editora Nova Fronteira.
Em sua pesquisa sobre o Brasil, começa a registrar de forma sistemática o carnaval carioca. Interessa-se, principalmente,
“pelos rompimentos com os comportamentos cotidianos, pela sexualidade ostensiva, pelas inversões de comportamento, pelas intervenções sobre o corpo, pela tomada da rua, pela quebra da estrutura de controle do resto do ano e pelas novas hierarquias que se montam”.
Focaliza, sobretudo, a bloco de embalo Cacique de Ramos, por ser:
“um bloco formidável para uma reflexão (...) com sete mil integrantes, que resolvem se vestir iguais, numa festa onde seu predicado é o exercício e a exacerbação da individualidade. (...) A roupa do Cacique de Ramos é uma gravura feita em um metro de vinil. Você levava para casa uma gravura, recortava e botava sobre o corpo. Isso não é brincadeira. Só tem uma área de individualidade que é o rosto. Para mim era importantíssimo mostrar que, instintivamente, podem surgir na sociedade iguais diferentes, diferentes mas iguais.”
Ainda em 1972, ganha, com o arquiteto Marcos Vasconcellos, o Prêmio Henrique Mindlin da IAB/RJ, pelo projeto de uma capela, da qual Vergara idealiza os vitrais. Em 1973, realiza mostra individual inaugural da Galeria Luiz Buarque de Hollanda e Paulo Bittencourt (RJ). Participa da coletiva Expo-projeção 73, no espaço Grife (SP), onde apresenta seu filme Fome. No mesmo ano, criou um painel para a sede do Jornal do Brasil (RJ).
Em 1973, monta, com amigos arquitetos e fotógrafos, um ateliê coletivo do qual participam Marcos Flaksman, Carlos Pini, Manoel Ribeiro, Sebastião Lacerda, Bina Fonyat e Antonio Penido, que mais tarde se transformará na firma Flaksman Pini Vergara Arquitetura e Arte, com atuação centrada em projetos de arquitetura teatral e de shopping centers, como o Barra Shopping (RJ). Neste projeto, Vergara participa da concepção de todas as áreas dedicadas ao passeio, comércio e lazer do centro comercial, além da criação de uma capela ecumênica. Para o artista, “é interessante fazer uma coisa que está dissolvida no real. Não tem a pretensão do discurso individual do artista, mas é a atuação do artista que está dissolvida na vida das pessoas (...) onde você se sente bem sem saber por quê”.
Em 1975, integra o conselho editorial da revista Malasartes, publicação organizada por artistas e críticos de arte com o intuito de criar debates e reflexões sobre o meio de arte no Brasil.
Realiza, em 1976, dois novos painéis no Rio de Janeiro: um para o centro comercial na Praça Saens Peña, Zona Norte da cidade, projetado pelo arquiteto Bernardo de Figueiredo, e outro para o Rio Othon Palace Hotel, em Copacabana, na Zona Sul.
Em setembro de 1977, participa da fundação da Associação Brasileira de Artistas Plásticos Profissionais, chegando a ser presidente da entidade, criada para reivindicar a participação dos artistas nos debates e decisões das políticas culturais nas artes visuais.
Em junho de 1978, apresenta na Petite Galerie, individual a partir de seu trabalho sobre o carnaval carioca, quando mostra fotografias, pinturas em papel, desenhos e montagens com caramujos. Os moluscos têm, para o artista, interesse semelhante ao bloco Cacique de Ramos, em que todos parecem, à primeira vista, iguais, porém, sutis diferenças marcam sua individualidade. Em novembro, apresenta a mesma mostra na Galeria Arte Global (SP). O catálogo traz texto do próprio artista. Em dezembro, a Funarte edita o livro Carlos Vergara, como parte da Coleção Arte Brasileira Contemporânea, com textos de Hélio Oiticica e programação visual de Vera Bernardes, Sula Danowski e Ana Monteleone.
Em 1979, realiza, com Ruth Freinhoff, a programação visual da capa do disco Saudades do Brasil, de Elis Regina; com o cenógrafo Marcos Flaksman cria o cenário do show homônimo. No mesmo ano, assina a concepção visual da capa do disco Elis.
Anos 80
Em junho de 1980, participa, ao lado de Antonio Dias, Anna Bella Geiger e Paulo Roberto Leal, da 39ª Bienal de Veneza. Apresenta um desenho de 20m de comprimento e 2m de altura, que seria para o artista “uma espécie de catarse de desenho”, no qual parece encerrar seu trabalho de documentação do carnaval. O catálogo que acompanha sua participação traz texto de Hélio Oiticica.
Ainda nesse ano, integra a exposição Quasi Cinema, no Centro Internacional di Brera, Milão (Itália). No ano seguinte, mostra 17 desenhos e pinturas em papel e o painel realizado para a Bienal de Veneza na Galeria Mônica Filgueiras de Almeida (SP).
Na década de 1980, o artista retoma a pintura com telas que apresentam uma trama diagonal como estrutura. Apesar da ausência de referências exteriores à própria construção pictórica, essas telas ainda decorrem de seu trabalho fotográfico sobre o carnaval.
Segundo o artista:
“(...) as pinturas com as diagonais vêm do carnaval, não por causa da roupa do arlequim, mas por causa da grade de separação do público nos desfiles. Tenho uma série de fotografias das pessoas atrás da grade ou do carnaval atrás da grade. Aos poucos, a grade vai ficando como medição, as pessoas e as figuras vão saindo (...)”
Em maio de 1983, é inaugurada a Galeria Thomas Cohn (RJ) com individual de pinturas do artista. No catálogo, Ronaldo Brito escreve:
“A trama é estritamente pictórica. A sua construção e a sua palpitação remetem apenas a si mesmas. A premência e a urgência da pintura, da vontade de pintura, se tornam flagrantes pela falta de qualquer mediação entre o próprio ato de pintar e a coisa pintada (...) Mas, visivelmente, a trama aponta para uma divisão, um lá e cá, um antes e depois (...) de uma maneira explícita, essas telas assumem um lugar paradoxal – o seu estar entre. Entre o passado literário e a procura de uma auto-suficiência visual (...) Entre a pressão de uma estrutura, com a demanda de um raciocínio pictórico cada vez mais complexo, e a força decorrente do seu imaginário figurativo, o trabalho vive o seu dilema básico, a sua ambigüidade fundamental (...)”
Em 10 de dezembro, expõe pinturas no Gabinete de Arte Raquel Arnaud (SP). O texto de apresentação de Alberto Tassinari reafirma o caráter autônomo ali expresso:
“Nas suas telas o olhar imagina, e a imaginação olha. Cúmplices um do outro, colocam a questão: é possível olhar um quadro sem imaginá-lo? (...) O que está em jogo nessas telas é um dos fundamentos da pintura. A impossibilidade de sua transmutação absoluta de imagem em objeto (...) Sua ação pictórica não reveste a tela com fabulações do sentido. Está antes interessado na cuidadosa investigação de um problema fundamental da pintura: a transfiguração recíproca de olhar e imaginar.”
Ainda em 1983 é nomeado para o cargo de presidente do Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural (RJ), ocupando a vaga do escritor Pedro Nava, recém-falecido. De 22 de janeiro a 22 de fevereiro de 1985, organiza individual no Brazilian Centre Gallery, em Londres, onde expõe pinturas em grandes formatos. É co-diretor, com Belisário França e Piero Mancini, do vídeo Carlos Vergara: uma pintura, que integra a Série RioArte Vídeo / Arte Contemporânea.
Em 1987, realiza mostra individual no Gabinete de Arte Raquel Arnaud e executa painel para a sede do Banco de Crédito Nacional/BCN, em Barueri (SP).
Monta ateliê em Cachoeiras de Macacu, município a 120km do Rio de Janeiro, às margens do rio de mesmo nome, onde passa a maior parte do tempo. Este novo espaço, de grandes dimensões, lhe permite trabalhar em várias obras simultaneamente.
Em março de 1988, inaugura exposição individual na Galeria Thomas Cohn, Rio de Janeiro, e apresenta dez telas. Além das tradicionais, Vergara passa a utilizar tintas industriais que
“em contraste com as outras, oferecem a oportunidade de ele montar ‘pequenas armadilhas para o olhar’, avanços progressivos na direção da inteligência da visão. Organizada ainda a partir das grades que abriram a nova fase pictórica, Vergara mantém ainda um sistema de divisão da tela com cordas que ficam marcadas na pintura. Mas a grade está ampliada, quase estourando (...) E a tinta, aplicada com as mãos ou com esponjas, aparece na tela como uma explosão líquida de cor, um splash que condensa em si o ato do pintor e seu pensamento.”
Nesse ano, além de realizar novo painel para a sede do Banco Itaú (SP) e escultura para um edifício residencial – projeto do arquiteto Paulo Casé, na rua Prudente de Moraes n. 756, em Ipanema (RJ) –, cria a abertura para a novela Olho por olho, da TV Manchete, emissora carioca.
Em 1989, ocorreu uma mudança importante em sua pintura. O artista passa a trabalhar com pigmentos naturais e minérios a partir dos quais realiza a base para trabalhos em superfícies diversas. Estes se tornam resultantes de um processo de impressão e impregnação de diferentes “matrizes”, como a própria boca dos fornos numa pequena fábrica de pigmentos de óxido de ferro em Rio Acima (MG), e de uma posterior intervenção do artista. Sobre a nova direção em seu trabalho Vergara declara:
“Em 1989 (...) decidi dar uma nova direção por estar seguro de que havia esgotado a série começada em 1980, quando abandono a figura e mergulho numa pintura que tinha como procedimento uma ‘mediação com cor’ do espaço da tela, dividindo com diagonais paralelas, formando uma grade (...) propus para mim, com desapego, me colocar num marco zero da pintura e olhar para fora e para dentro.”
Em outubro de 1989, participa da 20ª Bienal de São Paulo com grandes painéis impressos com cores extraídas do óxido de ferro. No centro da sala destinada ao seu trabalho, o artista coloca uma enorme caixa contendo um bloco do pigmento mineral. Inaugura, na mesma época, individual no Gabinete de Arte Raquel Arnaud, com 14 telas. O catálogo que acompanha as exposições traz o texto “Acontecimentos pictóricos”, do crítico Paulo Venancio Filho.
Anos 90
Em setembro de 1990, realizou mostras individuais no Paço Imperial (RJ), apresentando 20 telas de grandes dimensões, e na Galeria Ipanema (RJ). Por ocasião desta exposição, o crítico Paulo Sergio Duarte escreve o texto “Uma noite matriz do dia”, no qual se refere à dupla direção tomada pela pintura atual do artista:
“O processo de trabalho de Vergara se encontra num momento onde sua pintura se expande, ao mesmo tempo, em duas direções diametralmente opostas. De um lado, o elogio da transparência na comemoração do fato plástico, de outro, uma expressividade impregnada a partir da própria matéria que na sua opacidade sombria apresenta um drama. (...) Num extremo, o sentido gráfico construtivista será acrescido de elementos expressivos (...) No outro extremo, um cenário está dado e, digamos, energizado por uma história mítica da técnica da pintura (...) O que se anuncia, nos dois extremos, é o elogio do aparecer da pintura no próprio ato pictórico (...)”
Em abril de 1991, realiza mostra com telas sobre lona crua no Gabinete de Arte Raquel Arnaud. Em setembro, apresenta exposição individual no Grande Teatro do Palácio das Artes (BH), com 21 monotipias realizadas em Rio Acima e retrabalhadas no ateliê. Para o catálogo da exposição, promove-se uma conversa entre Ronaldo Brito, Paulo Sergio Duarte, Paulo Venancio Filho, Tunga e o próprio artista, em que se debate o atual estágio da trajetória artística de Vergara. Segundo Ronaldo Brito:
“O trabalho atual seria mais lento, mais reflexivo, mais dubitativo e que suscita, convida até a uma espécie de convívio estético mais indefinido, mais prolongado no tempo. Há uma demora para se impregnar com estes valores todos. É algo não para se contemplar, olhar de fora, mas para chegar perto e experimentar (...)”
No ano seguinte, realiza a individual Carlos Vergara, Obras Recentes 1989-1991, no Centro de Arte Moderna, Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa), com a apresentação de 20 grandes monotipias e, na Capela do Morumbi (SP) monta uma instalação com quatro monotipias em papel de poliéster impregnado de resina adesiva, presas diretamente no teto, consideradas “pinturas fora do muro” pelo artista.
Em 1993, o Centro Cultural Cultural Banco do Brasil (RJ) organiza individual do artista, onde é remontada a Capela do Morumbi. Realiza outra exposição individual na Galeria Francis Van Hoof, Antuérpia.
No ano seguinte, faz mostra individual no Gabinete de Arte Raquel Arnaud e participa da Bienal Brasil Século XX, na Fundação Bienal (SP). Ainda em 1994, convidado pelo Instituto Goethe, faz parte da equipe de artistas brasileiros e alemães que realiza parte do percurso original da Expedição Langsdorff, viagem científica ocorrida entre 1822 e 1829 com o intuito de documentar a natureza e a sociedade do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Amazônia. Nesta viagem, Vergara produz telas e gravuras, como as monotipias dos pisos de Ouro Preto e Diamantina (MG). Em 1995, o resultado desta experiência é apresentado na mostra O Brasil de Hoje Espelho do Século 19 - Artistas Alemães e Brasileiros Refazem a Expedição Langsdorff, na Casa França-Brasil (RJ) e no Museu de Arte de São Paulo/Masp. No mesmo ano, realiza individuais na Galeria Debret (Paris) e na Galeria Paulo Fernandes (RJ), e cria painéis para o Morumbi Office Tower (SP).
Entre 1996 e 1997, realiza a série intitulada Monotipias do Pantanal, mostrada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, quando os registros da natureza, sejam intervenções de animais ou marcas de plantas, se imprimem nas telas, criando tanto sudários quanto estruturas gráficas para obras trabalhadas posteriormente no ateliê. Para o artista, esses trabalhos adquirem novo estatuto em que, “deslocados do contexto da impressão, recebem chassis, além das eventuais intervenções posteriores (...) aí sim, elas ganham corpo e densidade suficientes”.
No mesmo ano, apresenta individual de gravuras na Fundação Castro Maya (RJ). Integra a Bienal do Mercosul (POA). Convidado por Nelson Brissac Peixoto, participa do projeto Arte/Cidade 3, A Cidade e suas Histórias, nas Ruínas da Fábrica Matarazzo (SP). Na ocasião, Vergara realiza Farmácia Baldia, com a ajuda de botânicos da Universidade de São Paulo/USP e do arquiteto paisagista Oscar Bressane, intervenção resultante da localização e classificação de inúmeras plantas medicinais existentes nas imediações da fábrica, fazendo desenhos em grande escala, diretamente nas paredes dos galpões abandonados, interagindo com as pichações existentes e criando uma marcação com mastros coloridos no terreno em torno das plantas identificadas.
Em 1998, recebe o Prêmio Mário Pedrosa, da Associação Brasileira de Críticos de Arte/APCA, por sua mostra Monotipias do Pantanal: Pinturas Recentes, no MAM-SP. Em setembro, participa da exposição Poéticas da Cor, no Centro Cultural Light (RJ) com a instalação Limonita “minério encharcado”. Realiza a individual Os Viajantes, no Paço Imperial. Em novembro de 1999, a Pinacoteca do Estado de São Paulo organiza a mostra antológica Carlos Vergara 89/99, apresentando desde suas primeiras monotipias sobre lona crua até as telas nas quais a intervenção do artista, com materiais como dolomita e tintas, apaga quase completamente os sinais da primeira impressão que deu origem aos trabalhos.
Anos 2000
Em 2000, participa das coletivas Brasil + 500 Mostra do Redescobrimento, Fundação Bienal (SP); Século 20: Arte do Brasil, Fundação Calouste Gulbenkian (Lisboa); no Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão (Lisboa); e Situações: Arte Brasileira Anos 70, na Fundação Casa França-Brasil (RJ).
Em junho do ano seguinte, realiza individual na Galeria Nara Roesler (SP). Para o catálogo, o artista escreve o texto “Pequena bula”, em que explica o processo de elaboração dos trabalhos apresentados:
“São pinturas que começam com uma monotipia (...) Esta impressão se dá em áreas escolhidas, já cobertas pela poeira depositada pela atividade da indústria na moagem dos pigmentos que produz (...) de forma que a impressão capture os desenhos e as tensões gráficas dessas áreas. Um repertório de formas são utilizadas, como um alfabeto que constrói aos poucos, e por partes, o discurso do trabalho. Essas formas podem ser recortes em papelão, tecido, madeira, metais, borracha (...) materiais que obedecem e materiais que não obedecem docilmente (...)”
Realiza individual na Silvia Cintra Galeria de Arte (RJ).
Em 2002, é convidado a fazer parte do projeto Artecidadezonaleste (SP), para o qual cria uma intervenção na praça da estação Brás do metrô. Nas palavras de Nelson Brissac Peixoto, curador do evento, o trabalho de Vergara é:
“(...) uma intervenção sobre esta situação aparentemente inerte, uma ação que eventualmente detone um processo de ocupação deste vazio, inibido pelo rígido programa preestabelecido pelo planejamento urbano. (...) consiste em instalar no local um conjunto de barracas, do tipo usado pelos camelôs. As barracas, feitas de vergalhões de ferro, aparecem intencionalmente inconclusas, um esqueleto que pode ser completado com tampas e toldos ou utilizado para outros fins. Essa estrutura inacabada não obedece às bases de concreto existentes no local para disciplinar sua ocupação por camelôs, deixando em aberto a configuração urbana resultante (...)”
Em dezembro, tem sala especial na mostra ArteFoto, no Centro Cultural Banco do Brasil (RJ), com curadoria de Ligia Canongia, e seu trabalho Cacique de Ramos: Iguais Diferentes ganha destaque. Na ocasião, mostra fotografias realizadas entre 1972 e 1975 e plotagens recentes a partir do mesmo material.
A partir de maio de 2003, apresenta a primeira grande retrospectiva de seu trabalho, no Santander Cultural (POA), no Instituto Tomie Ohtake (SP) e no Museu Vale do Rio Doce, Vila Velha (ES), com curadoria de Paulo Sergio Duarte.
Textos Críticos
BIENNALE DI VENEZIA '80
DESENHO é planejamento e recolhimento de material bruto recolhido e posto em estado bruto: segundo vergara é memória e projeção: o cigarro que queima fumaça de cor expressionista que acaba no desenho como foto-decalque da infância: um outro q já projeta decalque de foto-CARNAVAL: anotação e antecipação: cerne-espinha do q vem a explodir em seguida em forma de projetos maiores: não considerá-los por isso mesmo menores:
continuarão a emergir e o devem:
pre-vêem:
os superdesenhos crescem das caixas-estruturas-cenários caligarianos: espalham-se pelo chão, desenham-se-recortam-se: folhagens de papel barato: moitam-se-desgarram-se: invadem, por seu turno, o ambiente - colher os cantos-recantos brasis que os teóricos academizantes não conseguem: brasil sensível, não cultural – tudo terá que desembocar fatalmente em estruturas mais gerais, em proposições que crescem em ambição: em algo que seja mais importante que galerias e museus: que prescinda delas para a sobrevivência – a consciência de que essa face pra ser face, deva ser exportável, assim como o fizeram os americanos (warhol, p. ex., mais do que oldenburg que se resume mais a uma “imagem-america – warhol realmente criou o que se poderia se chamar de face-america) – tirar do saco o que deve ser tirado, o que interessa – vergara quer ser a consciência vigilante dessas instân (cias) (tes) mas geral que a moda e a forma: o lugar e o tempo, só cabem a ele construir: e ambos são fundamentais aqui: a busca do tempo-lugar perdidos no subdesenvolvimento-selva: as perguntas, as respostas, as questões: validade delas: de onde abordar a conceituação de valor? Nem a “arte” nem a “cultura” importam aqui: muito mais: o comportamento como uma forma viva das opções criativas – vivatuante, vigilante: uma consciência.
vergara quer construir em bloco uma instância: um instante brasil – a face – mesmo que para isso tenha que se apegar aos restos, às proposições antigas, que aparecem aqui para formar este bloco: sua facilidade em desenhar, em decorar, recortar, enriquecer o ambiente etc; não interessam aqui coisas como “mensagens” anedóticas, sem eficácia: a ambição de criar este bloco-face brasil absorvendo tudo, deixando de lado certos pudores esteticistas; nisso reside sua coerência: e ao final, sem sobras
a cabeça
a máscara: o recorte da cabeça q está em aberto pra receber a máscara
mascarar-se: escolher identidade." — Hélio Oiticica
ATRAVÉS DA ORDEM
"A trama é estritamente pictórica. A sua construção e a sua palpitação remetem apenas a si mesmas, A premência e a urgência da pintura, da vontade de pintura, se tornam flagrantes pela falta de qualquer mediação entre o próprio ato de pintar e a coisa pintada. A trama é exatamente o que se trama, tudo o que se trama. Dispersão e fragmento se relacionam aqui com vistas à construção de uma Totalidade que será necessariamente precária. A tela pronta se busca ainda, pulsa inquieta e escapa a seu método. Metonímia só, sem remissão a um todo conhecido. Esses quadros são, com toda certeza, partes, mas, reunidos todos, não organizaram um conjunto – claro, não formam um círculo, tramam.
E, ainda assim, não. O trabalho não é um puro esforço fenomenológico de elaboração de uma pictórica. Talvez seja esse o seu problemático horizonte; possivelmente esse é o seu passado recalcado e irresolvido. Mas, visivelmente, a trama aponta para uma divisão, um lá e cá, um antes e depois. Um percurso e uma oposição. Porque, no caso, a trama também é figura, e aí surpreendemos talvez a verdade do trabalho, o seu conflito de origem. De uma maneira explícita, essas telas assumem um lugar paradoxal – o seu estar entre. Entre o passado literário e a procura de uma auto-suficiência visual, uma irredutível inteligência perceptiva. Estaríamos assim diante de um processo de abstração, uma determinação em construir uma linguagem visual substantiva. Mas, por favor, nela podem aparecer quaisquer imagens, inclusive as chamadas figurativas: o que caracteriza o grau de abstração de uma linguagem é a exigência de auto-legislação formal, a recusa em se apoiar sobre referências externas ao processo do trabalho, sejam elas empíricas, geométricas ou escatológicas.
O que interessa, imediatamente, é que esse entre é – existe e vibra, se faz sentir diretamente no olhar. A estrutura do quadro acolhe e nega a sua carga de temporalidade literária – os losangos que se combinam e dispersam insinuam uma cena ao mesmo tempo em que parecem se resumir, a articular e desarticular limites, sentidos pictóricos intraduzíveis. As cores, a rigor inseparáveis do processo de estruturação, sustentam ainda um caráter metafórico – possuem uma certa intimidade, uma certa memória afetiva que resiste à uma estrita participação interativa.
Entre a pressão de uma estrutura, com a demanda de um raciocínio pictórico cada vez mais complexo, e a força recorrente de seu imaginário figurativo, o trabalho vive o seu dilema básico, a sua ambigüidade fundamental. Note-se porém: os dois momentos aparecem no e do trabalho, emergem de sua operação específica. A vontade de se livrar de conteúdos dados, da figuração imediata que o dominava, corresponde a uma volta às questões de origem. Visivelmente: o chamado fundo passa agora a primeiro plano; as cenas e figuras se diluem e dissolvem nas cores e formas e apenas impregnam afetivamente o quadro. Daí a realidade da trama – é a sua ação que segura os dois espaços opostos e consegue relacioná-los. Em contrapartida é o embate entre esses espaços, em busca de um lugar, o que faz pulsar a rede e promove deslocamentos e condensações. A estrutura se impõe à figura, como fantasma, freqüenta a estrutura.
E, no caso, não há como ser maniqueísta. A decisão estrutural precisa incorporar o imaginário figurativo para se realizar – em última instância é a poética do trabalho o que está em jogo. Impossível negar as cores, linhas e formas a sua história; é possível, no entanto, levá-las a um nível de pensamento superior. Abstraindo as conotações mundanas, reencontrá-las como fundamentos de uma pura inteligência visual. É possível, assim, pensá-las mais próximas de si mesmas e, aí sim,digamos, poetizá-las. E com esta manobra o ato de pintar adquire outro estatuto – o de um saber artístico autônomo, diverso do verbo, com uma lógica de reprocessamento singular.
Por isto, premência da trama: para sair de um impasse,ou antes, para ativar e repotencializar o próprio impasse. Mais, muito mais do que com aparências, a simples troca de figuras empíricas por figuras geométricas, o trabalho está às voltas com uma transformação de medida – um salto no vazio. Inenarrável em outra língua, a pintura só vai existir, fazendo-se, e só pode se fazer atravessando o desconhecido. Graus de incerteza, graus de estranheza passam a ser as marcas do processo – como mostra a trama, o tema do trabalho é a sua própria realização – a sua ambígua, incerta e imprevisível realização. E o prazer do olhar é sentir esse formigamento agindo e construindo. A rede se lançando, palpitando e organizando.
Agora há portanto o drama da pintura com a pintura. E a dúvida do trabalho diante dele mesmo o leva, desculpem o contra senso, de volta para frente. Cruzando em sentido inverso o Novo Realismo dos anos 60, na qual se formou, ele retoma o Expressionismo-Abstrato para uma interrogação radical sobre o fato e o desejo da pintura. No momento em que tudo parece permitido, todas as facilidades, toda espécie de mistificação e contrafação; numa conjuntura em que vários tipos de neo-naturalismos pretendem canonizar ou ultrapassar (SIC) a modernidade, o trabalho assume decididamente a questão moderna. Quer dizer: no mínimo, o compromisso com uma poética irremissível a qualquer ordem prévia – porque, em última instância, este não é mais o Mundo de Deus e o Real se tornou um problema e um projeto.
É sintomática e esclarecedora, assim, a atração do artista pela estrita imaginação pictórica de Mark Rothko. A pintura construindo uma cena que é a própria pintura, onde figura e fundo se debatem e multiplicam até a vertigem; onde espaço e tempo se confundem, indecidíveis, numa trama que se expande e contrai incessantemente. Há por certo uma imaginação romântica em Rothko, mas da ordem da pele: é o corpo, o nosso corpo, que se engaja diferente no mundo a partir da tela – experiência de alheamento e imersão numa atmosfera densa e rarefeita. É essa pulsação rigorosa e indefinida da obra de Rothko que vai seduzir o trabalho através do tema mais constante em toda sua história: o limite entre a ordem e o caos.
Mas se, nesse sentido, por exemplo, a série Carnaval estava ligada à série dos Caramujos, na esfera da reflexão abstrata, ilustradas ambas por obras isoladas, os novos quadros trazem a questão na própria pele – não refletem a idéia de oscilação entre a ordem e o caos, procuram ser esse movimento, produzir imediatamente essa conversão no olhar. Abstraindo o jogo das aparências, o trabalho tenta organizar uma estrutura-carnaval, uma volúvel estrutura em progresso, precária e ambivalente. Por isso, podemos desde logo poupar e esses quadros nossos indefectíveis adjetivos e, ao invés, acompanhá-los em seu ininterrupto esforço de estruturação. Certo filósofo disse uma vez que, ao contrário da suposição comum, o círculo é a festa do pensamento. No caso, uma rede pode ser a festa do olhar." — Ronaldo Britto, dezembro de 1982.
ACONTECIMENTOS PICTÓRICOS
O que esta série de pinturas nos revelam são acontecimentos, situações, instáveis organizações. Elas mantém um grau de imprevisibilidade, uma deliberada margem de gratuidade e espontaneidade. A princípio poderia prevalecer a sensação de que, antes de tudo, é o sentimento do prazer que as impulsiona num movimento contínuo e irrefletido de plena entrega ao fluxo dos impulsos. Antes de nos indagarmos se isto é humanamente possível, percebemos que aqui não se trata propriamente da matéria bruta do prazer, do seu conteúdo, mas da sua forma. A matéria prima é inevitável e necessária, porém é a forma da vivência que se quer que permaneça e possa ser repetida, reexperimentada, para não se dissipar na transitoriedade no momento sem ser conhecida, que não se introjete na culpa e possa persistir como experiência conquistada e a cada vez renovada, vivida na sua antecipação e realização. Trata-se antes do sentido do prazer do que o prazer.
A tela é o lugar de um acontecimento, o lugar onde algo acontece: as possibilidades de uma pintura. Creio que esse acontecimento pictórico não diverge, em essência, de nenhum outro; circunstância onde cruzam certezas e dúvidas, acaso e destino, encontros e desencontros; campo onde circulam forças de diversas intensidades e direções às quais ora resistimos ora nos submetemos. Situação que exige um ato através do qual nos colocamos tal como somos ou pensamos ser, onde mesmo na dúvida ou na incerteza podemos nos lançar em direção a um fim. Momento de uma unidade apenas aparente. Onde a princípio parecia existir uma entrega ao fluxo, simples deixar-se levar, reconhecemos uma dimensão que assume e mantém o conflito. A vontade permanece a única garantia; a garantia de manter a coesão no dilaceramento, sustentar opostos na mesma decisão. Este não é simplesmente o sentido do prazer, é o drama da vontade. Um esforço contínuo e a cada momento posto a prova, uma intenção determinada a se expor e se revelar.
Encontramos nessa pintura movimentos simultâneos e divergentes. Cada tela é uma fonte de emissões que se comportam diferentemente. Flutuam na superfície, emergem no interior, mergulham. As diferentes modalidades com que a superfície é impregnada alterna graus de pulsação, ressonâncias, altera proximidade e distanciamento.A maior ou menor irradiação de energia não está na força do gesto que imprimiu a sua marca, está na sutil diferenciação de emissões. Acompanhamos essas diferenciações nos movimentos simultâneos de sinais opostos, nas sugestões de pontuações e nos ritmos, nas ambivalências cromáticas, no pulsar que faz e desfaz uma cena onde permanece onde permanece a intensidade e a integridade originária. Estamos entre a abstrata organização da vontade e a urgente desorganização dos impulsos, diante da tentativa de manter essa fluída ordem, onde a convivência seja possível, na qual a vontade não seja esquecimento de uma adesão e a urgência da adesão não imponha a presença do irrefletido. Uma vontade que ante as dúvidas e a imprevisibilidade do momento confia na realização e desdobra no sentimento do prazer.
A forma com que o fluxo dessa experiência se configura alterna condensações de ordem e caos. A repetição, às vezes constante, de um elemento, a obsessão por um determinado gesto, procura isolar cada uma dessas experiências específicas, identificá-las e reconhecê-las na indiferenciação inicial. Existe quase uma necessidade de torná-las íntimas e reconhecíveis, para que possam ser repetidas enquanto experiências vividas. Hábito que não cansa; ter o familiar sempre renovado, nunca esgotado. Desejo de prolongar a permanência do que é momentâneo, trazê-lo imediatamente para si, evitar a estranheza e os mal-entendidos. Há nessas telas um pressuposto de conviviabilidade, tornar tudo próximo, acessível, comunicável. Este o desejo possivelmente utópico dessa pintura, o horizonte no qual se projetam figuras e fórmulas do encantamento.
Acima de tudo há nessa vontade que experimenta o conflito, ainda que confiante na realização, e por causa disto, uma dimensão ética; a procura de uma grandeza sóbria, autodimensionada. Essa confiança na realização não encontra seu sentido na reflexão, exprime a experiência da ação e do fazer, que só se revela e só se faz sentido através dela mesma, no momento próprio do trabalho, na consciência da atividade, no reprocessar constante que mesmo realizado por um só dá sentido a todos. Nessas direções conflitantes que se aproximam, da ação que reconhece seu sentido e seu fim nela mesma, nos impasses e soluções que encontra, vai se impondo uma satisfação esclarecida, intensamente realizada.
O percurso dessa pintura exprime em certo sentido os modos de se relacionar com a pintura, ou melhor, os modos como ela se relaciona com a pintura. Em outro momento podemos reconhecer um determinado modelo, certas influências e certos procedimentos. Passagens solitárias que exprimem menos um programa do que um ambiente, um contexto. São possibilidades de convivência que se colocam e sugerem níveis e intensidades de envolvimento. Se essa pintura não segue um programa rigorosamente calculado, mantém uma coerência na instabilidade do afeto. Pois aqui a pintura se organizada segundo a dinâmica do afeto. Esta é sua ordem positiva, sua modalidade de existência, seu avançar, retroceder, continuar. Talvez assim possa correr o risco da instabilidade ou da superficialidade, entretanto, a cada momento e a cada situação, sabe encontrar a espessura correta da experiência, a medida adequada, a intensidade apropriada.
Assumindo os mais diversos riscos, a pintura de Vergara apresenta mesmo em seus momentos mais erráticos e incertos uma força de convencimento. Em cada uma de suas etapas transparece o empenho e o entusiasmo que convive espontaneamente com dúvidas e incertezas. Existe nela a presença constante de uma inquietude, de uma urgência, que se combina com a insistência na execução, sempre surpreendendo com si mesma e com a aventura que é a Pintura. Exercício de entrega à pintura: misto de satisfação e temeridade" — Paulo Venâncio Filho, setembro de 1989
UMA NOITE MATRIZ DO DIA
Toda crítica cai, em algum momento, na tentação da metáfora. Tarefa nem sempre nobre, de encontrar analogias que substituindo o percurso real de uma obra possam potencializar, através de condensações, a produção de sentido que estaria depositada no seu objeto. Se este se estende no percurso de algumas décadas, essa tarefa está, parcialmente, facilitada. O leitor pode julgar, observando o desenvolvimento e transformações, a dose de arbítrio contida na crítica. Mas se nosso hipotético leitor tem diante de si apenas os resultados mais recentes de uma produção – e este é o caso da exposição de Vergara -, essa espécie de correção de rumo se complica. O poema ou uma narrativa na página, o evento plástico, o acontecimento na tela, são apenas o resultado final de um percurso. Mas é este resultado que é a própria arte e é isto que faz que toda obra de arte seja, importando um termo caro aos economistas, auto-sustentável. A razão do texto crítico estaria, então, em acelerar processos de comunicação, permitindo, pela sua intimidade com a obra, um acesso a aspectos do conhecimento particular e específico de sua poética. Mas a construção da metáfora é, no entanto, da ordem da censura e isto não apenas pela passagem, no caso da arte, da esfera visual para a literária, mas também pelo caráter seletivo de um modelo. Toda metáfora tem a pretensão de modelo de seu objeto. E nunca é demais lembrar que a consciência da culpa não exime o culpado.
O processo de trabalho de Vergara se encontra num momento onde sua pintura se expande, ao mesmo tempo, em duas direções diametralmente opostas. De um lado, o elogio da transparência na comemoração do fato plástico, de outro, uma expressividade impregnada a partir da própria matéria que na sua opacidade sombria apresenta um drama. Estamos diante de duas manifestações de uma mesma linguagem pictórica. A linguagem é o lugar onde se materializa e se instala, em qualquer trabalho de arte, sua poética. Estamos, portanto, diante de dois pólos de uma mesma poética. Para descobrirmos o corpo que reúne e integra esses extremos é preciso não nos cegarmos pela sua generosidade plástica: pela luminosidade de uns e pela teatralidade expressiva de outros. A astúcia dos procedimentos pode nos enganar e encontrarmos um falso fio condutor que levaria à identidade dos opostos no jogo entre ordem e acaso. Este embate está em ambos extremos, mas sob controlo, rebaixado ao nível de seu artesanato. E não podia ser de outra forma, Vergara não é ingênuo e conhece a história da pintura, sabe a que limites esse problema foi explorado na arte do século XX, como crítica ou reação ao mundo industrial na sua racionalização totalitária da vida.
Sem dúvida, os trabalhos possuem e expõem os elementos que os unificam. Entre estes se encontra o fato dos dois pólos se constituírem a partir de uma estrutural pré-estabelecida que organiza a superfície. Mas aí cessa a semelhança.
Num extremo, o artista realiza uma operação gráfica de caráter geométrico que antecede o trabalho propriamente pictórico. Esta divisão do território da tela vai permitir o jogo das oposições cromáticas que seria sustentado por uma trama estática, caso não houvesse a intervenção do elemento aparentemente fora de controle, aleatório: esse elemento gestual, que contradiz a sua origem instintiva, já objeto de cálculo e de controle, introduz o movimento, dinamiza a totalidade da superfície, quebra a rigidez, e, aliado à transparência, libera finalmente o signo de seus resquícios puramente gráficos. Paradoxalmente, a intervenção programada, indispensável e refletida, aparece como índice de acaso.
Mas, se num pólo a estrutura pré-existente, o ponto de partida de sua organização interna é traçada na superfície da tela, no outro ela se encontra no exterior, num ambiente onde se recolhe, em Minas Gerais, pigmentos de óxido de ferro para a indústria de tintas. Num extremo, o sentido gráfico construtivista será acrescido de elementos expressivos, cujo jogo cromático e a substituição da clareza da linha pela imprecisão do contorno, somados à luminosidade transparente, serão o evento plástico, aquilo que Paulo Venâncio Filho definiu com “acontecimentos pictóricos”. No outro extremo um cenário está dado e, digamos, energizado por uma história mítica da técnica da pintura. O trabalho ganha sua configuração inicial ali onde sua matéria-prima privilegiada, o pigmento, é extraída in natura. Mas não existe uma simbologia, algo que se passaria fora e distante da superfície do trabalho: existe a consciência de que essa narrativa que se justapõe como anedota inibiria o essencial da experiência.
Essa grandes telas impregnadas das imagens e figuras, impressas no local, podem trazer a presença do acaso como memória distante, como a surpresa no ato da execução. Mas, ainda aqui, o aleatório estará submetido a sucessivos procedimentos que o transformam de acaso em ordem. Um sutil jogo de inversões se estabelece quando observamos os dois pólos de sua poética, cuja potência reside menos na identidade de elementos constitutivos em cada extremo e mais no universo relacional das diferenças, oposições e trocas de sinal.
O procedimento de impressão num cenário onde todas as possibilidades estão previamente definidas preserva aquele momento de acaso no instante de sua descoberta, as intervenções sucessivas só cessarão quando esse elemento aleatório governado pela intenção alcançar o resultado pretendido, o seu contrário. Sua expressividade marcada como lembrança da passagem e troca entre superfícies, evoca, em suas tonalidades sombrias, uma pintura noturna, mas ao contrário dessa tradição, sua escala não é intimista. Irradia e se constitui através de uma espacialidade estranha ao alcance do olhar noturno. Sua dimensão cênica e dramática, ao mesmo tempo, quer evidenciar, antes de qualquer metáfora do mundo, o elogio de um grau zero da pintura que, com procedimentos mínimos e uma economia conquista um grau máximo de expressão. O quê de melancolia que este pólo do trabalho de Vergara pode evocar na sua totalidade e nos fragmentos de figuras – resquícios do mundo exterior com os quais esteve literalmente em contato durante sua realização – surge antes como exigência da própria matéria, como este encontro com a origem tivesse que ser preservado de qualquer euforia, reafirmando, na sua evidência física, a consciência da época na qual vai se inscrever como obra de arte.
Observando as dimensões da linguagem que se estendem nos dois extremos, talvez possamos encontrar o mínimo divisor comum dessa pesquisa que aparentemente se divide e se bifurca em caminhos opostos. Não se trata do gesto aleatório em jogo com um esquema prévio organizador. Aqui, estaríamos reduzindo e confundido método com procedimentos. O que se anuncia nos dois extremos é o elogio do aparecer da pintura no próprio ato pictórico, buscando-os nos limites dados pela transparência que reduz a cor ao mínimo necessário para a sua apresentação em movimento, e no silencioso habitat da pintura reconstituída nas telas impressas. Essa morada dilacerada nas imagens fragmentadas e nas sombras é, no entanto, estável e serena, como se mesmo criadas posteriormente do ponto de vista cronológico, fosse a descoberta de uma camada geológica que antecede e na qual se apoiam as otimistas telas em transparências coloridas. Uma noite matriz do dia" — Paulo Sergio Duarte, setembro de 1990.
ORAÇÃO A UM MUNDO QUE, IMPOSSÍVEL DE SER RESTAURADO, PODE AMANHECER NA LEMBRANÇA
"Em confronto com as recentes telas luminosas e monumentais, ainda no atelier, que sintetizam a experiência desenvolvida nos dois pólos do trabalho de Vergara nos últimos anos, estas, diante de nós, são a passagem, o caminho do meio. O centro pode não ser, portanto, a sábia e pusilânime fuga do abismo e dos extremos, mas o ponto necessário em direção a um objetivo, seguramente não apontado, antes inventado no próprio percurso. Esta visão a posteriori de um processo de trabalho criativo sempre traz o ranço da simplificação, da facilidade daquela que, observando à distância, traça no mapa o percurso da aventura que não realizou.
O que foi acrescentado e transformado nesse conjunto de telas que vão lhe diferenciar da longa série anterior de impressões com pigmentos in natura, que às vezes recebiam uma intervenção cromática em tons azuis, amarelos ou vermelhos, em forte oposição às cores sombrias de terras queimadas das paredes da pequena indústria de pigmentos no interior de Minas Gerais?
Não é uma série aberta, mas um conjunto fechado, uma totalidade que se diferencia da anterior, buscando apresentar-se de uma só vez, presentes começo, meio e fim. Antes nos encontrávamos diante de momentos sucessivos de um processo cujos limites, só agora, podem ser traçados. Se unem numa pequena coleção na busca de uma estruturação mais sistematizada e outro tratamento da luz, ou melhor, outro diálogo com a luz.
Essa organização interna mais evidente não constrange a presença de todo o processo anterior, porque manifesta-se pelo artifício da justaposição de um elemento estranho à superfície pictórica. Digamos que a vontade construtiva não violentou os elementos que evocavam a primitiva manifestação do gesto de impressão das marcas dos pigmentos. Para construir esta arquitetura, o círculo e a elipse, elementos escultóricos, atravessam todas as peças como uma invariante estrutural do conjunto. Desdobram o trabalho, lhe dão uma existência espacial, paradoxalmente, negando-lhe volume, como se insistissem na memória de sua origem: as telas. Isto, além de sustentar a idéia da interdependência entre os diversos trabalhos, ajuda a realçar sutilmente, as diferenças.
Mas há na pintura um jogo a mais, um problema acrescentado na oposição entre a opacidade e a transparência, entre a espessura das camadas pictóricas – seus atributos de absorção de luz pelas terras que se distribuem em marcas, quase ícones das diversas impressões – e o suporte.
Um dia na sua história, a pintura se despregou dos muros, foi para as madeiras e, mais tarde, para as telas. Essa conquista, muito além de seus aspectos técnicos e sociais, contribuiu para mudanças de linguagem e até mesmo para acelerar processos produtivos, com consequências para todo o pensamento pictórico posterior à sua introdução. Num jogo especular com os elementos da história, Vergara inverte essa dimensão, trazendo para as telas – o suporte por excelência desde a Renascença – as marcas do suporte ancestral, o muro. Esses elementos já estavam presentes em todas as séries anteriores. Mas, agora, à força do contraste entre a opacidade da superfície impressa e a luz que atravessa a semi-transparência das telas, a oposição se materializa de modo mais evidente: sem o chassi convencional e expostas com as vértebras à mostra, círculos e elipses, se opondo à sua forma quadrada. Adquirem uma espécie de fragilidade construída para que o elogio do muro e do pigmento se manifeste de um modo esclarecedor.
São paredes de um claustro dilacerado pela laicização da vida e pelo rebaixamento das atividades que exigem destreza. Expostas numa capela ou numa sala, solicitam o silêncio, não de uma cerimônia, mas da oração a um mundo que, impossível de ser restaurado, pode amanhecer na lembrança" — Paulo Sergio Duarte, maio de 1993.
ESTRANHA PROXIMIDADE
"Num país onde boa parte da arte contemporânea se relaciona de modo direto ou indireto, interagindo ou reagindo, com o capítulo construtivista que marcou e ainda marca a sua arte, a pintura de Carlos Vergara vem desenvolvendo desde 1989 produz certa estranheza. Essa diferenciação se realiza pela forma como ele incorpora questões locais. Paradoxalmente, é estranha pelo fato de ser uma pintura brasileira sem se ligar a estereótipos da província. Quando recusamos os ícones que uma certa figuração explorou criando imagens exóticas de si mesma, passamos a admitir o esforço reflexivo dos trabalhos construtivistas e pós-construtivistas que se orientam por uma ordem conceitual onde qualquer elemento local se encontra mediado por tantas instâncias que passa desapercebido. Mas de que modo essa pintura pode se dizer portadora de uma estranha proximidade? Lembro-me de um pequeno texto de Walter Benjamim, entre os muitos textos curtos que narram seus sonhos, onde a ansiedade se assemelha à sensação que certos brasileiros experimentam diante dessas telas. No sonho ele se encontrava junto a um imenso muro de pedra, tão próximo que não permitia que ele visse o restante da construção; sua angústia crescia porque ele sabia que aquela pedra do muro era a Notre Dame. Estava junto à catedral e não podia vê-la porque não era possível recuar para ver o todo. Um verdadeiro pesadelo. Se não me falha a memória, Maurice de Candillac traduziu o título dessa pequena narrativa como Proche, trop proche.
Esta pintura de Vergara carrega esta proximidade excessiva. De início, seu procedimento sublinha seu caráter imediato: a monotipia das paredes de uma pequena fábrica de pigmentos de óxido de ferro, na cidade de Rio Acima, a meio caminho entre Belo Horizonte e Ouro Preto, se escolhermos pequenas estradas do interior, no estado de Minas Gerais. A presença desses tons pertence à paisagem dessa imensa região onde o ferro aflora no solo e nas encostas das montanhas. A população ali convive com essas cores da mesma forma que aqueles que vivem na Amazônia convivem com diversos tons de verde. Por razões históricas esses pigmentos se encontram, também, presentes na origem da pintura no Brasil, se excluímos as manifestações artísticas dos índios, de interesse estético-antropólogico. Encontramos estes pigmentos já na pintura do início do século XIX , na obra do Mestre Atayde nas igrejas dessa região. Há, portanto,essa presença cromática imediata da paisagem e da própria história da pintura.
A cor e o caráter imediato do procedimento não bastam para compreender essas pinturas, há a escala e uma inteligente inversão. Visualmente os tons terra, ferruginoso, ocre, vermelhão do óxido de ferro não são suficientes para transportar uma significativa parte do Brasil para essas telas. A generosidade de suas dimensões e o caráter propositalmente artificial, postiço, das estruturas em elipse que participam de sua sustentação, como vértebras expostas, também têm algo familiar e que temos dificuldade de aceitar como constituindo a nós mesmos: essa grandeza frágil. Falamos da paisagem mas as telas nos sugerem, evidentemente, um interior. Duplo movimento carregado de sentido: trazer para o lugar da arte como cena interior os valores cromáticos e a extensão do exterior. E evocar que valores objetivos ainda residem, incertos, como uma nebulosa subjetividade na consciência cultural do país.
Encontramos no passado e no presente estes valores dispersos em diversas obras de arte no Brasil, mas me parece que raramente reunidos num só trabalho. Há um investimento romântico nessa pintura de Vergara que parece acreditar que ali no fragmento, no pedaço de parede, pode estar o todo e que esse encontro não pode ser perturbado por uma racionalidade inibidora, mas capturado no instante mesmo da impressão das telas. Atual, o sublime aqui não pressupõe nenhuma transcendência, ao contrário, dirige na penumbra dessas telas o olhar para esse território onde nos encontramos de tal forma mergulhados que não o vemos" — Paulo Sergio Duarte, maio de 1995.
CARLOS VERGARA NO MAM
"Um dos principais artistas de sua geração, Carlos Vergara vem caracterizando sua produção mais recente por uma indagação muito particular sobre os limites do código pictórico, tendo como elemento propulsor não à circunscrição de seu fazer aos limites do atelier – com as ferramentas tradicionais do pintor – mas, pelo contrário, preferindo o embate direto com a natureza física e cultural do país de onde extrai seus registros, índices de sua existência real, distante do circuito institucionalizado da arte.
Um neoromântico de volta à natureza para descrevê-la e interpretá-la ao seus moldes, por exemplo, dois antigos pintores-viajantes? Felizmente não ou, pelo menos, não de todo. Embora romântico na essência, o movimento de Vergara rumo à natureza não visa interpretá-la mas sim deixar que ela se registre por si mesma, contando com artista apenas como uma espécie de “acesso”.
Sobre suporte prévia ou posteriormente trabalhado pelo artista, a natureza contamina o campo plástico através de índices de si mesma: fuligem, marcas de plantas, pegadas de animais... sinais de uma vida alheia à arte que, transportado para os espaços das galerias e museus, passam a interagir com o universo alto-centrado da busca da forma-pura, embora em nenhum momento deixem de sugerir suas origens mais remotas...
Estranhas na complexidade formal que as caracteriza, inquietantes em suas viagens e na configuração final que assumem quando trazidas para o campo institucional da arte, essas pinturas e monotipias de Carlos Vergara precisam ser vistas pelo público paulistano, que agora pode contemplá-las no espaço no Museu de Arte Moderna de São Paulo" — Museu de Arte Moderna de São Paulo.
CONVERSA ENTRE CARLOS VERGARA E LUIZ CAMILO OSORIO
1
Luiz Camilo Osorio: Ultimamente virou moda da tradição construtiva da arte brasileira, como se ela fosse responsável por qualquer ortodoxia poética que tive inibido a novidade e a invenção criativa. Ao invés de ver naquele momento, e nos seus desdobramentos posteriores, a realização de obras fundamentais para nossa história da arte, de um padrão de qualidade a ser seguido, atualizado e desenvolvido, tomam-no apenas segundo uma retórica formalista, que existiu, mas que é o que menos interessa. Como você, que veio de uma geração imediatamente posterior, que retomou a figuração – o grupo do Opinião 65 – mais que perseguiu um caminho próprio e corajoso na pintura nestes últimos 30 anos, percebe este passado recente e esta polêmica em torno da tradição construtiva? Mesmo que você não queira responder, acho importante começar com esta minha ressalva de que te colocaria, junto com a “Nova Figuração” de meados dos anos 60, vinculado à abertura experimental do neo-concretismo. E faço isto só para recusar certas “leituras” que cismam em desprezar o papel formador da nossa tradição construtiva. Dito isto, passemos para outros assuntos.
Li recentemente um texto do historiador Hubert Damish em que ele falava algo do tipo, ou a pintura mostra a sua necessidade no interior de nossa cultura contemporânea, ou considere-se historicamente superada, ou seja, não se trata apenas de pegar o pincel, as tintas e a tela, e pronto, há a pintura, mais de atualizar uma necessidade história dentro de uma cultura como a nossa, inflacionada de imagens. Como você, que é um pintor obstinado, vê está declaração? Desde a Bienal de 89 sua pintura tomou uma direção específica, lidando com pigmentos naturais, com procedimentos de impressão e impregnação que vão maturando na tela uma experiência pictórica que é, digamos, retirada do mundo e não inventada pelo pintor. Será que é isto mesmo, que é oferecido pela sua pintura é mais um deixar ver uma pele essencial do mundo do que o criar uma experiência pictural autônoma?
Carlos Vergara: Em 1989 meu trabalho não tomou sozinho uma nova direção, eu decidi dar nova direção por estar seguro que havia esgotado a série começada em 1980, onde abandono a figura e mergulho numa figura que tinha como procedimento uma “medição com cor” do espaço e da tela, dividindo com diagonais paralelas, formando uma grade. Havia chegado a exaustão; continuar seria me condenar a não ter mais a sensação de descoberta e tornar tudo burocrático. Só artesanato.
Em 1989 propus para mim, com desapego, me colocar num marco zero da pintura e olhar para fora e para dentro.
Fazer pintura significa aceitar o peso histórico de uma atividade que só não é anacrônica se contiver uma aventura, que supere a questão da imagem, que mexa com procedimento e tenha um projeto, mesmo assim a pintura de sempre que o suporte determina. Portanto é preciso “ler” o projeto e procedimento para saber se não é só mímica, historicamente superada.
Durante viagem, em 1995, quando “refizemos” parte da expedição Langsdorff, pelo interior do Brasil viajou conosco Michael Fahres, músico alemão que compunha com sons coletado da natureza, e ele havia gravado na costa da Espanha, cujas rochas tinham longuíssimas perfurações, onde as idas e vindas das ondas soavam como a respiração do planeta e era um som que tinha a idade do tempo e uma vertiginosa capacidade de te tocar em áreas obscuras, a não ser que fosses surdo do ouvido ou da alma.
Esse “Ready Made” natural deslocado e manipulado era e é pra mim pura música. Será que esse “deixar ver uma pelo essencial do mundo”, que você diz, e que é parte da minha pintura atual, não é uma experiência pictórica autônoma?
Do ponto de vista do planeta, da trajetória do planeta no universo, da idéia de tempo e tamanho desse universo, as questões da arte não têm importância. Já do ponto de vista do ser humano que vive neste planeta e neste universo, têm importância por ensinar a ver e imaginar e a imaginar e ver e capacitar a entender este planeta, sua trajetória no universo etc e etc.
A pintura quando deixa de ser enigma, catalizadora de áeras mais sutis do teu ser, deixa de ser necessária. Só é necessária uma arte que, por ser mobilizadora, justifique sua existência. É essa capacidade expressiva que lhe dá razão de ser.
Estou falando do ponto de vista do pintor. Para falar do ponto de vista do público deveríamos falar sobre as inúmeras formas de cegueira e insensibilidade.
LCO: Vergara, quanto à sua indagação se o “ready-made natural deslocado e manipulado”que é “pura música”não pode ser uma experiência pictórica autônoma, é claro que eu acho que sim, não obstante o fato de ele trazer para dentro desta experiência um resquício, do mundo, da referência, que é retrabalhada e resignificada. Portanto, é esta tenção entre ser algo que se sustente enquanto acontecimento pictórico e ser algo que te remeta simultaneamente para fora da pintura, o que mas me interessa nestes trabalhos. Desculpe trazer um dado pessoal para nossa discussão, mais parece-me pertinente. O meu pai, que não tem nenhuma proximidade com artes plásticas, viu uma pintura sua impregnada do chão e das cores ferruginosas de Minas e imediatamente interessou-se por ela. A sua alma itabirana, que é 90% ferro, foi tocada sem que nada fosse dito quanto ao procedimento ou à feitura do trabalho. Ele foi enviado para sua memória, o seu tempo, as suas cores, o seu mundo.
2
LCO: Mais de uma vez vi você falando de uma especificidade cultural, para usar um termo perigoso mas que não deve ser evitado, de uma brasilidade, relacionada à sua pintura. Sabendo-se que não se trata nem de uma nostalgia nacionalista, nem de uma apelação narrativa ligada às excentricidades do mercado, como esta questão aparece para você?
CV: No momento, essa questão de uma “brasilidade” no trabalho, eu vejo às vezes como inevitável. Não acho, porém, que seja importante.
Certa vez o saudoso Sergio Camargo falava de uma hipótese que ele levantava, se essas pequenas decorações geométricas dos frontões ou certas platibandas decoradas com argamassa nas casas de subúrbio e do interior, uma certa compulsão decorativa da arquitetura popular, não teria origem no sangue mouro misturado na Península Ibérica.
Aquela coisa geométrica do arabesco, talvez fosse uma atávica tendência construtiva nossa.
Se fosse andar por São Paulo, com o olho atento nos grafiti nas ruas, vai perceber diferenças gráficas bem claras em relação ao Rio; um “gótico” paulista com ângulos agudos e um “barroco” carioca de curvas e sinuosidades. O teu olho está empregnado da maneira e da luz do teu lugar e teu trabalho pode devolver isto, e se não filtrar o teu discurso dessa “cor local” em demasia pode até extrapolar e trabalhar contra. O que acho é que em certos momentos vem à superfície alguma coisa que poderia “localizar” o trabalho, e isso não pode tirar a força expressiva; ao contrário, fornecer um viés especial de uma questão universal. Kiefer é um exemplo, Serra outro.
Podem fazer parte dos mecanismos da experimentação, entre outras coisas, uma ritualização da repetição, uma palheta escolhida com critério, opções de escala específica, e essas seriam maneiras de passar uma informação subjacente que cria um campo especial para leitura do trabalho e isso pode ser exacerbado até ao uso de miçangas mais aí já é outra conversa...
Alguns artistas bem sei, filtram isso até o ponto onde o trabalho parece não ter origem e são coisas que me interessam muitíssimo, mas creio que outros não conseguem esconder a bandeira ou o esforço para escondê-la tornaria o trabalho por demais racional. Essa também é uma velha discussão.
LCO: Acho esse tema da identidade nacional dos mais instigantes e difíceis da arte no século XX. Sabemos muito bem o tipo de descaminho que a radicalização da questão nacional pode tomar; Por outro lado, recusá-la pura e simplesmente não me parece a resposta mais interessante para o desafio. Como tratá-la sem reducionismo, fazendo com que o mais próprio de uma cultura, de uma tradição cultural, possa integrar o outro, falar para além de si mesma, universalizar-se? Está é uma longa história desde o modernismo. Quem deu um tratamento dos mais geniais a isto foi o Guimarães Rosa; Em uma entrevista famosa com o critíco alemão, o Günter Lorenz, ele disse que a brasilidade é “die Sprache des Unaussprechlichen”, assim mesmo em alemão apesar da entrevista ter sido em português. Traduzindo do alemão teríamos algo como que a brasilidade é a expressão do inexpressível, ou linguagem do indizível, ou seja, algo que não se mostra diretamente, mas que está lá, que pulsa na obra. Porque será que ele usou a expressão em alemão? Logo ele, o gênio maior da língua?
Acho que esta pergunta deve ficar no ar, acreditando no fato de que seja lá o que for e como se expresse, a brasilidade não é nacionalista – em seguida ele mesmo diz que ela é um sentir-pensar. Fiquemos por ora com isso: um sentir-pensar.
Mudando para as artes plásticas, onde o tema fica ainda mais complicado, acho que discutir a brasilidade a partir de uma atávica tendência construtiva, que vem de nossa origem ibérica, mediterrânea, é um caminho interessante, sendo que não podemos esquecer, como você salientou, algo que vem do barroco e que tomou direções as mais variadas, chegando às vezes a confundir-se com mau gosto ou kitsch, o que é um absurdo. O Mario Pedrosa é que disse que fomos inventados pelo Barroco, que era a “vanguarda” no século XVI e por isso estávamos condenados ao moderno, a um olhar que não se volta para trás pois não existe nada lá, tudo está por fazer, a experimentação é nosso destino. É claro que toda essa especulação não resolve o problema dos modos de atualizar artisticamente esta questão. Isto vai acontecer sempre caso a caso, e independente do valor artístico.
Acho interessante esta sua afirmação da “ritualização da repetição”, afinal um rito sem mito instaura-se como ritmo, já disse o Argan a respeito do Pollock. E este ritmo não te parece similar a um sentir-pensar, que vai impregnar-se na visualidade, constituindo certas especificidades poéticas? Lembro sempre do Fabro escrevendo “entendo Shakespeare, posso até participar, mais não falo como Dante”. Acabei divagando mais do que queria, será que você pode falar mais sobre este tema, sobre a ritualização da repetição?
3
LCO: Gostaria de entrar na questão da técnica. Será que se você fizesse tudo no atelier, se não houvesse a impregnação do chão e dos fornos, o resultado da experiência pictórica seria a mesma? Não te parece que sem ser uma “documentação” ou “ilustração” de algo externo, este procedimento, que se entranha no trabalho, na pintura, cria uma certa tenção perceptiva que te faz ver o que não é pintura, ou seja, uma memória de mundo perdida e reencontrada?
Por falar em memória, como você vê e pensa a questão nestes trabalhos?
Você não acha que as tuas últimas pinturas, estas em que você entra com a Dolomita- que eu estou apanhando à beça- elas perdem uma certa temporalidade, são mais diretas, menos contemplativas? Será que dá pra se dizer que estes trabalhos conseguem ser pop e teatrais (dramáticos) simultaneamente?
Uma última questão relativa à técnica: depois de 10 anos trabalhando nas bocas de forno, quanto é acidente e quanto é intencional? O que te leva a entrar com cor no atelier depois de uma impregnação?
CV: Você me pergunta se fazendo tudo no atelier o resultado seria o mesmo: As monotipias feitas fora, seja nos fornos, em viagem ou com qualquer matriz, se estruturam no atelier. Quando são deslocados no contexto da impressão, recebem chassis, além das eventuais intervenções posteriores, com cor ou simplesmente como uma fixação mais rigorosa com resina, aí sim elas ganham corpo e densidade suficiente.
Não se esqueça que muitas das pinturas que você viu, não tem mais nem sinais da primeira impressão que deu origem ao trabalho. Em outros casos, a simples documentação de um momento de calor e fumaça são suficientemente eloquentes e justificam sua existência. Muitas vezes eu preciso entrar com uma cor ou outra ação, que tensione o trabalho e o faça funcionar.
Eu não tenho controle total das impregnações. Nem quero. É risco e chance. Uma escolha. Um acidente intencionalmente provocado.
Quanto ao tema da brasilidade, a mim interessa, como não interessa a outros, usar um idioma peculiar, que mesmo sendo, assim dizendo, erudito eu cuide do Brasil sem me ufanar – aliás porque não há tantos motivos. Nesse bem simbólico que é a pintura, quero que você se reconheça com bem ou mal estar. Esse meu prazer pessoal já disse, não acho de suma importância, nem mesmo formador de valor. Me preocupo mais com o que o discurso ultrapasse isso mantendo um sabor, uma temperatura, que mostre uma tradição sem que ela exista organizada.
Quanto à questão do tempo, há um tempo evocado pela construção da imagem, há um tempo que a própria pintura pede para poder ser lida, há um tempo físico que a secagem exige para cada ataque à tela. Há também um tempo de outra ordem, relativo ao momento da ação. Um tempo ligado ao gesto que só acontece intuído e com mensuração impossível.
A Dolomita me ajuda, nisso. É pó de mármore aplicado na tela com adesivo e é por si só um material expressivo e imediato.
Quantos aos trabalhos serem “pop” e teatrais, simultaneamente, eu não sei. Pop me enche o saco, mais acho que a Dolomita me dá um branco direto que apaga o que veio antes e que tem capilaridade para receber impregnação de outras cores e comente a própria criação do pintor e esculpe enquanto pinta e tem uma presença teatral que me intriga e talvez isso seja pop.
Cada tela é um cadinho de idéias de pintura e sobre pintura. Vou pensando sobre o que estou fazendo enquanto estou fazendo, e me coloco aberto para as contradições que surgem. Não tenho nenhuma tese para provar. Acho que daí vem às diferenças que existem entre as séries dos trabalhos que produzo. Não entro em pânico e até me agrada se o trabalho seguinte não se parecer com o anterior.
4
LCO: Tentando organizar um pouco mais nosso diálogo. De um modo geral, acho que nossas posições são coincidentes, quanto à questão do tempo, da brasilidade, da técnica, da autonomia do fenômeno pictórico. Neste último ponto, só tentei matizar um pouco a relação abstração/referencialidade através do procedimento das impregnações, que se dá fora do ateliê trazendo fisicamente o mundo para a tela. Não há, em função dos seus procedimentos, o tal “virar as costas para a natureza” do Mondrian, não é?
Você tem razão quanto ao fato da pintura ter de se sustentar por si só, por outro lado, acho que do mesmo modo que as colagens cubistas traziam um mundo real para o plano pictórico, criando certas tensões entre realidade e ficção, estes seus trabalhos criam passagens e isto, por mais escondido que fique, é interessante.
Não podemos ficar reticentes quanto a este tema da brasilidade pelo fato dele ser difícil e delicado. Temos que assumi-lo e pensá-lo, sem resolvê-lo, é claro. E demos alguns passos, por mais hesitantes para as diferentes tonalidades de nossas abordagens. A sua geração sofreu demais com esta questão do nacional-popular via CPC; já eu, com os meus parcos 36 anos, fiquei fora desta, para o bem ou para mal, depende da perspectiva. Por isto, o meu interesse é arqueológico e não ideológico; de pensar uma origem e um destino, e não de constituir ou “bandeiras” ideológicas – que já foram muito válidas, diga-se de passagem.
Nesta última resposta você menciona sua relação, a cada pincelada, com a história da pintura. Isto é bom e acho que a sua variedade poética tem a ver com isto. Naquele nosso último encontro em Macacú, no seu ateliê, fiquei surpreso, vendo tudo aquilo junto, com a quantidade de “acessos” e referências que seus trabalhos permitem. Tem momentos que sou transportado para Renascença – com umas diagonais do Uccello e alguns azuis venezianos – ou para momentos mais recentes. E nunca isto é feito para esgotar o trabalho mas para estabelecer diálogos. Nisto acho que tem algo do Frank Stella na sua poética. Eu também estou de saco cheio da pop, mas ela existe e ainda não foi suficientemente compreendida.
Por favor, não confunda estas considerações com nenhuma tese; artista ou critico com teses não dá muito certo, o que não quer dizer, muito pelo contrário, que não haja idéias, estas são sempre fundamentais, é o que move o pincel!
Você já acabou aquele trabalho “extraído” das ruas do Rio? Ele estava prometendo!
CV: Voltando à questão da repetição, o que eu quis dizer é que acho possível adensar o trabalho, adicionar mais sentido com a ritualização da repetição e não esvaziar de sentido se essa repetição for só mecânica. Da viagem à Índia que fiz, me lembro da forma de venerar Hanuman, uma deidade macaco importante personagem que ajudou Rhama a atravessar a floresta no épico Ramayana. As imagens representando um macaco são untadas com óleo e pigmento laranja a séculos, e já não tem mais forma, são só um impressionante acumulo alaranjado com dois olhinhos lá no fundo. Você só vê um monte alaranjado e sabe que lá dentro esta Hanuman. E esse alaranjado vai se espalhando entorno do lugar com as marcas das mãos que as pessoas deixam ao limpá-las da tinta que lhes sobrou.
A revisita que faço às Minas Gerais dos óxidos nestes 10 últimos anos posso dizer que tem sido um ritual que a cada vez renova o sentir-pensar.
Pode parecer um contracenso mas a repetição ajuda a refletir esvaziando de pensamento premeditado. Se trata de produzir uma coisa elaboradamente simples. Há uma diferença energética nisso.
No tempo em que a pintura era feita só por adição e escultura só por subtração, isso era mais fácil de se perceber
De 23 de agosto de 1999 a 4 de setembro de 1999
Fonte: Ateliê Carlos Vergara. Consultado pela última vez em 27 de fevereiro de 2023.
Crédito fotográfico: Wikipédia. Consultado pela última vez em 28 de fevereiro de 2023.